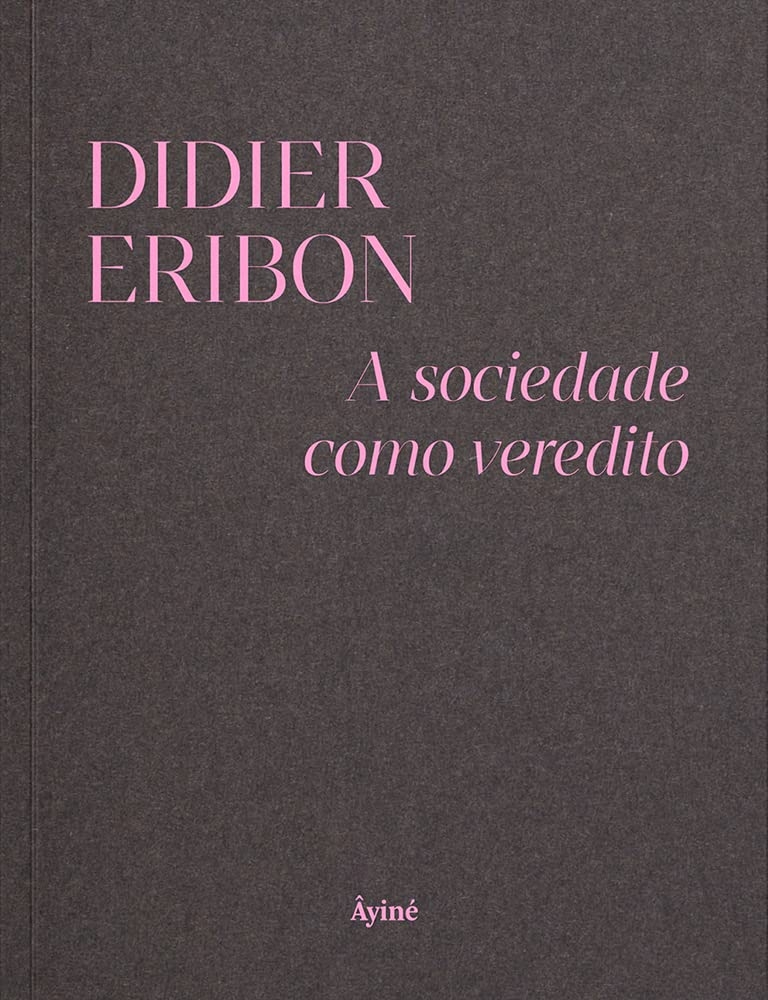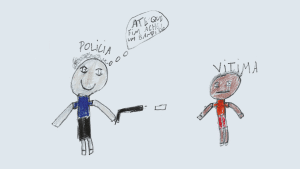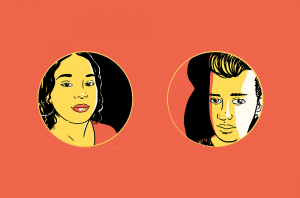Literatura,
O que é nosso
Parentes no ramo das autossociobiografias, José Henrique Bortoluci e Didier Eribon escrevem sobre suas origens e mobilidade social
19abr2023 | Edição #69O que é meu, livro de estreia de José Henrique Bortoluci que entrelaça a história de seu pai, caminhoneiro por cinco décadas, à construção da noção de Brasil calcada no ideal de progresso do desenvolvimentismo militar, se tornou um sucesso instantâneo.
No começo de abril, menos de um mês depois de ser lançado, o livro entrava em sua primeira reimpressão — as duas tiragens totalizando 9 mil exemplares — e o autor cumpria uma agitada agenda de eventos pelo país. Antes de sair no Brasil, conforme divulgou a editora, O que é meu já estava vendido para publicação “em dez idiomas por editoras de prestígio” — a editora Rita Mattar, da Fósforo, havia apostado no título antes mesmo que ele existisse, enviando um esboço traduzido para o inglês a casas editoriais estrangeiras.

O que é meu, livro de estreia de José Henrique Bortoluci, entrelaça a história de seu pai, caminhoneiro, à construção da noção de Brasil calcada no ideal de progresso do desenvolvimentismo militar
Enquanto seu pai cruzou o país carregando cargas pesadas por estradas inacabadas, Bortoluci foi mais longe. Primeiro, em olimpíadas escolares. Depois, fazendo faculdade e, por fim, doutorando-se em sociologia pela universidade de Michigan. Hoje, é professor na Fundação Getulio Vargas, em São Paulo. A história faz dele um clássico “trânsfuga de classe”, nome cunhado por Pierre Bourdieu e aplicado na sociologia àqueles que, vindo de um meio menos abastado, ascendem pela educação ou por um talento extraordinário.
É o caso também dos franceses Annie Ernaux, Didier Eribon e Édouard Louis. Todos publicados no Brasil, eles são representantes de uma vertente que, iniciada pela mais célebre do trio, Ernaux, ganhadora do Nobel em 2022, se convencionou chamar “autossociobiografia” — à diferença dos dois primeiros, o jovem Édouard Louis, autor de O fim de Eddy e História da violência (Tusquets), convoca para sua obra o estatuto de ficção.
Primos literários
Mais Lidas
Autores de livros sobre suas origens, os três franceses constituem, entre si, uma espécie de família, que teria em Bourdieu o patriarca. Da leitura das obras do sociólogo nasceu a fagulha para que Ernaux construísse sua obra. Primeiro, em registro ficcional, em romances de inspiração autobiográfica, escritos em horas roubadas ao seu emprego como professora. Depois, com O lugar (Fósforo), em 1983, ela passou a tecer o intricado engenho que une memória e história para falar da França ao rememorar sua própria vida.
Descendente dos dois, Eribon, filósofo e sociólogo como Bourdieu, de quem foi amigo e interlocutor, é autor de Retorno a Reims, editado no Brasil pela Âyiné — livro que, ao recuperar a trajetória de sua família depois da morte do pai, se aproxima tematicamente de O lugar, de Ernaux.
Por fim, temos o caçula, Édouard Louis, o primeiro dos três a sair em português — diga-se, por bem da clareza, com tradução da autora desta resenha, pelo selo Tusquets — com publicações vindouras pela Todavia. Diplomado ele também em sociologia, fez de Bourdieu objeto de estudo, vendo-se e sendo visto como uma espécie de filho intelectual de Eribon (de quem é amigo e discípulo) e Ernaux.
Nessa linhagem, Bortoluci é uma espécie de primo distante. Sua formação de sociólogo e sua origem na classe trabalhadora o inserem facilmente na árvore genealógica. Formalmente, porém, ele ocupa outro ramo.
A materialidade da memória familiar é um tema que desponta tanto em Bortoluci como em Eribon
Sua admiração por Ernaux não deve ser confundida com uma influência direta. Felizmente, ele não tenta repetir a dicção desapaixonada da Nobel — descrita de maneira geral e não necessariamente lisonjeira como plate, termo que pode se traduzir como chato, em seus dois sentidos, plano ou sem graça. O que Ernaux consegue, no cerzido invisível que faz entre pessoal e social, através da linguagem, é bastante único, e qualquer tentativa poderia cair no pastiche.
Tampouco se deve esperar de sua obra os traços mais claramente sociológicos da escrita de Eribon, que fazem com que seus livros sejam menos acessíveis que os dos outros autores do trio. Mais teórico e menos literário que Ernaux e Édouard Louis, Eribon dá, em A sociedade como veredito, também editado pela Âyiné, uma chave de leitura para a estreia de Bortoluci. Nesse livro complexo, Eribon repassa aspectos de sua vida e da de seus pais e avós, observando seu próprio desenvolvimento como intelectual e falando da descoberta de autores como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, sempre contra o pano de fundo da tensão entre as classes sociais.

Em A sociedade como veredito, Didier Eribon repassa aspectos de sua vida e da de seus pais e avós, observando seu próprio desenvolvimento como intelectual, contra o pano de fundo da tensão entre as classes sociais
É como se o romance de formação de Édoaurd Louis em O fim de Eddy, as considerações de Annie Ernaux ao revisitar a vida de seu pai em O lugar e os conceitos de Bourdieu se reunissem em um texto denso sobre o que é se tornar um filósofo, sociólogo e escritor homossexual vindo do meio operário do interior da França.
Ao mesmo tempo, Eribon extrapola a própria experiência e analisa a obra de outros autores que escreveram livros de fundo autobiográfico, de ficção ou não, que tratam de memórias familiares, de mobilidade social, de ascensão intelectual a partir de uma origem nas “classes populares” — termo que, como ele ressalta, se usa no plural para amenizar a violência da diferenciação que ele embute.
Entram na lista Annie Ernaux, à qual ele dedica a segunda parte do livro, Paul Nizan, autor de Antoine Bloyé, e Claude Simon, de As geórgicas; a argelina Assia Djebar, autora de L’amour, la fantasia [O amor, a fantasia]; e o britânico Richard Hoggart, de The Uses of Literacy: Aspects of Working-Class Life [Os usos da cultura: aspectos da vida da classe operária].
O conceito norteador da primeira parte de A sociedade como veredito é a “hontologia”, neologismo que une honte, vergonha, e ontologia — a seção inicial do livro se intitula, seguindo a mesma lógica, “Hontoanálise”.
A ideia de vergonha da origem proletária é explorada por Eribon a partir do episódio da escolha da capa da edição de bolso francesa de Retorno a Reims, quando a editora lhe repete o pedido feito anteriormente, e recusado, de usar fotos do autor.
Eu lhes respondia sistematicamente: ‘Não tenho nenhuma’. Era mentira. Minha mãe tinha me dado algumas, em um momento bem marcante, logo após a morte de meu pai. […] Enquanto os artigos elogiavam minha coragem… não pude evitar me sentir constrangido por essa mentira que me parecia uma enorme covardia. Significava que eu ainda tinha muita dificuldade em assumir minha história familiar. Eu me sentia capaz de falar sobre ela em um discurso elaborado, formal, mas simplesmente não estava nada disposto a mostrá-la.
Após ter replicado, na primeira ocasião, que o livro não era uma biografia, mas uma obra de reflexão teórica, e que uma foto sua na capa induziria o leitor ao erro, Eribon acaba cedendo ao argumento da editora de que a versão de bolso é para um público mais amplo. Ele compreende, ainda, que aceitar o pedido seria dar um passo a mais na sua “autossocioanálise”. Porém, ao fazê-lo, corta da fotografia, na qual aparece apoiado no capô do carro de segunda mão da família, a figura do pai.
Essa vergonha original está em cada página de O fim de Eddy — romance de formação que narra a infância e adolescência de Édouard Louis no vilarejo miserável da Picardia onde nasceu como Eddy Bellegueule. Seu nome oficial é apagado pela trajetória narrada para que surja o autor.
A vergonha é também o título do livro em que Ernaux aborda a tentativa de homicídio de sua mãe por seu pai e é o sentimento que se tornou, para ela, “um modo de vida” tão inscrito em seu corpo que já nem o nota.
No entanto, O que é meu, de Bortoluci, não se baseia na vergonha, embora a distância que se erige entre sua experiência familiar e sua vida atual não esteja ausente. “Nossa casa era pequena e abafada, construída aos poucos no fundo da casa dos meus avós”, escreve o autor, lembrando a infância em Jaú. “A cozinha sem forro alagava com qualquer chuva mais intensa.” Mas também o apartamento na região central de São Paulo onde hoje vive — com ar de “lar adulto de classe média”, móveis modernos, chão de taco e gato — é suscetível a alagamentos, como ele conta mais adiante. Os contrastes são assinalados, mas o autor não renega seu passado.
Desde o título, aliás, Bortoluci caminha em direção oposta, reivindicando seu pertencimento ao mundo que narra. Embora a frase seja do pai, doente de câncer — “O que é meu só eu posso enfrentar” —, o pronome possessivo pode ser compreendido como se fosse referente ao autor. Pois a experiência ali narrada é também, e principalmente, a dele. O relato da vida do pai só existe a partir da iniciativa do filho de reconstruir a memória dos anos de caminhoneiro, que tão poucos registros materiais deixaram.
A materialidade da memória familiar, ou sua escassez, é um tema que desponta tanto em Bortoluci como em Eribon. É compreensível que, em famílias de poucos recursos, num tempo pré-celular, fotos fossem raras, e portanto é também fácil entender por que as que existem se tornam tão cruciais para esses autores.
Se para Bortoluci essa escassez, de fotos ou documentos, é apenas constatada (“Não há quase nenhum registro escrito desses cinquenta anos de estrada — apenas dois cartões postais enviados à minha mãe e algumas notas fiscais amareladas na gaveta”), para Eribon ela é um dado de classe a mais a ser apontado, dentro de um quadro geral de penúria. A ausência de legado no seio da classe operária necessariamente se plasma na literatura que um filho dessa classe pode produzir.
Segundo Eribon, ao julgar a obra de um autor, temos de levar em conta o que ele desejou fazer
A Eribon não é dado saber grande coisa de seus avós e bisavós, diferentemente do que faria um escritor vindo da burguesia, como Claude Simon. Na seção intitulada “As condições da memória”, ele escreve:
Não posso ter a sensação de ouvir o som abafado das suas vozes, dos seus passos, das suas vidas nos lugares onde viveram ou nos documentos que deixaram para trás! Eles não tinham casas para deixar aos seus herdeiros, portanto não havia documentos a serem descobertos nas gavetas ou no fundo de um armário.
Ele relata sua frustração diante do conteúdo de um envelope do pai, que a mãe, já viúva, encontra numa mudança: orçamentos e faturas de funerais, o atestado de invalidez do avô, uma carteira de identidade da mãe. “Com isso, tive a confirmação: as famílias pobres, de trabalhadores, não dispõem de memória”.
Ao tecer considerações sobre as obras que aborda e comparações entre seus autores, Eribon toma o cuidado de afirmar que não o faz enquanto crítico literário e lembra que “corremos sempre o risco, quando insistimos na força sociológica ou política dos livros que se interessam pelos mundos dominados, de limitá-los a esse viés, restringindo com isso a sua dimensão e alcance literários”.
Ciente deste risco, vale a pena voltar o olhar para outras questões do livro de Bortoluci. E, estabelecido o contexto do filão em que se insere O que é meu, abordar o que lhe é específico.
Pilares brasileiros
O projeto de Bortoluci se arma sobre dois pilares. O primeiro é a rememoração da vida do caminhoneiro José Bortoluci, o Didi, seu pai, captada em entrevistas, dando conta, ao mesmo tempo, do aspecto pessoal e da odisseia do Brasil que ia se construindo sob a égide desenvolvimentista.
O pai aposentado da estrada narra em voz prosaica, na qual se misturam sobriedade, afeto e jocosidade, suas andanças passadas. Nesse âmbito, Didi aparece ora como um herói mitológico, cruzando o país em balsas onde não havia mais que água e atoleiros, ajudando a abrir caminhos na Amazônia e a construir aeroportos, ora como um pícaro popular, levando cargas em velocidades inimagináveis para cumprir prazos impossíveis.
A grandeza do personagem é aquela que damos a nossos pais quando ouvimos, crianças, os relatos de suas aventuras. Já a grandeza do país, o gigante a ser conquistado, na ideologia do regime militar nos anos 70 e 80, é posta em xeque pelos fatos atuais.
Nesses momentos, O que é meu flerta com certo tom panfletário, acusando a destruição da Amazônia e os desmandos do governo Bolsonaro, e as imagens e metáforas — que Bortoluci constrói tão bem ao coletar as memórias do pai e ao narrar suas próprias lembranças — se mostram mais débeis.
O segundo pilar do romance é a doença do pai. O velho herói não está apenas olhando para o passado sentado numa cadeira em sua casa. Com a descoberta de um câncer, ele passa a ter o corpo cortado por catéteres, cicatrizes, como os caminhos que ajudou a imprimir no país. O vocabulário a desvendar não é mais o das rodovias, mas o dos médicos. Palavras como “adenocarcinoma”, “colostomia” e “neoplasia maligna” invadem a realidade do autor e o seu texto.
“Questões de método e estilo, que tomaram muito do meu tempo no início deste projeto”, escreve Bortoluci, “viraram penduricalhos teóricos a partir do diagnóstico médico em dezembro de 2020”.
Os “penduricalhos teóricos” talvez sejam, é possível especular, questões como as que Eribon coloca. A urgência imposta pela ameaça da morte faz nascer um texto comovido e comovente. Embora não se esquive de buscar retratar o país que o pai viu nas prolongadas ausências, ele não deixa jamais que o contexto social anule os aspectos humanos.
Ao lado de Didi, também seus companheiros de estrada são retratados como pessoas, e não como tipos, sujeitos — lição aprendida de Ernaux, descendo até o mínimo, o íntimo, para falar do macro.
Por momentos, Bortoluci parece se prender em demasia a autores que leu, o que ocasiona um excesso de citações. É um movimento até certo ponto compreensível num autor estreante, antes de afirmar o que de fato importa e que talvez não se sentisse solto para dizer sem pedir vênia: “Meu patrimônio são as palavras do meu pai — as palavras daquelas histórias da minha infância e as que ouvi nestes últimos anos, enquanto ajudava a cuidar de seu corpo frágil”.
Cabe terminar com uma última reflexão de Eribon, ao dizer que os autores que “realmente importaram” em sua formação foram os que lhe transmitiram algo “justamente porque desejaram que suas abordagens se baseassem na preocupação com os outros” — “autores generosos”.
É por isso que para mim é muito importante insistir neste ponto: ao julgar a obra de um autor, quaisquer que sejam as críticas que consideremos necessário fazer, nunca podemos nos esquecer de levar em conta o que o autor desejou fazer no momento em que o fez. O que desejou dizer a todos aqueles para quem escreveu o que escreveu?
Depois dessa indagação, Eribon constata que as cartas que recebeu agradecendo por seus livros mostravam que ele também tinha se tornado “um autor generoso, cuja generosidade havia surtido efeito”.
Descontadas pequenas questões formais, que não maculam os objetivos de O que é meu, e a julgar pela sua acolhida, José Henrique Bortoluci parece estar no mesmo caminho.
Matéria publicada na edição impressa #69 em abril de 2023.
Porque você leu Literatura
De pai para filho
Com sua característica liberdade e fluidez na escrita, Alejandro Zambra se propõe a narrar o mundo que uma criança esquecerá
MAIO, 2024