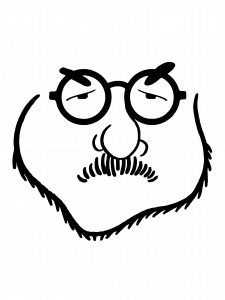Crítica Cultural, Literatura,
O contador de histórias
Morto na terça (30), Paul Auster (1947-2024) lembrou que literatura de qualidade não é incompatível com narrativas bem engendradas
01maio2024 • Atualizado em: 02ago2024Um mundo sem Paul Auster é um mundo mais pobre em histórias. Em 77 anos, ele as contou às dezenas, talvez centenas — e não apenas na ficção que o consagrou. Vidas imaginadas e bem reais, dele e dos outros, povoam romances e ensaios, poesia e memoir, panfleto político, biografia (de Stephen Crane) e roteiros para o cinema. Nos pós-modernosos anos 1980, A trilogia de Nova York lembrou a pelo menos uma geração de escritores e leitores que literatura de qualidade não é incompatível com narrativas bem engendradas. Às seguintes, fez a escrita parecer possível. Não é pouco.

*
A dor da morte anunciada não é menor do que a da morte súbita. É diferente. As notícias que desde 2023 chegavam pelo Instagram da escritora Siri Hustvedt, sua mulher, eram inequívocas: há alguns meses ela e seu companheiro há 43 anos viviam num estranho país, Cancerland. “Algumas pessoas sobrevivem, outras morrem. Isso todo mundo sabe”, anotou ela. “Mas viver perto desta verdade muda a realidade do cotidiano.”
Em Faca: reflexões sobre um atentado, Salman Rushdie observa essa proximidade da “indesejada das gentes”. Recuperando-se do ataque que lhe custou o olho direito, o escritor de 76 anos lembra o último encontro com Martin Amis, vítima de câncer no esôfago, aos 73, em maio do ano passado. No final de 2022, Hanif Kureishi, a quem Rushdie trata como “irmão literário mais novo” (ele é de 1954), desmaiou numa rua de Roma e, no impacto da queda, perdeu os movimentos de pernas e braços. Sobre Auster, registra, laconicamente: “Paul não obteve bons resultados em um exame de função pulmonar e desse modo não poderia realizar a cirurgia para remover as áreas infeccionadas do pulmão”.
*
Não consegui chegar ao fim de Baumgartner, novela que ficaria sendo a última publicada por Paul Auster, em novembro passado. É, como sempre, um primor de arquitetura literária, uma miniatura que nos leva à vida do personagem-título, um scholar viúvo há dez anos ruminando a morte súbita da mulher, tradutora e escritora. Abandonei o livro menos por suas eventuais imperfeições do que por sua insuspeita qualidade: a densidade com que reflete sobre perda e luto. Era o livro errado no momento errado.
Outras colunas de
Paulo Roberto Pires
Mais Lidas
Efeito contrário teve o Auster anterior, Bloodbath Nation. Publicado no início de 2023, é um livro de intervenção, ensaio combativo contra a proliferação de armas nos EUA, a nação do banho de sangue, do massacre, a que se refere o título. O texto é pontuado por fotografias de Spencer Ostrander, que documenta com uma distância perturbadora escolas, lojas, cafés e residências em que atiradores executaram dezenas de pessoas. Com a derrota ainda recente da extrema direita por aqui, foi o livro certo na hora certa.
Para refletir sobre o país armado, Auster mergulha na história e na política. Mas o ponto de partida é sua própria vida: em 1970, conversando com um vizinho de poltrona numa longa viagem de avião, ele descobre que sua avó paterna havia assassinado a tiros o marido. O segredo familiar sobre a morte do avô havia sido guardado por sete décadas. “Sempre que penso na bondade essencial do meu pai e no que ele poderia ter se tornado se tivesse crescido em circunstâncias diferentes”, escreve ele, “também penso na arma que matou meu avô — a mesma arma que arruinou a vida do meu pai”.
*
Nesse ensaio consigo ver marcas fortes de sua ficção. Antes de mais nada, o papel preponderante do acaso, que tudo desarranja e reorienta. E também da coincidência, que de uma forma irônica parece reorganizar o mundo. Os episódios biográficos, recorrentes, não são caprichos do ego e servem para conectar a experiência pessoal com a coletiva. A ênfase em Nova York, a amorosa obsessão pela cidade não é, tampouco, a expressão de um mundinho, mas a forma de refletir criticamente sobre os EUA. Um país que em Bloodbath Nation ele descreve como estruturalmente fundado na violência dos brancos contra indígenas e negros e, também, de brancos contra brancos, açodados pela desigualdade, a competição e a truculência turbinadas em tempos trumpistas.
Em A Life in Words, livro de entrevistas à crítica dinamarquesa I. B. Siegumfeldt, Auster diz, por exemplo, que foi a Nova York violenta de 1969 que inspiraria, de forma oblíqua, a distopia No país das últimas coisas (1987). Mas não é preciso metáfora para ver em Sunset Park (2010) os cidadãos lançados à própria sorte na crise dos mercados de 2008. Mais inquietante é, em Homem no escuro (2008), a superposição dos efeitos bem concretos da guerra do Iraque e do 11 de Setembro a um país conflagrado em imaginado conflito civil.
*
“O protagonista, quase sempre homem, frequentemente escritor ou intelectual, vive de forma monástica, ruminando uma perda — uma esposa que morreu ou de quem se divorciou, filhos mortos, um irmão desaparecido. Acidentes violentos perpassam as narrativas tanto para insistir na contingência da existência quanto para manter o leitor mobilizado. […] As narrativas se comportam como histórias realistas, exceto por uma leve falta de convicção e uma atmosfera geral de filme B.”
Este é o resumo, implacável, que James Wood faria da literatura de Auster ao resenhar Invisível (2009) na New Yorker. Na coluna de março, “Opiniões fortes”, lembrei como esse texto, aberto por uma paródia cruel do estilo de Auster, havia de alguma forma abalado minha admiração pelo escritor. O obituário do New York Times também a cita como exemplo de um momento em que a crítica apontou, não sem razão, uma certa repetição de motivos e esquemas narrativos em sua literatura, consequência quase inevitável num autor prolífico — no mesmo texto, Alex Williams contabiliza 34 livros publicados por Auster em diversos formatos, das protocolares primeiras edições em capa dura, de grandes editoras, a excentricidades como Why Write?, livreto que encontrei soterrado em minhas estantes. Foi publicado em 1996 por uma certa Burning Deck, editora de Providence.
*
Em setembro de 2018, fui assistir a Auster no Live From the NYPL, série de encontros com autores, artistas e intelectuais promovida pela Biblioteca Pública de Nova York. Ele dividia o palco com a romancista francesa Céline Curiol numa conversa mediada por Paul Holdengräber, um dos melhores entrevistadores de escritor que conheço. Não resisti a mandar uma pergunta por escrito, pedindo que ele falasse sobre a colaboração com Sophie Calle, que eu sabia atribulada.
Foi, no mínimo, divertido. Sério, entre suspiros expressivos, Auster contou como Calle transformou sua vida num inferno ao propor que o escritor determinasse tudo o que ela faria ao longo de um ano — o que seria, é claro, documentado como suas performances. O pedido, na verdade uma exigência, vinha em termos de reciprocidade: Auster usara a descrição de trabalhos de Calle, com autorização dela, para compor Maria Turner, personagem de Leviatã (1992). A colaboração, Gotham Handbook, quase terminou na cadeia: seguindo uma das “instruções” para melhorar a vida em Nova York, Sophie Calle adotou um telefone público e passou a viver em torno dele, o que infringe a lei. “Ainda somos amigos, mas não quero trabalhar nunca mais com ela”, respondeu ele entre risos da plateia.
*
Quando morre um escritor ou escritora com quem nos relacionamos para valer, primeira e essencialmente como leitores — sem mediação da crítica ou pretensões críticas —, a sensação bruta da perda se sobrepõe às hierarquias e liturgias da vida literária. Afinal, quantos anos passamos com eles ou elas? Quantas vezes seus livros foram providenciais para escapar do mundo ou, no movimento contrário, mergulhar mais fundo nele? Nas minhas contas, Auster está presente desde o início dos anos 1990. Já gostei demais, gostei menos, deixei de lado, voltei.
Na noite de 30 de abril, quando Auster morria em sua casa no Brooklyn, a polícia de Nova York invadiu o campus de Columbia e prendeu cerca de trezentos estudantes que o ocupavam em protesto pelo massacre perpetrado pela extrema direita israelense contra a população de Gaza. Em 1968, Auster estava lá, circulando entre os mesmos prédios, então ocupados num protesto contra outra guerra, a do Vietnã. Como os estudantes de hoje, era movido pela perspectiva de um mundo mais justo.
Em Diário de inverno (trad. Paulo Henriques Britto), escrito aos 64 anos, ele rememora o momento, comum a todos nós, em que parecemos invencíveis. Uma espécie de inocência que se vai aos poucos, pela vida. Quando, por exemplo, desaparece um escritor que possa definir com tamanha precisão esta perda:
“Você acha que nunca vai acontecer com você, que não pode acontecer com você, que você é a única pessoa no mundo com quem nenhuma dessas coisas jamais há de acontecer, e então, uma por uma, todas elas começam a acontecer com você, do mesmo modo como acontecem com todas as outras pessoas.”
Porque você leu Crítica Cultural | Literatura
O ruído do passado desvelado
À procura da alma de um país, Juan Gabriel Vásquez compõe retrato fascinante de como a política invade a vida privada dos colombianos
JULHO, 2025