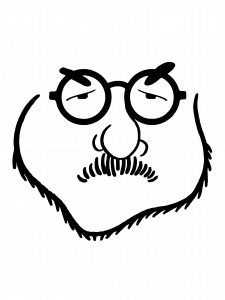Crítica Cultural,
A origem da vergonha
Nascido numa família operária, Didier Eribon parte de sua trajetória para analisar a despolitização de um mundo que se pretende livre das marcas sociais
27ago2020 | Edição #37 set.2020Para tornar-se o que é, Didier Eribon teve que sair duas vezes do armário. Na primeira, deixou a casa do pai e a província para, aos vinte anos, viver em paz sua homossexualidade. Na segunda, aos 55, decidiu expor o que ainda não ousara dizer seu nome: as origens operárias de sua família, que o envergonhavam e determinaram um rompimento radical com ela. Retorno a Reims (Âyiné) é o resultado perturbador desse outing social, ensaio duro e original, que desde seu lançamento, em 2009, vem ganhando importância e alcance em sucessivas reimpressões, adaptações para o teatro e, principalmente, traduções — numa trajetória improvável na edição de ciências sociais.
Eribon despontou nos competitivos meios intelectuais franceses como jornalista, coautor de livros baseados em longas e densas entrevistas com pensadores como Georges Dumézil, Ernest Gombrich e Claude Lévi-Strauss — da conversa com este resultou o excelente De perto e de longe (Cosac Naify). A biografia Michel Foucault, lançada em 1989, garantiu a ele, aos 36 anos, proeminência e prestígio. Dez anos mais tarde, iniciava com Reflexões sobre a questão gay uma obra teórica autoral, que se pode definir com perfeição nos termos que ele mesmo usa para sintetizar o legado do autor de História da sexualidade: “pensar o enfrentamento do sujeito com o poder da norma, refletir sobre as formas como se pode reinventar sua existência”.
É a notícia da morte do pai, com quem cortara relações havia anos — “Eu não o amava. Eu nunca o amara”, observa —, que está na origem de Retorno a Reims. Os 150 quilômetros que separam a cidade em que nasceu de Paris, onde se estabelecera, pareciam até então intransponíveis. Recusou-se a ir ao funeral, como se recusara a visitá-lo no asilo onde passou o final da vida, alheado pela demência — “Qual seria o sentido se ele não me reconheceria? Mas já fazia uma eternidade que não nos reconhecíamos”. Decidiu, no entanto, procurar a mãe e, a partir de longas conversas que possibilitaram uma reconciliação, recorre a fotografias, memórias da infância e juventude e referências teóricas para a elaboração de uma “antropologia da vergonha” — em que é analista e, também, objeto.
O pai operário e a mãe faxineira nunca foram apaixonados. Na França moralista do pós-guerra, o casamento lhes fora apenas conveniente. A criação dos quatro filhos homens combinou renúncia pessoal e carga sobre-humana de trabalho na tentativa de dar a eles uma vida melhor, mas não substancialmente diferente da que levavam. Apesar das dificuldades, eram conformados com o lugar que lhes cabia na sociedade e, se uma ideia de futuro era inseparável de conforto material, não contemplava qualquer mobilidade de classe. Pautados por valores conservadores, pouco ou nada convictos da importância dos estudos e do conhecimento, era inevitável que estranhassem no segundo filho a vontade explícita de levar uma outra vida, mesmo quando ele ainda estava longe de ter clareza sobre sua sexualidade e tampouco nem suspeitar que a ambição intelectual terminaria por separá-los.
Para o adolescente afetado pelos ventos libertários de 1968, a entrada no ensino médio coincidiu com a descoberta da política num grupo de esquerda. Foi na militância que o jovem trotskista constatou quão tênue era, pelo menos para ele, o fio que ligava o chão de fábrica às alturas da filosofia. “Meu marxismo de juventude constituía portanto para mim o vetor de uma desidentificação social: exaltar a ‘classe operária’ para melhor me afastar dos operários reais”, observa. “Eu me apaixonava pelo que Sartre escreveu sobre a classe operária; eu detestava a classe operária em que eu estava imerso, o ambiente operário que limitava meu horizonte.” Um episódio resume bem a complexidade do que se desenhava. Flagrado pelo pai mergulhado no Le Monde, foi duramente interpelado: “É um jornal de padre o que você está lendo”. Áspero como sempre, naquele momento o pai era também, ou sobretudo, o operário, que apontava, não tanto ao filho, mas ao candidato a intelectual, uma questão espinhosa e que iria além da família — “Ele era mais informado que eu!”, comenta Eribon.
Intruso
No liceu de Reims, o jovem ridicularizado em casa até pela forma de se expressar — “Você fala que nem um livro”, debochavam os irmãos — se deu conta de que tampouco estaria à vontade no mundo burguês, onde sempre seria “uma espécie de intruso”. Nas aulas de música, ouvindo os clássicos, a sala dividia-se entre os bem nascidos que “simulavam um devaneio inspirado” e os que “trocavam baixo gracejos idiotas ou não conseguiam se conter e falavam alto ou trocavam risadas”. Evitar estes e tentar se parecer ao máximo com aqueles seria um dos primeiros e fundamentais passos na trajetória do “desertor de classe”, que tinha uma orientação muito clara: “Resistir era me perder; me submeter era me salvar”.
Mais Lidas
Na vida dos mais abastados os privilégios são uma espécie de segunda natureza, inatos e inquestionáveis, como podia constatar pela proximidade de um colega, de quem se tornaria amigo e por quem julgara se apaixonar. “Os dominantes”, observa Eribon, “não percebem que estão inscritos em um mundo particular, situado (da mesma maneira que um branco não tem consciência de ser branco, um heterossexual de ser heterossexual).” No extremo oposto, a condição operária trazia em si a marca profunda do pertencimento de classe, traço que se pode tentar suavizar, como ele mesmo fez por boa parte da vida, mas que é impossível de ser apagado.
A condição operária traz a marca profunda do pertencimento de classe, traço que se pode tentar suavizar, mas que é impossível apagar
A memória profunda de classe se revela intacta quando, já formado professor, plenamente qualificado do ponto de vista intelectual, Eribon percebe que não conseguiria terminar o doutorado em Paris. Faltavam-lhe, de forma mais imediata, os meios para se manter, sendo impossível conciliar a carga de estudo com as madrugadas trabalhando como porteiro de hotel ou em uma empresa de computação. Faltava-lhe, é claro, uma rede de contatos, em geral herdada de famílias ou de amigos bem relacionados. Faltava-lhe ainda ter cursado uma das Escolas Normais Superiores, a “via da realeza” da vida universitária francesa. Eribon não dispunha, em suma, de capital social, aquele que confere valores diferentes a um mesmo diploma e, a rigor, sentidos muito diversos à vida profissional.
Quando a ideia de escrever sobre sua trajetória social ainda não havia se cristalizado, Eribon pôde perceber uma vez mais a persistência do vinco de classe no conforto de uma relação afetiva e íntima. Ao contar a um amigo que não iria aos funerais do pai, mas voltaria a Reims, ouve o conselho: “Sim, de qualquer maneira você vai precisar estar lá para a abertura do testamento com o notário”. Ao nem sequer supor que em famílias humildes não há bens a serem transmitidos, o amigo indica, com sinceridade brutal e involuntária, a diferença irreconciliável e convenientemente esquecida, como constata Eribon: “Convivendo nos meios burgueses ou simplesmente na burguesia média, somos frequentemente confrontados com a presunção de ser um deles”.
O exercício de “introspecção sociológica” de Eribon — expressão que ele mesmo gosta de usar — é também uma análise rigorosa do neoconservadorismo e de suas variadas manifestações. Ao voltar para casa, o “desertor de classe” constata que a família, historicamente ligada aos movimentos sociais, votou em massa no Front Nacional no primeiro momento de projeção de Le Pen. O racismo latente, o incômodo com os vizinhos imigrantes, a pauperização e o ressentimento se espelhavam em um programa de governo oportunista. Ao mesmo tempo, a esquerda abandonava a defesa e a linguagem dos governados para confundir-se com o ponto de vista e os interesses dos governantes. Não há mais explorados, mas “excluídos”, expressão neutra que, como lembra Eribon, traz uma “passividade intuída”. Sim, a família operária também esquecera — ou fora levada a esquecer — as circunstâncias históricas e a especificidade política de suas origens, com resultados desalentadores para sua própria vida.
Nascido do cruzamento de Annie Ernaux com Pierre Bourdieu, Retorno a Reims traz marcas pronunciadas da escritora e do sociólogo — destrinchadas pelo próprio Eribon em A sociedade do veredito, livro lançado em 2013. Da autora de Os anos, pouco traduzida no Brasil, Eribon perseguiu, como ele mesmo declara, o tom e o olhar de relatos sobre a “distância de classe” que se estabelece entre filhos e pais. De Bourdieu, de quem foi amigo por mais de vinte anos, plasmou algumas das ideias fundamentais de um livro como A distinção e, sobretudo, “a reconstrução grandiosa da ordem social como uma máquina de produzir desigualdade e a decodificação minuciosa e implacável dos efeitos da dominação social, que ao se inscreverem de forma perene nos cérebros, permitem que ela se perpetue”.
A dimensão política de Retorno a Reims é radical e inegociável. À medida que analisa seus anos de formação e suas heranças, Didier Eribon lembra que estamos todos, independentemente de nossa vontade, atravessados por estruturas sociais com as quais mais dia menos dia teremos que nos haver. Enfrentar essas estruturas — no dizer de Eribon, esses “vereditos” — é parte central de qualquer luta emancipatória. Na melhor das hipóteses, conseguimos nos tornar aquilo que de fato desejamos, aquilo pelo que lutamos. Mas é parte essencial desta luta a memória do que buscamos superar ou rejeitamos — já que ela nos constitui e, até por contraste, dá testemunho do tamanho de nossas ambições e do alcance de nossos projetos.
Nota do editor: O colunista escreve quinzenalmente na revista dos livros — os textos estão reunidos no site quatrocincoum.com.br.
Matéria publicada na edição impressa #37 set.2020 em julho de 2020.
Porque você leu Crítica Cultural
Elogio da sombra
Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil
JUNHO, 2025