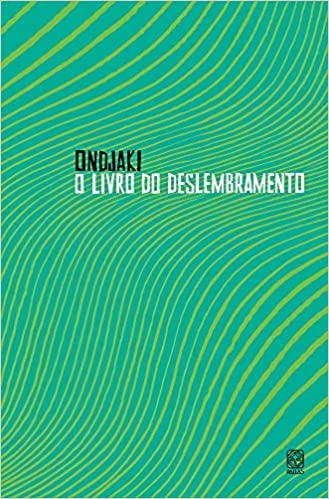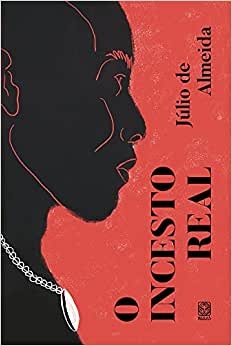Literatura,
A mão dupla da imaginação
Pai e filho, os angolanos Júlio de Almeida e Ondjaki entrevistam um ao outro
01out2022 | Edição #62Com lançamentos simultâneos no Brasil, os angolanos Ondjaki, 45, e Júlio de Almeida, 82, conversam sobre seus novos livros. Em O livro do deslembramento, o 25o de sua carreira, o filho revisita memórias da infância para criar narrativas autoficcionais entre momentos de paz em sua Luanda natal e o reacender da guerra civil. Já em O incesto real, seu segundo romance, o pai reconstrói a formação de Angola desde os tempos coloniais, passando pela luta pela independência — da qual participou — até os impasses atuais. A seguir, eles dividem suas impressões sobre história, memória e invenção.
***
O livro do deslembramento. Ondjaki.
Pallas Editora • 224 pp • R$ 68
Júlio de Almeida: Este Livro do deslembramento parece vir juntar-se ao conjunto de tuas obras de lembrar os tempos de infância e adolescência. São só memórias ou também é ficção? Ou “deslembrar” é isso mesmo?
Ondjaki: Cada vez me fica mais complicado separar a memória da ficção. Neste caso, “deslembrar” pode ser, sim, aceitar que a ficção também pode fazer parte daquilo que nos é útil lembrar. Sobretudo no caso da literatura: lembro (também) para criar, para escrever, para fazer de um pouco de vida um pouco de literatura. De resto, acredito que tenho o direito de lembrar um passado que melhor sirva ao meu presente.
Os personagens parecem reais e aparecem com seus próprios nomes. Poderá isso significar uma não autorizada intrusão na vida particular de cada um deles?
Alguns personagens aparecem sim com o nome real, mas isso funciona mais como uma homenagem, espero eu, do que uma intrusão não autorizada. Esses personagens (ou alguns deles) têm estórias que se cruzam com a história de Angola e com a minha história pessoal. A minha história pessoal também se cruza com a estória colectiva daqueles que são “da minha rua”. A minha rua são afectos. Assim, quando nomeio personagens “reais”, eu quero é abraçá-los, trazê-los para essa grande festa que é a literatura angolana. Mas não deixa de ser intrusão. Só que é intrusão carinhosa e literária. Assim espero.
Alguns dos personagens nesta obra foram figuras relevantes da literatura e da arte, como Abranches e Ndunduma, que eram visitas habituais na tua casa, na infância. Há ainda outros não deslembrados neste livro? Esse ambiente teve influência no teu caminho para a literatura?
Houve outros, sim, que são muito bem lembrados pela minha sensibilidade infanciosa, mas que não cabiam neste livro. Eu creio que todas as pessoas que fizeram parte do que foi a minha infância me influenciaram. Pela presença, pelas convicções, pelos cheiros, pelas estórias que me trouxeram e até pelo modo como as suas vidas me foram (e me vão) sugerindo novas estórias. É essa a importância de um certo distorcer da memória: há estórias escondidas em cada canto das nossas vidas. Ou como diria o mais-velho Guimarães [Rosa]: “Quando nada acontece há um milagre que não estamos vendo”. Às vezes, ao lembrar, vejo (invento?) pequenos milagres que ainda não tinham sido escritos.
O relator das estórias contidas neste livro é a criança que tu foste. As cores, os cheiros, os sons que enchem o universo dessa criança, o entrelaçar de pensamentos surpreendentes e as formas de os descrever permanecem e habitam também no restante de tuas obras?
Há um conjunto de quatro livros (Bom dia, camaradas; Os da minha rua; Avódezanove e Livro do deslembramento) que chamo de “estórias dos anos 80”. Creio que há um quase narrador-único nesses quatro relatos. Creio ser esse o foco, a tentativa de desenhar o meu “labirinto pessoal” dos anos 80, em Luanda, de um certo grupo de pessoas.
Creio que Luanda, sim, aparece (e muito) nos outros livros, mas não deste modo. O narrador criança, que me apareceu aquando da escrita de Bom dia, camaradas, é também uma homenagem aos escritores Manuel Rui [de Angola] e Luís Bernardo Honwana [de Moçambique]. Sinto-me bem quando é esse narrador-criança a falar, a trazer-me ideias. É um narrador que usa ferramentas sensoriais — cheiros, traços, cores, pequenos detalhes emocionais — para narrar e que me ajuda, no meu dia a dia, a compreender a importância dos laços afetivos no meu quotidiano. O amor e o respeito pelas crianças, esse narrador tem-me feito renovar esses votos. E isso, confesso, tem-me feito uma melhor pessoa.
Mais Lidas
O espaço temporal desta tua obra e de outras de semelhante cariz é a “época épica” da tentativa socialista de Angola, mas também dos tempos das guerras terríveis que assolaram o país. A guerra passa ao lado das tuas vivências da altura? Ou só não aparece enquanto opção literária?
Creio que a guerra, as suas consequências e feridas, os seus fantasmas e cicatrizes, são um fenómeno delicado que caracteriza grande parte da história de Angola. Como tal, penso que cada pessoa, cada cidadão em Angola se relaciona com as “memórias de guerra” de modo individual. Na minha literatura, a guerra aparece com alguma suavidade, talvez até como um reflexo do modo distante que as guerras estiveram na minha vida “verdadeira”.
‘Escrevemos melhor sobre aquilo que mais grita dentro de nós. Tenho andado a escrever a ficção que me ocorreu’ — Ondjaki
Abordo a guerra como abordo outros fenómenos dentro da minha literatura: quando ela se justifica do ponto de vista narrativo. Não fiz da guerra assunto ou temática, mas seria impossível escrever sobre Angola sem roçar essa ferida. Talvez no futuro — e já não falta muito — eu aborde a guerra numa outra perspectiva. Mas creio nisto: escrevemos melhor sobre aquilo que mais grita dentro de nós. E tenho andado, durante estes anos, a escrever a ficção que me ocorreu. A ver vamos, sobre o futuro da escrita. E que novas escritas me hão de visitar. Embora eu já tenha começado, também, a preparar-me para o silêncio.
***
O incesto real. Júlio de Almeida.
Pallas Editora • 152 pp • R$ 52
Ondjaki: O incesto real atravessa vários séculos e continentes. Como foi pensar estes quinhentos anos de história em uma estória única?
Júlio de Almeida: A ideia inicial era escrever um romance sobre o racismo: a história de um indivíduo que durante toda a sua vida primou por comportamentos sociais em função de sua “raça” e que descobre, já na terceira idade, que a sua “pureza” genética afinal tinha algumas “manchas coloridas”. Mas haverá ou houve maior racismo do que a escravatura? E a resposta a esta questão conduziu-me ao século 16 e a fazer a ponte entre esses tempos remotos e a actualidade. Com base em acontecimentos históricos comprovados, foi possível ficcionar personagens, respeitando os contextos de várias épocas, que se estenderam pelos quinhentos anos em que decorre a acção do livro.
‘Os atores políticos da época não tiveram a firmeza ideológica de continuar a tentativa socialista em Angola’ — Júlio de Almeida
O incesto real não se transformou em uma saga histórica, compreendendo maçudas páginas de uma dissertação académica, mas apresenta-se como um convite ao leitor para se inteirar do que foi essencial no processo histórico tratado no livro e dar-lhe a conhecer, de forma facilmente legível, como foi e vem sendo o passado que se vai construindo todos os dias. A arquitectura do romance é um pouco complexa ou, pelo menos, diversificada, com sucessivos personagens e um narrador que é ao mesmo tempo comentador em todo o decurso da obra. Carece, pois, de atenção à leitura.
Podes falar um pouco sobre o processo de pesquisa para a escrita do livro? Foi sistemático ou é o acúmulo de anos de investigação?
Há cerca de sessenta anos, encontrei em uma biblioteca alemã um livro intitulado Das alte Koenigsreich Kongo (O antigo reino do Congo), de Alexander Ihle. Fiquei maravilhado. Foi meu primeiro contacto com aquela civilização e com as questões decorrentes dos choques com a sociedade portuguesa da altura. E fui lendo o que fui encontrando sobre o assunto. No geral eram versões do “caçador”. Segundo o provérbio africano, no dia em que o leão tiver o seu historiador, a história será outra.
Até que tive conhecimento da “versão do leão”: as cartas escritas pelo rei do Congo, Mvemba a Nzinga, a três sucessivos reis de Portugal no século 16. Ali está plasmado o pensamento do rei quanto ao que vinha acontecendo no seu reino, no que se refere à escravatura, à pilhagem das suas riquezas naturais, à duplicidade de comportamentos dos agentes religiosos. Claro que o rei estava agradecido aos portugueses por terem facilitado a sua sucessão à chefia do reino. Mas era a sua versão. E fui acumulando alguns conhecimentos sobre aqueles tempos.
Com a decisão de escrever o romance, iniciei uma busca mais sistematizada não só sobre o reino do Congo, mas também sobre os reflexos da escravatura noutras partes do mundo, o que me levou à Jamaica, aos problemas raciais na América do Norte, ao contributo da escravatura sobre a sociedade portuguesa. A segunda metade do livro necessitou de menos investigação. É fundamentalmente fruto de memórias e lembranças, de estórias de vida de companheiros com quem lidei e de factos históricos que revisitei em releituras, mas que, no essencial, me eram conhecidos. E também me socorri de vivências pessoais, em especial dos tempos de meninice e adolescência.
Este livro aborda também uma complexa mistura de credos e de raças. Acreditas ser possível um mundo que abandonasse o conceito de raça?
Sendo optimista, diria que sim. Gradual e lentamente tem acontecido assim, embora ainda falte uma boa caminhada a percorrer. Sendo pessimista, diria como Einstein: “Só conheço dois infinitos: o Universo e a estupidez humana. E sobre o Universo tenho as minhas dúvidas”. O mundo está cada vez mais mestiço. É possível que a Europa (onde não gostam de fazer filhos!) dentro de poucas décadas já não tenha mais arianos ou caucasianos. Espero que as questões raciais não surjam revitalizadas entre os novos europeus.
O livro tem também personagens que lutaram pela liberdade de Angola, tal como tu. Como foi para ti lutar pela independência do teu país?
Eu tinha vinte anos em 1960. Convivia diariamente com muitos estudantes das então colónias na Casa dos Estudantes do Império, em Lisboa e Coimbra, e as leituras e conversas eram “como acabar com o tal Império”. Cuba tinha acabado de derrubar Batista. A concepção filosófica intelectualmente dominante naqueles tempos era o materialismo dialético. Em 1961 teve início a fase de luta armada em Angola. Face à intransigência da potência colonial em aceitar a transição das colónias para territórios independentes, não houve outra via.
Nós, muitos dos estudantes que ansiávamos pela autodeterminação dos nossos territórios, integrámos os movimentos independentistas das nossas respectivas colónias. Nessa altura, “descobri” que era branco. E a categoria de “angolano branco” só foi considerada e aceite em 1968 pelo então Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA). Até 1971 integrei a delegação do Movimento em Argel. Em finais de 1971 fui transferido para a Zâmbia, para uma das bases junto à fronteira, onde me encarreguei da chamada Secção Auto, responsável pela organização e manutenção dos transportes desde Dar-Es-Salaam até as bases junto da fronteira com a Zâmbia. Não houve qualquer problema de integração e, acho, foram os melhores anos de minha vida.
Hoje, homem maduro, como vês o país que surgiu dessa luta?
O país tornou-se uma república independente em 1975, no contexto da Guerra Fria de então, com guerras de agressão vindas do exterior, dos países vizinhos, e que se transformaram em guerra civil até o ano de 2002. Os primeiros quinze anos (até 1990) foram o tempo da tentativa socialista, dirigida unicamente pelo partido que proclamou a independência e que abraçou o marxismo-leninismo, defendendo-se das agressões militares externas e que não conseguiu realizar na sociedade as palavras de ordem que produzia, nem atingir as metas de organização e desenvolvimento a que se propusera. Nem o país possuía quadros técnicos e administrativos suficientes, nem os actores políticos da época tiveram a firmeza ideológica de continuar o sistema, e esses mesmos actores políticos abraçaram o multipartidarismo e o capitalismo e tentaram acabar com a guerra — o que não foi conseguido, tendo esta se prolongado até 2002.
Com a introdução do capitalismo, o que se verificou foi o assalto aos bens públicos, aos cofres do Estado, à constituição de um pequeníssimo grupo, que se deveria constituir em classe capitalista empreendedora, mas que, no essencial, eram apenas endinheirados rentistas. Como sempre, a acumulação de riqueza num lado traz consigo a falta da mesma nos outros lados. O resultado é um país que continua dependente do preço do petróleo em que a produção interna é baixa, a importação de bens de consumo é elevada, o desemprego apresenta indicadores muito acentuados, o sistema e o resultado do ensino e da educação são sofríveis, o sistema de saúde é deficitário e a taxa líquida de crescimento populacional é grande.
Um homem maduro (como me chamas) pensa que os jovens têm muito trabalho pela frente.
Matéria publicada na edição impressa #62 em julho de 2022.