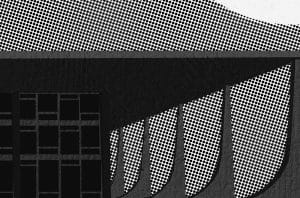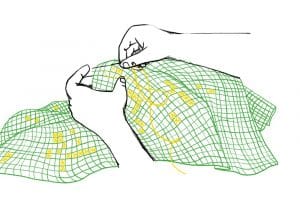Laut, Liberdade e Autoritarismo,
O governo dos mortos
Com foco no período da ditadura, livro de Fábio Luís Franco analisa a estratégia de desaparecimento de corpos na necropolítica do país
01jan2022 | Edição #53“[O] que causa maior pavor não é você matar a pessoa. É você fazer ela desaparecer. O destino fica incerto. […] quando você desaparece — isso é ensinamento estrangeiro — você causa um impacto muito mais violento no grupo.” Esse trecho faz parte do depoimento do tenente-coronel reformado Paulo Malhães à Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, em fevereiro de 2014. Meses depois, ele depôs na Comissão Nacional da Verdade (CNV) e deu detalhes de como funcionava a Casa da Morte em Petrópolis, centro de sevícias e homicídios durante a ditadura. A um jornal, ele assumiu ter participado do desaparecimento do cadáver do deputado federal Rubens Paiva. Agente do Centro de Informações do Exército, Malhães declarou à CNV: “Eu cumpri o meu dever. Não me arrependo”. Ele foi encontrado morto um mês depois do seu depoimento, com suspeitas de queima de arquivo.
Trechos como o depoimento desse torturador e assassino confesso compõem o livro de Fábio Luís Franco, que se vale da filosofia política, da história, da psicanálise e da antropologia forense para pensar o desaparecimento de corpos no Brasil como uma das técnicas perversas de o poder político se afirmar. Franco revisa instituições, pessoas, saberes e práticas e forja a noção de “dispositivo de necrogovernamentalidade”, que conjuga os conceitos de “necropolítica”, de Achille Mbembe, e de “governamentalidade”, de Michel Foucault. Seu argumento é que o governo dos vivos passa pelo governo dos mortos.
A obra concentra-se no regime militar brasileiro, mas não se restringe a ele. Finalizado durante a Covid-19, pandemia que reforçou as desigualdades no país, o livro de Franco produz uma sensação vertiginosa sobre nossos tempos: se a ditadura ficou no passado, parte de seu entulho permanece. Enquanto nela os mortos foram desrealizados, na atual gestão federal o que se desrealiza é a especificidade da morte, tornando-a uma fatalidade sem responsáveis. Ao afirmar que as mortes de Covid se devem à própria dinâmica da pandemia, o governo Bolsonaro quer se desresponsabilizar de sua desastrosa gestão sanitária.
Desaparecimento como verbo
Sabemos de Foucault que o corpo é vigiado, domesticado e administrado para reproduzir a lógica capitalista. Mas ele fala do corpo vivo. Na sua biopolítica os corpos não disciplinados e improdutivos são descartáveis. A morte não ocupa a posição central na relação do biopoder com os viventes: interessa como variável contábil, dado sobre mortalidade a fim de informar práticas para majorar a vida. O fazer morrer é um efeito do deixar viver.
Com Mbembe, Franco pode ir além de Foucault. Mbembe tensiona a ideia foucaultiana de biopolítica trazendo as periferias do capitalismo para o centro de sua reflexão. A experiência colonial com a gestão de corpos não brancos faz ver outras formas de o poder funcionar, as quais não se esgotam no fazer viver e deixar morrer. Essas formas, forjadas no governo de corpos racializados, são rotineiras nos países periféricos e Estados de exceção nos países centrais. Para o camaronês, a primeira ocupação colonial tratou de movimentos de conquista, domínio e exploração do espaço, a partir do qual novas relações sociais foram impostas.
Soberania, para Mbembe, “significa ocupação, e ocupação significa relegar o colonizado em uma terceira zona, entre o status de sujeito e objeto”. Na África do Sul do apartheid, o soberano se constituía, justificava sua violência e subjugava a população negra, reduzindo suas condições a uma sobrevida para controlá-la. Na Palestina, a “forma mais bem-sucedida de necropoder” contemporâneo, as tecnologias necropolíticas administram o sofrimento gradual dos corpos, submetendo-os as circunstâncias mortíferas rotineiras. Para Foucault, os mecanismos da biopolítica prolongam a vida para gerar riquezas e a morte é o fim; na necropolítica mbembiana, a morte é uma peça central na engrenagem da gestão até para que a vida seja controlada política e economicamente.
Para a ditadura, foi necessário governar também os cadáveres que produziu
Mais Lidas
Franco entende que a prática do desaparecer de dissidentes constitui uma racionalidade que fez o poder político da ditadura funcionar. Ao negar àquele que desapareceu uma lápide com seu nome, a subjugação foi além da morte, na medida em que o desaparecimento dificulta aos entes queridos o luto e se esconde da sociedade a justiça da resistência à opressão. Para a ditadura, foi necessário governar também os cadáveres que produziu.
A força do argumento de Franco está em mostrar que, em países periféricos como o Brasil, o desaparecimento denotou e continua denotando mais uma ação do que uma abstração. Se no dicionário o verbo desaparecer se apresenta originariamente na forma inacusativa, ou seja, como verbo intransitivo que não precisa de complemento, na história brasileira ele é transitivo, precisa de complemento para que seu significado seja total: desaparece-se o corpo. No léxico político daqui, a palavra corpo dá sentido próprio ao desaparecimento; estamos muito bem familiarizados com a operação política que produz a expressão “desaparecimento com o corpo”. No Brasil, certos corpos não desaparecem: desaparecem-se certos corpos.
Na ditadura, mas também antes e depois dela, os desaparecimentos não foram resultado de excessos inesperados. Franco mostra que há uma agência necessária para que a operação do desaparecimento funcione na necropolítica brasileira. Foram pensados, aprendidos e executados como parte do repertório de repressão. Os agentes da repressão aprenderam a operar esse dispositivo com base na experiência de seus congêneres franceses e estadunidenses. O desaparecimento burocrático de indesejados e indigentes já compunha o rol de opções da necropolítica brasileira, mas o dispositivo foi sofisticado a partir de modelos de guerra contrarrevolucionária em contextos como o Vietnã e a Argélia. Com a leva de ditaduras na América Latina, testou-se a lógica contrainsurrecional que traz o inimigo para o plano interno e que governa através do pavor.
Governar os mortos é um livro forte e necessário. Sua leitura incomoda, pois nele nosso passado ditatorial não ficou em outro tempo, superado e apartado dos nossos afetos e subjetividades. Os mortos sem lápides estão conosco; perduram, assim como a racionalidade que os criou.
Editoria especial em parceria com o Laut

O LAUT – Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo realiza desde 2020, em parceria com a Quatro Cinco Um, uma cobertura especial de livros sobre ameaças à democracia e aos direitos humanos.
Matéria publicada na edição impressa #53 em outubro de 2021.
Porque você leu Laut | Liberdade e Autoritarismo
Desradicalizar e democratizar
É preciso entender e enfrentar o crescente extremismo político no país para proteger a democracia brasileira
MAIO, 2024