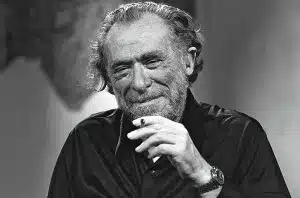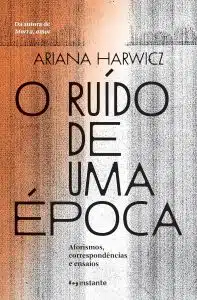

Crítica Literária,
A arte do dissenso e da ambiguidade
Em novo livro, Ariana Harwicz celebra a contradição e defende que não é possível escrever sem ofender alguém
16abr2024A presença da escritora argentina Ariana Harwicz na cena literária brasileira é um fenômeno digno de nota. Trata-se da aposta e insistência de uma pequena editora, Instante, que ao longo de quatro anos seguidos traduziu e publicou a obra completa de uma autora contemporânea: Morra, amor em 2019; A débil mental em 2020; Precoce em 2021; Degenerado em 2022.
Uma série de termos costumam aparecer nos comentários sobre os romances de Harwicz, tais como violência e desejo, inquietação e excentricidade, além de reflexões perturbadoras e efeitos desestabilizadores. Essas tentativas de definição ajudam, sem dúvida, a circunscrever um universo criativo — que se coloca sempre, abertamente, na fronteira entre o ético e estético —, uma área de atuação que se torna mais nítida depois da leitura de O ruído de uma época, breve livro de “aforismos, correspondências e ensaios” que acaba de sair no Brasil em tradução de Silvia Massimini Felix.
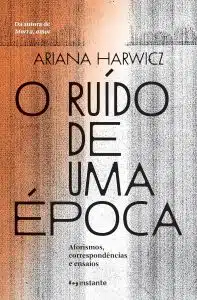
“Se este livro tem algum sentido”, escreve Harwicz logo no início, “é o de afirmar a necessidade do paradoxo. Não estou sendo nada original, o paradoxo é ir contra a opinião geral, contra a lógica, é celebrar a contradição”. A frase faz parte do esforço da autora de esclarecer seus propósitos: identificar e problematizar aquilo que, em nossa época, é ruído e aquilo que é música, ou seja, as manifestações artísticas que apenas repetem o consenso e aquelas que estão preocupadas com a construção de posturas dissidentes, desconfortáveis e questionadoras. Nossa época “lê mal” porque lê “a partir da identidade”, ela escreve: se a ambiguidade for eliminada num artista, ele será destruído.
Harwicz tem uma concepção da literatura como “extensão do domínio da luta”, para usar as palavras do escritor que ela cita, Michel Houellebecq. Ela defende a ideia de que não é possível escrever sem ofender alguém, e que qualquer tentativa nesse sentido só pode gerar textos fracos, textos que, na superfície, parecem lutar contra o “poder hegemônico”, mas que, estruturalmente, só corroboram seus métodos e discursos. “Montaigne é o melhor adversário de Pascal. Aron, o de Sartre. Escrever é uma controvérsia subterrânea”, escreve Harwicz, recorrendo a exemplos do passado para mostrar que essa não é uma questão meramente atual (no sentido dos modismos e das tendências).
A forma como O ruído de uma época está organizado espelha essa busca por uma literatura que escape do convencional e do consenso. O livro é dividido em três partes, “A escrita doutrinada”, “AK-AH (maio de 2021 – junho de 2023)” e “O escritor aparenta ser um moribundo”. A primeira seção apresenta aforismos e reflexões sucintas sobre o estado do literário na contemporaneidade, intercalando comentários sobre obras e autores (Viagem ao fim da noite, A cabeça de obsidiana, Ingeborg Bachmann, Peter Handke) com reflexões de uma voz narrativa que diz “eu” — e que imaginamos ser a própria autora: “Sempre fui obcecada pelo fato de existirem palavras. Essa correlação perturbadora entre viver e falar, escrever e ler”.
A segunda seção apresenta uma troca de mensagens entre Harwicz e Adan Kovacsics, escritor de origem chilena e tradutor para o espanhol de autores como Kafka, Karl Kraus e Elias Canetti. “São dias de angústia permanente”, escreve a autora para seu interlocutor, “estou lendo, mas não escrevendo, talvez seja daí que venha a falta de compensação, é muito simples às vezes, escrever é mirar, descarregar, atirar”. O diálogo oscila entre o relato dos dias e os comentários sobre literatura, música e política. Um vínculo é formado, “em tempo real”, não apenas através da identificação de referências compartilhadas, mas por meio de uma preocupação comum com as possibilidades da escrita — a ficção para Harwicz e a tradução para Kovacsics.
Mais Lidas
A terceira seção retoma a dicção da primeira, ampliando seu fôlego e seu alcance, apresentando uma mescla de manifesto e caderneta de anotações. “Hoje, as obras abrem o guarda-chuva e esclarecem que são inclusivas, que são pró-diversidade sexual, identitária, étnica”, escreve Harwicz, e continua: “O que era perturbador na arte nas décadas anteriores é que não se sabia que estava lendo um antimoralista, um libertário, um anarquista, um revolucionário, uma bissexual ou um antissistema até o ler”. A ênfase da autora não está na condenação de certas posições, mas na transformação desses marcadores de identidade em clichês e em estereótipos. A definição prévia de pertencimento leva a um enfraquecimento da atividade da leitura (e, por consequência, do pensamento crítico), até que ela se torna, por fim, desnecessária.
Para Harawicz, toda dicotomia é “armadilha” e “fraude intelectual”, especialmente no domínio da arte, cuja matéria-prima é o dissenso e a ambiguidade. A situação atual, contudo, não é promissora: de um lado, “os jovens deixaram de ser combatentes e adultos, de viver uma vida épica, para serem infantilizados em aplicativos”; de outro, “os artistas de hoje querem ser apreciados pelo mercado, pela sociedade”. A possibilidade de controvérsia criativa parece, portanto, estar sendo eliminada desde o nascedouro. A seguir, as respostas de Ariana Harwicz para algumas perguntas que fiz a ela, elaborações que não trazem receitas, mas agudizam as reflexões de O ruído de uma época.
Em seu livro, você menciona autores como Paul Celan e Imre Kertész. Como a leitura de obras do passado pode ajudar a “filtrar” o ruído de nossa própria época?
Acredito que a palavra filtrar seja uma boa palavra para falar de “ruídos de época”. É importante ler os livros do passado, entender as adorações e as genealogias de diferentes épocas, o aparato psíquico, o hardware, o programa mental e psíquico de outras épocas, para tentar entender as doxas e os fanatismos do nosso próprio tempo. Me parece ser a única opção, já que não temos o futuro, só o passado como um “espelho”. Os autores que cito no livro ajudam a dissipar a névoa do presente, pois me parece que a condição de ser contemporâneo é não conseguir ver além de uma curta distância. Os autores que cito foram faróis para a elaboração do livro.
O ruído de uma época é o diagnóstico de uma crise da leitura e da imaginação. Como chegamos a esse ponto e o que pode transformar esse panorama?
Sim, é o diagnóstico de uma crise, de uma doença com um prognóstico ruim, como se fosse um paciente em cuidado paliativo. A crise na leitura é a crise no pensamento, na escritura, na recepção e produção da arte. É indissociável: pensar, ler, escrever; os discursos se armam tanto na leitura quanto na escritura, é um processo único, são eixos que caminham juntos. É difícil que uma sociedade que produza arte crítica não vá produzir também uma crítica atuante.
A crise é geral, e acredito que seja geral porque se produzem obras para a manutenção das imagens dos escritores — cada escritor trabalha a partir de uma imagem, como um influencer nas redes, produzindo arte que corrobora essa imagem. Mas a arte deveria funcionar ao contrário: destruir, dinamitar aquilo que é esperado, aquilo que é consenso. Mas os artistas são dispositivos ideológicos para produzir discurso, por isso vejo que a arte, hoje, está numa armadilha, uma armadilha mortal.
Você argumenta que parte da literatura contemporânea é homogênea e repetitiva por medo do cancelamento. Onde encontra, hoje, obras que desafiam esse paradigma?
A repetição, as obras produzidas em série, nada disso é novidade, desde que há indústria e mercado é assim. Isso chegou ao paroxismo, ao clímax em nossa época não tanto pelo mercado que exige rapidez, mas sobretudo pelo temor dos autores: medo de um mercado que pede obras que rendam, que tenham êxito. Isso me parece o mais trágico: a condição passiva, a complacência dos artistas, que parecem dizer: “Me pedem isso e tudo bem”, são “mais papistas que o Papa”, como se diz em espanhol, “mais nazis que os nazis”, e fazem obras com uma forte condescendência — pela língua, pelos temas, sem perigos. Não sei dizer quem escapa disso.
Parte do livro são suas mensagens com Adan Kovacsics, o que mostra que a literatura é feita tanto na solidão quanto no diálogo. Você também transita entre a agitação da cidade e o isolamento do campo. Como as condições materiais afetam seu trabalho?
Creio que as condições para produzir estão irreversivelmente presentes no trabalho, marcando o destino da obra. As condições armam a obra. Por isso a existência de tantas obras únicas que foram criadas em tempos únicos: artistas exilados, artistas na guerra, em fuga. Todas essas marcas ficam na obra. Eu escrevo no campo, mas não sei a razão. Só posso escrever no campo. É como se pudesse escrever melhor fora do mundo do que dentro do mundo. Para mim, o campo é muito benéfico. Me permite armar uma língua que não está no centro: o silêncio me ajuda a escutar o ruído.