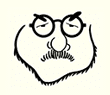
Paulo Roberto Pires
Crítica cultural
Svetlana vai à guerra
Em sua obra sobre a derrota soviética no Afeganistão, a escritora recusa o lado mais visível da violência para perscrutar sua ação insidiosa nas pessoas comuns
31mar2020 | Edição #32 abr.2020No final de junho de 2016, nove meses depois de ganhar o Nobel de literatura, Svetlana Aleksiévitch chegou a Paraty como se aterrissasse num outro mundo. Apesar dos olhos acesos e expressivos e do aperto de mão enérgico, não podia exercer, entre um compromisso e outro da Flip, seu principal atributo como escritora: a escuta minuciosa de interlocutores. A autora que se definiu como “mulher-ouvido” e, a partir de depoimentos que colhe com minúcia e lentidão, construiu uma das obras mais incisivas da literatura contemporânea, só fala russo e entende pouco ou quase nada de francês e alemão. Vive insulada em sua língua e, como costuma dizer, imersa na cultura russa.
No que pude depreender pela mediação de uma intérprete errática, Aleksiévitch não tinha restrições a perguntas que lhe seriam feitas, não queria fazer leitura pública de trechos de seus livros, tinha pouco entusiasmo pela gastronomia local e demonstrava um vivo interesse pela paisagem. Num dos poucos momentos de interação mais fluida, pouco antes da sessão em que a entrevistei diante de um público emocionado e em silêncio absoluto, espantava- -se com o fato de o Brasil não ter sua história pontuada por guerras. Lembrei de seu discurso de recepção do Nobel, que acabara de ler, evocando uma infância cercada por mulheres e suas histórias: ela é de 1948 e, naquela altura, boa parte dos homens havia morrido na Segunda Guerra ou em consequência dela. O método Aleksiévitch nascera na aldeia da Bielo-Rússia onde nasceram seus avós, baseado em sua atenção às vozes de testemunhas, sobretudo femininas, e no atravessamento das vidas banais, minúsculas, pela marcha grandiosa, estridente e violenta da história.
‘Odeio a senhora! Não preciso de sua verdade terrível. Não temos necessidade dela!’
Meninos de zinco (Companhia das Letras) completa a edição, no Brasil, de sua obra publicada até o momento. Foi lançado originalmente em 1991, seis anos depois de A guerra não tem rosto de mulher e As últimas testemunhas. Se estes, que marcaram sua estreia em livro, causaram furor por reavivar o trauma dos sobreviventes do conflito capitaneado por Stálin, o livro agora traduzido despertou diversas frentes de protestos — e até processos judiciais — por tocar em feridas então recentes e doloridas: a aventura soviética no Afeganistão. Segundo detalha uma das epígrafes, a guerra durou nove anos, um mês e quinze dias e, entre 1979 e 1989, mobilizou mais de meio milhão de soldados. Destes, mais de quinze mil ou não voltaram do front ou foram entregues a suas famílias nos caixões de zinco selados a que o título faz referência.
Se não alcança a contundência de Vozes de Tchernóbil ou o virtuosismo de O fim do homem soviético — lançados em russo em 1997 e 2013, respectivamente —, Meninos de zinco guarda uma peculiaridade essencial no conjunto dessa obra extraordinária. Pela primeira vez, Aleksiévitch não se restringe à algaravia de vozes e sai a campo, numa experiência registrada cruamente nas entradas de Svetlana vai à guerra Em sua obra sobre a derrota soviética no Afeganistão, a escritora recusa o lado mais visível da violência para perscrutar sua ação insidiosa nas pessoas comuns Paulo Roberto Pires Escritor e editor um “caderninho de anotações” em que narra sua passagem pela conflagrada Cabul. Mais do que dar voz aos testemunhos silenciados pelo Estado, pelo embrutecimento da sensibilidade ou pela história, Aleksiévitch relata o que vê em primeira mão, sem intermediários. O que traz consequências não desprezíveis sobre sua obra, suscitando uma reflexão fundamental sobre o que escrevera até então e o que viria a escrever.
A imoralidade de olhar
A vivência da guerra, extrema, mina a solidez do narrador profissional forjado no jornalismo. Não há mediadores entre a escritora e o menino afegão que, num hospital, brinca com um urso de pelúcia puxando-o com os dentes — ele perdera os dois braços. “Seus russos atiraram nele”, diz a mãe da criança, que quer saber se Aleksiévitch tem filhos, suas idades, seus nomes. Em outro momento, ela presencia um combate em que três soldados foram mortos e, no fim do dia, participa de um jantar em que não se faz qualquer alusão às vítimas, até então companheiros de trincheira. Certa manhã, ela cumprimenta um sentinela, de plantão no lugar em que se serve o café. Meia hora depois,o jovem está morto, atingido por estilhaços de uma mina. “Há algo imoral em observar a coragem e o risco dos outros”, anota.
Há pouca ou nenhuma novidade em se ressaltar a banalização da morte durante a guerra. Meninos de zinco leva, no entanto, essa questão ao extremo, até a dúvida da escritora sobre a confiabilidade de suas próprias palavras. Depois de saber das dificuldades de repatriar centenas de cadáveres de soldados, empilhados e recendendo a “javali estragado”, ela se pergunta: “Quem vai acreditar em mim se eu escrever sobre isso?”. Em busca da experiência mais direta possível, insiste em acompanhar a remoção de pedaços de cadáveres de soldados despedaçados por explosivos. Desmaia. A “madame” vira motivo de chacota dos militares. Era mesmo preciso ter presenciado isso, pergunta-se, para relatar o horror? “Estive pensando sobre a impossibilidade de escrever um livro sobre a guerra. Misturo pena, ódio, dor física, amizade…”
Outras colunas de
Paulo Roberto Pires
A experiência do Afeganistão modula a narrativa da escritora, que, em determinado momento, anota: “Se eu não tivesse lido Dostoiévski, estaria num desespero enorme…”. Diante do extremo, apagam-se as fronteiras entre literatura e documento. Ou, como ela observaria no discurso do Nobel, em 2015: “O conteúdo rompe a forma. Ele a quebra e modifica. Tudo extravasa das margens: a música, a pintura e, no documento, a palavra escapa aos limites do documento. Não há fronteiras entre o fato e a ficção, um transborda sobre o outro. Mesmo a testemunha não é imparcial. Ao narrar, o homem cria, luta com o tempo assim como o escultor com o mármore. Ele é um ator e um criador”.
Ao dar voz aos testemunhos, Aleksiévitch radicaliza o apagamento dessas fronteiras, recusando o lado mais visível e descritível da violência para perscrutar sua ação insidiosa, banal, em pessoas comuns. Um dos relatos mais desconcertantes é o da mãe de um soldado que, ao voltar do Afeganistão, assassina um homem e é condenado a quinze anos de prisão. Inconformada com a brutalização operada pela guerra, envergonhada pelo crime cruel do filho, ela diz preferir visitá-lo num cemitério. E, para dar a dimensão de seu sofrimento, relata: “Tenho inveja da mãe cujo filho voltou sem as duas pernas… Mesmo que ele a odeie quando bebe demais. Que odeie o mundo inteiro… Mesmo que ele se atire em cima dela como um animal. Ela paga prostitutas para ele, para que ele não enlouqueça… Ela mesma uma vez foi amante dele, porque ele subiu na varanda e queria se jogar do décimo andar. Eu concordaria com tudo”.
A crueza dos depoimentos está diretamente relacionada à forma de trabalho da escritora. Ela jamais faz uma entrevista tradicional, jamais se limita a uma única conversa. Em vários encontros, com respeito e paciência, vence as resistências dos entrevistados para chegar ao que está sempre além do óbvio. Em A guerra não tem rosto de mulher ela descreve o “instante decisivo” dessas conversas, o ponto em que se vai além do evidente, do óbvio: “Depois de certo tempo, nunca se sabe quando nem por quê, de repente chega aquele esperado momento em que a pessoa se afasta do cânone — feito de gesso e concreto armado, como nossos monumentos — e se volta para si. Para dentro de si. Começa a lembrar não da guerra, mas de sua juventude. […] É preciso capturar esse momento, não deixar passar!”.
Processos contra a verdade
Em Meninos de zinco essa sensibilidade teve um alto custo. Um oficial e a mãe de um soldado morto em combate decidiram processá-la por deturpar suas palavras. Num dossiê de reportagens sobre o caso e transcrições das audiências que finaliza o volume tem-se uma prova, perversa, do quanto Aleksiévitch é bem-sucedida em buscar uma narrativa que, por sua sutileza, desafia as versões do Estado. Nas páginas de seus livros, os próprios personagens se veem de uma perspectiva que, por ignorância ou dogma, jamais lhes passara pela cabeça. Não é outra a disposição da mãe que busca no tribunal uma reparação moral: “Está dizendo que eu devia odiar o Estado, o Partido… Mas tenho orgulho de meu filho! Ele morreu como um oficial militar. Todos os camaradas o amavam. Eu amo o país em que vivíamos — a União Soviética — porque meu filho morreu por ele. Mas odeio a senhora! Não preciso de sua verdade terrível. Não temos necessidade dela! Está escutando?!”.
Svetlana Aleksiévitch diz que os cinco livros que escreveu são, na verdade, um só, em suas palavras “um livro sobre a história de uma utopia”, a da república socialista. Do orgulhoso patriotismo, motor da Segunda Guerra Mundial, à depressão que acompanhou o fim da União Soviética, passando pela tragédia de manipulação de Tchernóbil e pelo Afeganistão, ela registra movimentos em geral desprezados pelas disciplinas estabelecidas. “Antes de se tornar história”, lembra ela sobre as vozes de seus personagens, “elas são a dor de alguém, o grito de alguém, o sacrifício ou o crime de alguém”. As pouco mais de duas mil páginas que escreveu até hoje dão substância e concretude ao que chama de uma “história da alma”.
Matéria publicada na edição impressa #32 abr.2020 em março de 2020.
Porque você leu Crítica Cultural | Crítica Literária
Trapezista no ar
Historiador explora o equilíbrio instável da montagem e remontagem do tempo na narração ficcional
MAIO, 2024







