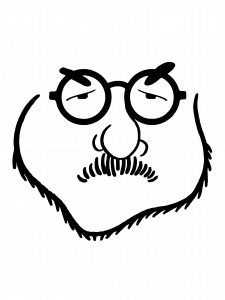Crítica Cultural,
A sofrência dos paniquetes
O pânico identitário, doença infantil do neoconservadorismo, desperta a indignação de gente fina, elegante e sincera
11abr2024 • Atualizado em: 01ago2024O pânico identitário, doença infantil do neoconservadorismo, tem desígnios curiosos. É previsível e pouco importante que reacionários-raiz façam um apocalipse de chanchada no que veem como exagerada valorização da expressão artística e política a partir de marcadores de raça e gênero. Mais espantoso, ainda que não surpreendente, é que gente fina, elegante e sincera, liberal nos costumes (e olhe lá), cada vez mais externe uma pomposa preocupação com os rumos da cultura e da política a partir de critérios de representatividade que reputam distorcidos, corrompidos. Pela estridência e indignação, esse arroubo reformista do debate público parece arrogante e ressentido. E quase sempre é isso mesmo.
Aos paniquetes chiques, que se posicionam num lugar imaginário acima de refregas políticas, é indiferente que hoje seja 2024: ele ou ela têm certeza de valores, imutáveis, que devem ser defendidos em nome do bem comum e do conforto próprio. Para ele — ia acrescentar o “ela”, mas em sua maioria trata-se de um “eles” mesmo — não existe, por exemplo, literatura com marcas de autoria negra ou de mulheres: apenas literatura “boa” ou “ruim”. Em seu entender, a militância antirracista é, obviamente, louvável — todos são gente fina, elegante e sincera —, ainda que promova “divisões”. Nunca por escrito, o paniquete chique adora repetir o muxoxo: “O mundo está muito chato”.
Na biblioteca básica do paniquete não pode faltar A esquerda não é woke (Âyiné), panfleto de Susan Neiman e, ainda no original, The Identity Trap, de Yascha Mounk, o genro com que todo liberal sonhou. Uma e outro praticam o que se poderia chamar de crítica anedótica: no lugar de discutir conceitos, defendem suas teses de restauração do universalismo enfileirando histórias, que consideram exemplares, de injustiças e descalabros resultantes de ações afirmativas.
Os episódios são variados, a lógica é uma só: ao afirmar critérios de pertencimento racial ou de gênero no debate público, os “identitários” — ou, em português castiço, wokes — estariam lesando os princípios do que nos seria comum em benefício de um sectarismo autoritário e antidemocrático. O tal “tribalismo” a que se refere Neiman deve ser combatido a golpes de platitude apaziguadora. Numa entrevista ao Financial Times, que a autora preza a ponto de reproduzir em seu site, lê-se a pérola da desmobilização: “Detesto os termos ‘pró-Israel’ e ‘pró-Palestina’. Eu sou pró-paz”. É como o humanista sabichão que tem horror ao Black Lives Matter porque “todas as vidas importam”.
Mais Lidas
É por essa e outras que Ficção americana, o filme de Cord Jefferson, tem sido uma plataforma recorrente das imprecações dos paniquetes chiques. Lido com ironia fina e sarcasmo por Juliana Borges aqui na Quatro Cinco Um, o filme disponível no Prime também se presta — e como — a uma crítica que privilegia a anedota sobre a complexidade. Vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado, tem como base Erasure, de Percival Everett, romance (a ser lançado pela Todavia) do qual desidrata os detalhes para obter o sumo que, por aqui, tem refrescado o coro dos descontentes: no mundo reconfigurado pelas ações afirmativas, má fé é mato. O filme é, por sua configuração, um argumento crítico que o paniquete costuma brandir como irrefutável para a pertinência de suas imprecações: o protagonista da história, o escritor que a criou, diretor e elenco são negros. Bingo.
Maltratado e indignado
Professor e romancista conceituado, filho de uma família de médicos de classe média alta, Thelonious (como Monk, o pianista) Ellison (como Ralph, o escritor), o protagonista de Ficção americana, está na pior. Quando o conhecemos, seu mais recente livro foi recusado por não ser “negro” o suficiente para um mercado que prefere dramas das quebradas à reescrita de uma tragédia grega. Afastado da universidade num episódio caricato protagonizado por canceladores malvadões, nosso personagem se vê num turbilhão. A irmã morre subitamente, o Alzheimer devora a mãe e o irmão reavalia de forma radical suas relações com o mundo depois de sair do armário.
Maltratado pela terrível vida boa, importunado em seu privilégio múltiplo, que julgava inexpugnável, Monk, o indignado, decide fazer justiça com impostura. Para denunciar a mediocridade do mercado editorial, escreve sob pseudônimo um pastiche da ficção que se espera de um autor negro best-seller. Para sua eterna infelicidade, o original, batizado como Fuck numa provocação infantil, é vendido para um grande grupo editorial por milhões de dólares, adaptado para o cinema, premiado. Purgando a sofrência bem remunerada, tão comum entre os paniquetes chiques, o paladino da literatura sofisticada contempla a falência dos mais altos valores neste mundo degradado pela lógica da representatividade, transformada em pura mercadoria.
Não custa lembrar que Erasure, o romance, foi publicado em 2001, muito antes dos embates que, segundo os paniquetes, estão destruindo a estética universal. No livro de Percival Everett, que não havia lido mas que fui fuçar agora, de pura curiosidade, as equações são mais intricadas. O leitor fica sabendo que Monk também escreve como um pastiche — só que empilha clichês desconstrucionistas e experimentalismos tão caricatos quanto as narrativas estereotipadas da “experiência negra” que pretende criticar. Sua carreira vitoriosa é, portanto, resultado de outro tipo de produto da indústria editorial — uma ficção pretensiosa milimetricamente pensada para ganhar prêmios e gerar artigos acadêmicos — e não necessariamente de literatura “de qualidade”.
Outro detalhe chama a atenção: no filme, a irmã de Monk morre subitamente; no livro, é assassinada por ativistas antiaborto. Percival Everett, decididamente, não é para principiantes — ou para panfletários.
Para ampliar o contexto — a vítima real do pânico identitário — vale lembrar que o establishment literário sempre foi branco
Para ampliar o contexto — que costuma ser a primeira e única vítima real do pânico identitário — nunca é demais lembrar o óbvio, que desde sempre o establishment literário é branco. E, como parte da “indústria cultural”, essa expressão tão em desuso e tão vigente quanto “luta de classe”, os grandes grupos editoriais desde sempre encheram a burra barateando a originalidade de autores, gêneros e temas — de dragões e alpinistas a templários e amigas geniais.
A sátira de Ficção americana é atenuada por tonalidades dramáticas que não costumam combinar com a crueldade própria do gênero. Daí a brecha para os paniquetes, que não perdem um chance de criticar as narrativas-clichê da “experiência negra” e se fazem de mortos para os clichês de branquitude que escorrem das prateleiras das livrarias. Na crítica literária que se quer séria, o rigor é ainda mais seletivo: é preciso extensa pesquisa para localizar resenhas em que escritores brancos são desvalorizados por não estarem à altura de, digamos, J.M. Coetzee. Basta no entanto uma googlada preguiçosa para topar com comentários apontando deficiências de escritor ou escritora negra quando comparados a uma Toni Morrison.
A leitura paniquete de Ficção americana é especialmente patética se aplicada ao Brasil, que replicaria a moda de publicar determinado autor ou autora por sua marca identitária. O histórico do país é eloquente: Carolina Maria de Jesus teve a duvidosa glória do reconhecimento póstumo, tendo sido privada, em seu tempo, do status de escritora. A Geovani Martins os prêmios recusaram o reconhecimento de Via Ápia, melhor romance publicado em 2022 e, de longe, o melhor romance brasileiro em muitos anos. Jeferson Tenório foi justamente premiado por O avesso da pele, mas o operoso Brasil-bueiro dispensou a ele a barbárie da censura e da perseguição.
Vida boa, a deles.
Peraí. Esquecemos de perguntar o seu nome.
Crie a sua conta gratuita na Quatro Cinco Um ou faça log-in para continuar a ler este e outros textos.
Ou então assine, ganhe acesso integral ao site e ao Clube de Benefícios 451 e contribua com o jornalismo de livros independente e sem fins lucrativos.
Porque você leu Crítica Cultural
Elogio da sombra
Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil
JUNHO, 2025