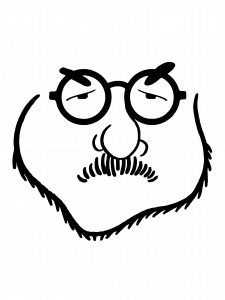Crítica Cultural,
Sob o signo de Sontag
Benjamin Moser sugere que tudo o que ela escrevia era uma versão disfarçada de suas ideias e de sua vida
01nov2019 | Edição #28 nov.2019Nunca houve uma mulher como Susan. Sedutora, brilhante, submissa, arrogante, autocentrada, agressiva, mercurial, engajada: uma fieira de adjetivos, muitos contraditórios entre si, vários pouco lisonjeiros, pode ser puxada das setecentas páginas de Sontag: vida e obra. Benjamin Moser, o biógrafo, não economiza juízos ao narrar a trajetória de quem sempre os usou sem parcimônia e celebrizou-se pela disposição e pelo virtuosismo em esgrimi-los. Entre os anos 1960 e o início dos 2000 foi impossível não notar Susan Sontag, difícil resistir a ela — e, para os que a conheceram, quase impossível gostar dela.
Em 2009, quando Benjamin Moser se ocupou de Clarice Lispector, a obra da escritora era território pouco explorado fora do Brasil — o que explica a unanimidade no exterior em torno de Clarice, uma biografia, e as infindáveis controvérsias por aqui, onde muito já se havia caminhado nos estudos sobre a autora. Susan Sontag é, por sua vez, terreno minado em escala global: há “donos” de sua obra em toda parte, e Moser os enfrenta com desassombro. Desde setembro, quando a biografia foi lançada nos EUA e na Inglaterra, muitas das resenhas, irritadas com a falta de reverência do biógrafo, mostram que pelo menos a princípio ele fez a coisa certa.
Biografia ensaística
É comum dizer de uma boa biografia que se lê “como um romance” — o que pode apontar para uma vida rocambolesca, simplesmente bem contada ou ambos. Sontag: vida e obra lê-se como um ensaio que, com exceção da brevidade, incorpora muito do gênero cultivado por sua protagonista. Estão lá as idiossincrasias do biógrafo-ensaísta, o desenvolvimento de hipóteses ousadas, o esmero de uma escrita clara e direta, a versatilidade narrativa que costura referências das mais diversas origens. É também ensaístico o forte sentido de autoria: esta Susan Sontag é irrevogavelmente a Susan Sontag de Benjamin Moser, sem pretexto para discussões sobre a quimérica imparcialidade de uma biografia ou seu caráter “definitivo”.
Para Moser, entender o sentido da vida e da obra de Sontag é entender como sua trajetória se definiu por uma “fricção sísmica” entre corpo e mente — estando o aperfeiçoamento desta, especialmente dotada, dissociado do cultivo daquele. Essa cisão daria pistas sobre o temperamento difícil da menina que desde cedo se refugiou nos livros e só conheceu o orgasmo, com uma mulher, aos 25 anos. A divisão também teria interferido em sua obra e percurso de intelectual pública, sobretudo na firme recusa de declarar publicamente sua homossexualidade, mesmo em momentos em que tal atitude seria decisiva — quando, por exemplo, a aids era discutida publicamente como um estigma gay.
Moser afirma que ‘Freud — The mind of a moralist’, livro de estreia de seu marido, teria sido escrito por Sontag
O prodígio intelectual de Sontag é, na versão de Moser, o lado afirmativo de variados desastres emocionais, a começar pelo relacionamento difícil com a mãe, alcoólatra e pouco à vontade com afetos em geral. Na idade adulta, o acidente inaugural é o casamento, aos dezessete anos, com Philip Rieff, seu professor na Universidade de Chicago. Da união tempestuosa ela herdaria seu único filho, David, e em nome dessa relação teria renunciado à sua primeira autoria. Moser afirma que Freud — The mind of a moralist, elogiado livro de estreia de Rieff, um sociólogo de formação, teria sido escrito por sua jovem esposa, a princípio assistente de pesquisa e logo uma ghost-writer que passava dez horas por dia em cima dos originais.
A acusação é grave, e Moser a sustenta confrontando trechos de cartas, episódios que lhe foram narrados e até impressões de seus entrevistados. Sua convicção é tamanha que The mind of a moralist é citado e analisado como parte da obra de Sontag. Nesse e em tantos outros pontos cruciais o biógrafo se serve do extraordinário acervo a que teve acesso, os chamados “Sontag Papers” vendidos por ela mesma à Universidade da Califórnia em 2002, dois anos antes de morrer. A cereja desse bolo são os diários, mais de uma centena de cadernos que ela mesma encarregou o filho de editar — dos quais já saíram dois volumes e um terceiro é prometido. Moser percorreu ainda milhares de e-mails, o que lhe permite reconstituir determinados episódios com impressionante riqueza de detalhes.
Mais Lidas
Numa biografia, costuma ser explosiva a combinação de arquivos caudalosos com entrevistados indiscretos — e algumas tentações que surgem daí são difíceis de superar. Seria insensato ignorar, por exemplo, um documento íntimo como “O progresso da bi”, título que a própria Sontag deu a uma lista em que registrou experiências com meninas e meninos entre seus quatorze e os dezesseis anos — ao todo foram 36 parceiros, um deles identificado, nas palavras de Moser, como “a alarmante ‘Vovó’”. Ficamos sabendo ainda que Sontag passou uma noite com Robert Kennedy, algumas esporádicas com seu editor e protetor Roger Strauss e que tinha problemas com higiene pessoal, estes detalhados em quatro parágrafos dispensáveis.
Relacionamento abusivo
A indiscrição preside ainda o relato de seu relacionamento abusivo com Annie Leibovitz, em que ela, Sontag, era a implacável abusadora. Humilhar em público a namorada que ela negava ser namorada era rotina que amigos aprenderam a evitar. Assim como tratar por “estúpida”, aos berros, a mulher que dedicou a ela o intangível de um relacionamento amoroso e, no mínimo, palpáveis 8 milhões de dólares — conta em que se inclui um luxuoso apartamento em Paris e um transplante de medula na derradeira tentativa de salvá-la do câncer.
Moser é hábil justamente em relacionar as narrativas da vida com as da obra, fazendo com que umas e outras se iluminem. Ainda que considere “uma platitude” afirmar que o ensaísmo de Sontag é superior à sua obra ficcional — num dos raros momentos em que “defende”, ao meu ver sem razão, sua biografada —, é nos domínios da não ficção que consegue mergulhar mais fundo. Se é fácil ver em A doença como metáfora (1978) o acerto de contas de Sontag com o primeiro enfrentamento com o câncer, menos óbvia e provocadora é a leitura que cruza biografia e ensaios como “Contra a interpretação” e “Notas sobre o camp”. Este último, publicado pela Partisan Review em 1964, garantiria à jovem Sontag lugar de destaque entre os chamados “intelectuais nova-iorquinos”.
É na tensa fronteira entre a especulação e o factual que Sontag: vida e obra tem seus melhores momentos e também seus pontos mais discutíveis. Moser propõe que, assim como E. M. Cioran, Sontag fazia de tudo o que escrevia uma versão disfarçada de suas próprias ideias e vida — hipótese que se pode fazer valer para virtualmente qualquer autor. “Ambos”, escreve Moser, não sem generalidade, “desejavam escapar de origens marginais com um apelo à universalidade. Ambos se tornaram aforistas que aspiravam a um ideal de espírito do século 18. Ambos, quando jovens, eram loucamente ambiciosos. Ambos eram insones; e ambos produziram obras que eram tanto mais autobiográficas por serem tão disfarçadas”.
A militância política de Sontag é avaliada severamente e pode ser balizada por duas viagens, a que fez ao Vietnã do Norte em 1968 e, em 1993, nas temporadas que passou em Sarajevo. Da primeira, o relato mais eloquente é “Viagem para Hanói”, que saiu na Esquire e depois foi recolhido em A vontade radical (1969). Já a passagem pela guerra civil das ex-repúblicas iugoslavas foi marcada pela montagem de Esperando Godot, que dirigiu nos escombros da capital da Bósnia e relatou numa narrativa publicada na New York Review of Books e incluída em Questão de ênfase (2001).
A autora do vigoroso ‘Sob o signo de Saturno’ pode ter ganhado em equilíbrio, mas perdeu em contundência
Para o biógrafo a Sontag dos anos 1960, que discutia a radicalidade nas artes e também na vida, foi engabelada pela propaganda vietnamita e, apesar de engajar-se num pacifismo “correto”, terminaria por professar um antiamericanismo insensível a seus compatriotas. A tese, eivada de um sentimento de superioridade em matéria de justiça e humanismo, seria irretocável se não omitisse a condição inequívoca, infensa a revisionismos, do papel de agressor que os Estados Unidos desempenharam no Vietnã.
A mulher que, para horror de Moser, usava em 1968 um anel feito da fuselagem de um avião americano abatido chegaria aos anos 1990, pelo menos em sua narrativa, como uma partidária do liberalismo, que ele descreve como “flagelo dos radicais, de direita e de esquerda”. A liberal que Sontag teria se tornado não professa, é claro, a doutrina econômica liberal, mas a defesa de valores humanistas expurgada de qualquer identificação direta com a esquerda, devidamente demonizada pelas experiências malogradas na União Soviética, em Cuba ou no próprio Vietnã. Para essa “reeducação” teria contribuído decisivamente a paixão e amizade por Joseph Brodsky, certamente um dos maiores poetas do século 20, que ao chegar aos eua, livre de perseguições na União Soviética, aplaudia, diante da TV, discursos anticomunistas de Richard Nixon.
Todo esse juízo político, sempre amparado em fatos e opiniões de terceiros, em nada é estranho a uma narrativa que embarca, com direito a Francis Fukuyama, na versão de que um mundo inteiramente novo e renovado emergiu a partir de 1989. “Quando caiu o Muro de Berlim”, escreve Moser com grandiloquência e simplificação que não fazem jus a seu estilo, “até mesmo o cínico mais empedernido deve ter visto o arco do universo moral pendendo para o lado da justiça. As eletrizantes cenas televisionadas de multidões derrubando muros e rechaçando tiranos pareciam corroborar a antiga crença americana — ingênua ou esperançosa, ou ambas as coisas — de que a liberdade era o destino de todos os povos, e de que a história poderia se confundir com o progresso”.
Romances convencionais
Nessa suposta idade da razão, a autora do vigoroso Sob o signo de Saturno (1980) pode ter ganhado em equilíbrio, mas perdeu em contundência e originalidade. Preferiu dedicar-se a dois romances convencionais, O amante do vulcão (1992) e Na América (1999), que lhe renderam público renovado, dinheiro, prêmios e, por este último, uma acusação de plágio. Sua vigorosa reação à patriotada que George W. Bush pretendia impingir ao 11 de setembro, num curto artigo para a New Yorker, valeu-lhe duras críticas e censuras. Talvez ali, ao rejeitar a infantilização pelo Estado, tenha voltado a ser a radical malvista em tempos supostamente pacificados. Diante da dor dos outros, o último livro que publicou em vida, no final de 2002, fazia lembrar os grandes momentos de Sobre fotografia (1976) e, também, parecia anunciar uma renovação que o tempo não lhe permitiria.
“A única intelectual reconhecida por gente que não sabia nada sobre intelectuais”, como define Moser, morreu em 28 de dezembro de 2004, aos 71 anos. Foi enterrada na Paris em que viveu momentos decisivos. Annie Leibovitz homenageou-a num livro impressionante, A photographer’s life, em que flagrantes do cotidiano do casal convivem com imagens de celebridades e com os últimos registros de Sontag, devastada pela doença, cada vez mais irreconhecível e, finalmente, morta. As fotos, nada agradáveis, parecem restituir corpo e uma estranha humanidade à mulher que inventou para si um personagem do qual jamais conseguiu ou quis se livrar. Talvez porque nunca tenha havido uma mulher como Susan.
Matéria publicada na edição impressa #28 nov.2019 em outubro de 2019.
Porque você leu Crítica Cultural
As vidas de Helô
Heloisa Teixeira misturou insubmissão e instituição, quebradas e ABL, poetas e pensadores em reflexão e ação múltiplas e únicas no debate cultural brasileiro
MARÇO, 2025