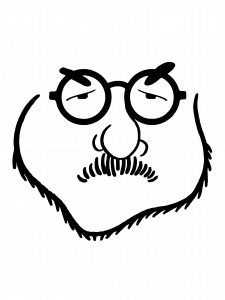Crítica Cultural,
O curupira e o cancelamento
‘Identitarismo’ é o trunfo retórico do intelectual que, como a criatura de pés virados, diz caminhar para o centro enquanto se aproxima da direita
21mar2025 • Atualizado em: 24mar2025 | Edição #92O que viceja no Bananão sob o rótulo “identitarismo” é hoje o principal trunfo retórico do liberal curupira. Como a criatura de pés virados para trás, este personagem cada vez mais destacado nas análises de política e cultura vive do despiste: diz que vai para o centro, lugar imaginário de moderação e imparcialidade, enquanto caminha para a direita.
“Identitário” é espantalho ideológico que decalca o woke norte-americano, caricatura de quem intervém no debate público e atua politicamente a partir de pertencimento e identificação de classe, raça e gênero. Numa palavra, azesquerda, que desde o golpe contra Dilma Rousseff viraram bucha de canhão do centro curupira — tão leniente com a extrema direita, tão obsequioso com a direita de que busca se distinguir.

Para o intelectual curupira, os princípios “identitários” configuram grave malversação do debate público, sobretudo nas altercações digitais conhecidas como “cancelamento”. Por motivos óbvios, os curupiras, nascidos para o despiste, abjuram tomadas de posição inequívocas, que desqualificam como sectarismo e radicalização.
Dois livros publicados no final do ano passado, na França e nos Estados Unidos, dissolvem o chorume de clichês com que estes analistas tentam explicar os insalubres dias que correm. Ambos tornam a paisagem mais complexa ao rejeitar tanto o armagedom fundamentalista da extrema direita quanto o insidioso apocalipse de conveniência dos curupiras, pontuado pela repetição irrefletida de termos como “polarização”, “tribalismo” e “autoritarismo da esquerda”.
Indignação de almanaque
Adrian Daub, alemão que ensina em Stanford, dá perspectiva histórica à questão em The Cancel Culture Panic: How an American Obsession Went Global (O pânico da cultura do cancelamento: como uma obsessão americana se tornou global), publicado em outubro pela editora de sua universidade. A tese que defende, sobre a exportação de uma ideia que já nasce torta, estabelece diálogo direto com Éric Fassin, que um mês antes lançou, pela Textuel francesa, Misère de l’anti-intellectualisme: Du procès en wokisme au chantage à l’antisémitisme (A miséria do antiintelectualismo: Do julgamento do wokismo à chantagem com o antissemitismo), um mapeamento da situação nas terras de Emmanuel Macron, este um currupirrá raiz.

Ambos concordam que a chamada cultura do cancelamento, expressão a que se costuma reduzir as ações dos “identitários”, é um sucedâneo da onda “politicamente correta” dos anos 90. Naquele momento, ainda não turbinado pelas redes sociais, as intervenções desabusadas de vozes emergentes no cenário político também despertaram indignação de almanaque entre gente que jamais se indignou para valer com nada diferente do próprio umbigo.
Mais Lidas
Assim como acontece hoje, os discursos de emancipação, de combate a preconceitos e busca por diversidade eram então rejeitados em bloco pelos bem pensantes como autoritarismo, censura, puritanismo. Reaças de todas as plumagens se diziam “politicamente incorretos” para afetar independência — raciocínio perverso que volta, potencializado, quando se denuncia como intolerância o combate à intolerância.
As denúncias contra o cancelamento não só são parte do buzz que criticam como dele se beneficiam
Para Daub, o “cancelamento” é menos um conceito do que um meme. Como este, nasce, vive e morre nas redes; tem origem numa situação pontual e, por sua forma simplificada, se espalha; e, fundamentalmente, é efêmero. O que implica em pelo menos um ponto essencial, quase sempre minimizado: as indignadas denúncias contra o cancelamento não só são parte inseparável do buzz que criticam como dele inequivocamente se beneficiam. Seus relatos de pânico moral são cúmplices com o ciclo de estridência detonado por aqueles a quem se designa papel de cancelador.
A dinâmica nos é muito familiar. Na indignação com fins lucrativos dos curupiras, antirracismo é denunciado como racismo “reverso”, denúncias de assédio são desqualificadas com a suspeição da vítima ou, por exemplo, atribui-se ao uso da linguagem inclusiva o poder desmedido e fantasioso de corroer uma língua.
Nas arenas digitais, em que canceladores e cancelados vêm e vão no ritmo das refregas, só os analistas curupira permanecem. E bem remunerados. Disseminar o pânico moral rende engajamento, acesso “profissional” à imprensa, palestras bem pagas que sedimentam o pânico moral do antiesquerdismo.
Estas supostas análises obedecem ainda a um padrão discursivo, combinando apelos a uma razoabilidade sem ideologia, à imparcialidade quimérica e ao bom mocismo democrático. O que as sustenta não é pensamento crítico, mas um raciocínio que, segundo Daub, é amparado por três estratégias: o uso da anedota, a busca de uma fidelização do leitor/ouvinte e uma ideia genérica de “ensaísmo”.
Deste último, os curupiras praticam uma versão superficial, com uso livre de referências avulsas, calibradas de acordo com o caso (mais ou menos intelectuais, mais ou menos distantes do senso comum). A busca da fidelização, que pode redundar na assinatura de um podcast, um jornal ou um canal, também desempenha papel importante, pois garante o ganha-pão de nossos analistas e o conforto do alarmado público. Mas o principal trunfo dos relatos de cancelamento é o fundamento anedótico.
Toda litania contra os descalabros identitários é precedida pela simplificação narrativa de uma situação em geral complexa. O que se destaca num embate em sala de aula ou numa denúncia de racismo é o que há de romanesco na situação, a peripécia de folhetim em que, do ponto de vista curupira, a vítima do “cancelamento” é desresponsabilizada e seus algozes merecem epítetos de violência: linchadores, milicianos, patrulheiros. Quanto menos contexto, maior a possibilidade de a história se espalhar, a ponto de, a um determinado momento, nem ser mais comprovável.
Éric Fassin observa que, de muitas formas, o politicamente correto, a cultura do cancelamento e a caricatura dos wokes atualizam uma tradição norte-americana, que mantém atual e pulsante o clássico Antiintelectualismo nos Estados Unidos. Publicado em 1963 e premiado com um Pulitzer no ano seguinte, o ensaio do sociólogo Richard Hofstadter investiga as origens históricas e sociais de momento deplorável da vida norte-americana, as perseguições do macarthismo.

É irônico que, não raras vezes, se qualifique a cultura do cancelamento como um “macarthismo de esquerda”. Indigente sob qualquer ponto de vista, a comparação possibilita um paralelo entre a dinâmica de movimentos emancipatórios, sem dúvida agressiva e tantas vezes injusta, e uma delinquência sistemática de Estado, comparação essa em que a dissimetria de força faz toda diferença. Não há dúvida, aliás, que o senador Joseph McCarthy tinha o poder de cancelar de fato seus adversários ideológicos, triturados pelo aparelho repressivo ligado à Washington.
O que Fassin nos lembra é que o antiintelectualismo não mudou de lado: quem fomenta o pânico moral continua a ser o poder. A tão temida “polarização”, papagaiada pelos analistas, é menos resultado da radicalização dazesquerda do que da dinâmica de “desdemocratização” que Wendy Brown vê como uma das marcas do neoliberalismo: o estímulo generalizado a uma “cólera política” cuja evidência mais imediata está no empenho, transnacional, em manter as redes digitais livre de regulações, como uma terra sem lei.
Outra interseção importante entre os donos do dinheiro e a demonização da militância é o fato de que tanto nos eua quanto na Europa a cultura do cancelamento tenha a universidade como principal front. Mantidas por generosos doadores — generosamente aquinhoados com a defesa de seus interesses e a vigília por seus valores — as universidades de elite norte-americanas são cenários recorrentes das anedotas anti-woke. Devidamente descontextualizadas, essas histórias correm o mundo com a velocidade e a superficialidade dos memes — e frequentemente são citadas pelos curupiras como referências factuais incontestáveis.
A recrudescência do antiintelectualismo, destaca Fassin, tem um marco no ataque terrorista do Hamas contra Israel, em outubro de 2023, e no massacre de Gaza que a extrema direita de Tel Aviv perpetua como resposta. A onda de protestos pró-palestinos nas universidades norte-americanas é diretamente vinculada ao wokismo e demonizada como puro antissemitismo, numa generalização que deliberadamente apaga a fronteira entre atuação política legítima e os discursos de ódio.
Provocação disfarçada
Visto do Brasil o panorama é um tanto mais patético, mas não menos desolador. Segundo a minuciosa pesquisa de Adrian Daub, a expressão “cultura do cancelamento” estreou na imprensa brasileira em matéria sobre episódios estrangeiros publicada pela Folha de S. Paulo em 2019. Em sua configuração local, prossegue o professor, a acepção do termo é mais cultural do que acadêmica: em 1.042 menções de artigos em português do Brasil compilados pelo mecanismo LexisNexis, apenas 144 (13%) mencionam “universidade”. O país se faz mais presente nas referências a Jair Bolsonaro, fartamente citado ao lado de algumas das lideranças mais repugnantes do planeta, como a família Le Pen, Vladimir Putin, Jörg Haider, Boris Johnson e Silvio Berlusconi.
Os curupiras também não fazem feio entre seus pares estrangeiros. Em sua vocação para epígonos, vendem desmobilização por moderação. O que apregoam como um diálogo amplo e franco passa, necessariamente, pela sujeição de oprimidos a opressores em nome do apagamento de violências fundadoras da sociedade brasileira. Por isso, suas intervenções no debate público são sempre passivo-agressivas, num jogo astucioso em que a provocação disfarçada de posicionamento detona reações violentas — na medida para que o curupira se faça de vítima e reforce, uma vez mais, as anedotas do cancelamento.
Discutir a sério o papel da cultura do cancelamento passa por interromper um circuito falastrão
Eu mesmo ouvi um notório provocador relatar, compungido, a experiência de ter sido cancelado quatro vezes. Quatro. Um outro me apresentou a um conceito que desconhecia, o do “estudante identitário”, tipo nefasto que estaria inviabilizando a universidade com suas crítica desabusadas.
Entre meus tipos inesquecíveis está o intelectual que, temendo perder relevância, faz um reposicionamento de marca pela defesa do indefensável na produção de polêmicas caça-clique. E o vanguardista da mediocridade, que defende a indigência estética da música de mercado diante do que vê como preconceito e intolerância das elites intelectuais. Nas tais elites, cruzam-se azesquerda e a universidade, também ecoando nos campi brasileiros uma conhecida arenga norte-americana, entre nós famosamente formulada pelo astrólogo aristotélico.
Se nenhum destes personagens tem aqui nome ou sobrenome é porque não vou reproduzir a lógica da anedota com que essa turma ganha a vida. Discutir a sério o papel da cultura do cancelamento passa, como indicam Adrian Daub e Éric Fassin, por interromper um circuito falastrão cuja finalidade última é desqualificar as lutas políticas — acidentadas e, ninguém há de negar, por vezes equivocadas — sem as quais não há uma mínima possibilidade de mudança. Política, não custa lembrar com Jacques Rancière, é desentendimento. O resto é polícia.
Matéria publicada na edição impressa #92 em abril de 2025.
Porque você leu Crítica Cultural
Elogio da sombra
Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil
JUNHO, 2025