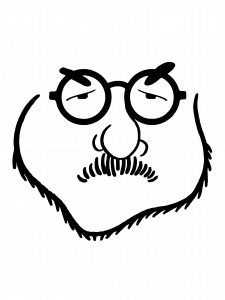Crítica Cultural,
Uma cultura do levante
As histórias do disco de estreia de Nara Leão e do “Pasquim” lembram como o compromisso político entre artistas e intelectuais deve ser inegociável
07abr2022 | Edição #57O bode autoritário que vivemos favorece nostalgias de todo tipo. Semiletrada, a extrema direita manifesta a falta que sente da ditadura por ordens do dia, memes e órfãos do cartomante da Virgínia, sempre saudosos da Pasárgada dos assassinos, já em parte instalada no Planalto e num quartel perto de você. No campo civilizado, o compromisso da sociedade com a verdade histórica tem resultado em mergulhos no passado recente essenciais para que se enfrente o revisionismo tosco da extrema direita — e, também, arriscados pela idealização de momentos decisivos.
A onda bateu forte em janeiro, com a estreia de O canto livre de Nara Leão, o ótimo documentário de Renato Terra disponível no Globoplay. A comemoração pelos oitenta anos de nascimento da cantora foi sucedida por um volume da coleção O livro do disco (Cobogó) dedicado por Hugo Sukman a Nara, antológico LP de 1964 com que estreou na gravadora Elenco. Chega ainda às livrarias Rato de redação: Sig e a história do Pasquim (Matrix), em que Márcio Pinheiro reconstitui as turbulências enfrentadas pelo semanário para existir e sobreviver à redemocratização.

Em O afeto que se encerra, livro de memórias de 1980, um Paulo Francis já mais para a direita que abraçaria com entusiasmo lembra a “quase década”, os anos entre 1955 e 1964 marcados por “resistências críticas” ao atraso brasileiro. Nesse hiato, observa, “a organização social permanecia sórdida, o país marginal e sem futuro testável em lógica”. Porém — ai, porém — “o comércio de ideias, o experimentalismo político e estético, conquanto mais teórico do que prático, alargavam vistas e sugeriam uma variedade rica de saídas”. “O pensamento criador”, escreve, “fluía livre, nos limites da classe média, resguardado por um clima de liberdade.”
A Nara desagradava o alheamento de meninas e meninos brancos e bem-nascidos como ela
Nara, o disco, e O Pasquim, o jornal, resultam da “quase década” e de seus desdobramentos, da inquietação que a animou e dos limites que a ela se impuseram tanto de fora, pelo golpe civil-militar, quanto de dentro, por divergências, impasses e contradições. O fio que percorre os dois livros e os momentos que retratam nem sempre é evidente. Não é raro atribuir a explosão de criatividade e talento da época — extensiva ao cinema, ao teatro, à literatura e às artes visuais — a uma conjunção quase mística, ao tal “Brasil que vale a pena”, abstrações que perfumam um único dado concreto: o que se viveu e criou naquele momento foi resultado de um compromisso radicalmente político. Compromisso que os neofascistas deploram e querem inviabilizar à força e que poucos artistas e intelectuais se dispõem a bancar explicitamente, mesmo diante dos ataques sucessivos à democracia.
Escolhas
Tomar posição para valer, é bom lembrar, significa fazer escolhas e sustentá-las — o que implica descartar outras possibilidades, entrar em disputas para defender as próprias opções, combater divergências e contrariar o senso comum. A Nara Leão e Carlos Lyra, por exemplo, desagradava o alheamento em que redundavam barquinhos e tardinhas cantados por meninas e meninos brancos e bem-nascidos como eles — e, portanto, descolados da realidade. A insatisfação dela, a princípio menos formalizada politicamente, iria encontrar no engajamento dele um catalisador importante, como já acontecera na parceira de Lyra com Vinicius de Moraes: num mesmo dia, registra Sukman, os dois terminaram o “Hino da une” e emendaram a “Marcha da quarta-feira de cinzas”, que seria a faixa de abertura de Nara. Vinicius, que poucos anos antes também criara em paralelo a letra de “Chega de saudade” e os versos de “Operário em construção”, ambos de 1959, já havia percebido que, em momentos agudos, não basta ter convicções íntimas: é preciso, ainda mais tendo voz pública, fazê-las valer.
A presença no disco das duplas Zé Kéti e Hortêncio Rocha (“Diz que fui por aí”), Cartola e Elton Medeiros (“O sol nascerá”) e Nelson Cavaquinho e Amâncio Rocha (“Luz negra”) é mais do que a “redescoberta” de seus extraordinários compositores ou a “modernização” do “samba de morro”. É parte de um movimento complexo de despir-se do narcisismo social e estético tão danoso a um Rio de Janeiro autorreferente e “lírico” para abraçar a complexidade da cidade e, a partir dela, do país. Em composições engajadas como “Canção da terra” (Edu Lobo e Ruy Guerra) e “Feio não é bonito” (Carlos Lyra e Gianfracesco Guarnieri), o repertório de Nara também trazia as marcas das chamas da sede carioca da une, incendiada e metralhada pela repressão. Do mergulho nas influências afro-brasileiras vinham “Berimbau”, o afro-samba de Baden Powell e Vinicius, e “Nanã”, nome que a letra de Mario Telles deu à “Coisa nº 5” de Moacyr Santos.
Mais Lidas
“A tímida mais abusada da história”, como Sukman define Nara, ajudaria ainda a plantar no coração da Copacabana bossa-novista o Opinião, espetáculo que definiria sem firulas ao documentarista francês Pierre Kast: “É um protesto. Um protesto contra o governo”. A poucas quadras da praia, a mistura de peça e show dirigida por Augusto Boal e estrelada ainda por Zé Kéti e João do Vale lembrava, no Teatro de Arena, que geografia não era destino — a depender, é claro, do tal compromisso. Fazer Opinião era se posicionar, assistir a Opinião também.
Fora do padrão
Em junho de 1969, com o terrorismo de Estado já transformado em lei pelo ai-5, chega às bancas o primeiro Pasquim. Lê-lo era se posicionar; fazê-lo, se arriscar. Tarso de Castro, Jaguar, Sergio Cabral e Claudius botaram de pé um projeto que nasceu de A Carapuça, jornal humorístico criado em 1968 por Sergio Porto e que, cinco números depois, não sobreviveria à morte de seu idealizador, em setembro daquele ano. O Pasquim era, em diversos sentidos, pós-Stanislaw Ponte Preta: marcado por um humor menos sutil e mais agressivo, misturava a cultura de oposição mais tradicional, de esquerda, a experimentações de linguagem e flertes com a contracultura, encarnada por Luis Carlos Maciel. Era um coquetel molotov de humor gráfico, opinião, crônica, jornalismo e Ivan Lessa.
O ‘Pasquim’ era um coquetel molotov de humor gráfico, opinião, crônica, jornalismo e Ivan Lessa
Em Rato de redação, o farol do Pasquim é Tarso, que deixou menos textos memoráveis do que mitologia pessoal. Sua saída do jornal é atribuída a conflitos com Millôr Fernandes — que deixou histórias menos mirabolantes e obra mais consistente depois que assumiu o comando, em finais de 1970, quando quase toda a redação foi presa. Por ter escapado da cadeia — motivada pela charge em que Jaguar colou à boca de d. Pedro 1o, na tela Independência ou morte, o grito “Eu também quero mocotó!” —, Millôr levantaria suspeitas, ao que tudo indica infundadas, de que teria sido favorecido pela ditadura. Editores fora do padrão que foram, personalistas e mercuriais, um e outro deixaram marcas essenciais.
Com a distância do tempo e não tendo vivido o cotidiano do jornal, é tolo tomar partido. Me parece claro que muitos dos acertos do Pasquim estavam no desassombro de seus supostos erros — quando perdia a mão no humor cifrado ou na grosseria, por exemplo — e, principalmente, na coabitação editorial forçada entre porra-louquice e seriedade, anarquia e pretensão. Bom exemplo desse equilíbrio instável é, com todas as injustiças sabidas, a ousada série de cartuns do cemitério para onde Henfil despachava os que considerava colaboracionistas do regime. Em situações extremas, vale a máxima de que é melhor errar rápido do que acertar devagar.
Das múltiplas heranças do Pasquim, a mais robusta é a revolução na forma de entrevistar, antítese da conversa editadíssima de uma Paris Review, súmula perfeita das ideias do entrevistado. Nas páginas do jornal, tinha-se a sensação de estar na casa de Clarice Lispector ou de Natal, o patrono da Portela, com um bando de entrevistadores que se atropelavam, eventualmente saíam no pau e falavam ao mesmo tempo — por vezes mais do que o entrevistado. As conversas com Leila Diniz e Madame Satã ficaram como altos momentos desse antimodelo. Mas porque o Pasquim era o Pasquim, decidiu comemorar o número 150, em maio de 1972, com a redação entrevistando uma feijoada, ou mais exatamente as quatro latas de feijoada que Sérgio Augusto e Ivan Lessa compraram num supermercado de Botafogo.
A loucura tinha método e, no caos de referências, Sérgio Augusto — cuja cultura enciclopédica faria com que Millôr o apelidasse de Sérgio Augoogle — mantinha uma coluna de crítica de mídia, rubrica tão necessária quanto inimaginável hoje. Por crítica não se leia disputa ou ataque, como ficaria explícito quando, em 1975, O Pasquim foi liberado da censura prévia. “Num país em que publicações como Tribuna da Imprensa, Veja, Opinião, O São Paulo continuam a ser editadas pela ignorância, pelo tédio e até pelo ódio pessoal dos censores, e o periódico Argumento está definitivamente proibido de circular, este jornal, só, pobre, sem qualquer cobertura — política, militar ou econômica — e que tem como único objetivo a crítica aos poderosos, não pode se considerar livre”, escreveu Millôr num editorial que testava os limites da truculência dos militares. A edição foi inteiramente apreendida.
No auge da popularidade e do prestígio, quando chegou a vender 200 mil exemplares, O Pasquim foi chamado de “Ipanema engarrafada”. Apesar de contestador e feroz, o folclore ipanemense trazia paralelos com o da Copacabana bossa-nova nos tais “limites da classe média”. Piadas internas e referências paroquiais muitas vezes trancavam o leitor do lado de fora. As saídas, necessariamente tortuosas e provisórias, o próprio jornal tratou de encontrar até morrer, desidratado, em 1991.
Antes que, ao som de Nara e mergulhados no Pasquim — inteiramente disponível na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional —, nos transportemos para um passado de glória, é bom lembrar que ninguém ali teve vida boa. Que o conflito, que se evita hoje à direita e até à esquerda, é o princípio do tal compromisso. É a política.
Matéria publicada na edição impressa #57 em maio de 2022.
Porque você leu Crítica Cultural
As vidas de Helô
Heloisa Teixeira misturou insubmissão e instituição, quebradas e ABL, poetas e pensadores em reflexão e ação múltiplas e únicas no debate cultural brasileiro
MARÇO, 2025