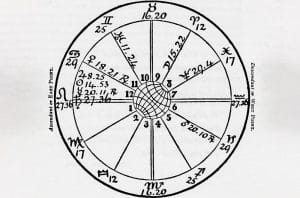Psicologia,
Muito loucos, bichos
Um texto inédito do jornalista e crítico morto em 2009 sobre um clássico do século 19 que inspirou Freud e Walter Benjamin
01jun2021 | Edição #46Podem crer: nenhum, mas nenhum mesmo, dos milhares de participantes do Rock in Rio ouviu “música celestial”, enxergou “dois sóis” sobre o assadouro do Maracanã ou vislumbrou “ursos negros” ou “gatos com olhos faiscantes” ao cair da noite. Não se viu ninguém perambulando pela grama entoando frases como “o bom Deus é uma prostituta” ou “sou o primeiro cadáver leproso”. Nenhum demônio ou vampiro os ridicularizou e nenhuma alma entrou ou entrará pelas suas bocas, “em forma de novelo”. Nada disso. Esse barato já passou e tem dono: Daniel Paul Schreber, o paciente mais extraordinário da história da psiquiatria. O Rock in Rio foi uma loucura? Pois então vejam só como pode parecer coisa de amador.
Schreber escreveu um livro, Memórias de um doente dos nervos, que extasiou ninguém menos que o “pai da psicanálise”, Sigmund Freud. A ele Freud dedicou uma série de artigos clássicos, embora ao escrevê-los, em 1911 (oito anos depois da publicação de Memórias), nem sequer soubesse se seu paciente estava vivo (Schreber morreu naquele mesmo ano, aos 69, no Hospital de Dosen, inteiramente doido).
Lacan
O livro de Schreber chegou à língua portuguesa mais de setenta anos depois de publicado, e esse é apenas um dado a mais da estranheza — e da pavorosa solidão — que envolve toda a sua vida. Que se saiba um único pensador, Walter Benjamin (1892-1940), tomou conhecimento e deu valor ao relato de Schreber na década de 20, num artigo chamado “Livros de doentes mentais”. Um ou outro estudo precederam a ampla divulgação e discussão do texto, que só se deu em 1955, quando foi publicada a tradução em inglês e o psicanalista Jacques Lacan (1901-81) começou na França seus seminários para escrever mais tarde De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose.
Nada menos. A falecida psicanalista brasileira Marilene Carone traduziu as Memórias e ainda produziu um glossário explicativo dos termos mais constantes do delírio do autor — como “assassinato da alma”, “pensamento de não pensar em nada” ou “vestíbulos do céu”. Schreber era um louco especial, cuja doença serviu para corrigir o próprio método com que tentavam curá-lo — a psiquiatria. Mas ele de modo algum admitiu que os fatos mencionados por ele nas Memórias fossem frutos de “fantasmagorias ocas de uma cabeça confusa”. Pretendia que seu relato — feito depois de nove anos em três sanatórios — tivesse o rigor de uma tese. Não se julgava, de modo algum, um louco.
Há quem concorde. Elias Canetti, prêmio Nobel de Literatura de 1981, desenvolveu em dois capítulos de seu livro Massa e poder uma teoria de paranoia como “doença do poder”, a partir do caso Schreber: “Não acredito que jamais um paranoico, que como tal esteve internado em sanatórios durante anos, tenha apresentado um sistema de um modo tão completo e convincente”. O próprio Schreber, nos anos de alívio em que escreveu as Memórias, anotou sobre os estranhos acontecimentos nos sanatórios: “Se houve visões, foram visões com método”.
Mas uma autópsia do texto e da biografia de Schreber diz outra coisa. Seu pai, Daniel Gotlieb Moritz Schreber, médico e pedagogo, era autor de best-sellers e consagrado em vida como expoente da nação alemã. Nos seus livros, e dentro de casa, ele fazia uma cruzada contra a indolência, a preguiça, a delicadeza (entendida como falta de virilidade), a fraqueza do caráter e todas as formas de sensualidade. Suas armas eram a coerção e a vigilância implacáveis. O doutor Schreber acreditava tão literalmente na retidão de caráter que ela só se desenvolveria num corpo forte e igualmente reto. Para isso, projetou e fabricou aparelhos ortopédicos de ferro e couro usados para garantir a postura perfeita no sentar, no caminhar e no dormir. A palavra “sexual” não aparece nos seus textos (fala-se em “ato de procriação”).
Mais Lidas
Marilene Carone observou: “A educação de Daniel, ditada pelo pai, se regia pelo princípio de esmagamento da natureza em estado bruto e do domínio do inconsciente pelo consciente. É deste universo de ódio à sensualidade, à fraqueza da vontade e de todas as formas de delicadeza que vai surgir o mais famoso paciente da psiquiatria, que pretende se transformar em mulher, que urra pelas estradas como animal e que se regala de gozo voluptuoso”. Enquanto isso, seu irmão mais velho (eles eram cinco), Gustav, suicidou-se com um tiro aos 35 anos de idade.
Schreber — que também tentaria matar-se depois de internado, por enforcamento e afogamento — parecia destinado a uma trajetória mais “normal”. Ele mesmo se descreve nas Memórias como alguém de “natureza tranquila, quase sóbria, sem paixão, com pensamento claro, cujo talento individual se orientava mais para a crítica intelectual fria do que para a atividade criadora de uma imaginação solta”. Em suma, não tinha nada de “poeta”. Quer dizer: não se julgava, de modo algum, um “artista”. Aos 36 anos, casou-se com Ottlin Sabine Beher, quinze anos mais nova, que não lhe deu filhos (teve seis abortos naturais). Aos 42, candidatou-se a deputado e foi derrotado. Aos 51, atingiu um posto extraordinariamente alto para sua idade, o de juiz-presidente da Corte de Apelação da cidade de Dresden.
Um pouco depois, porém, esteve internado pelo breve período de seis meses na clínica de doenças nervosas da Universidade de Leipzig, dirigida pelo professor Paul Emil Flechsig, autoridade neurológica e psiquiátrica da época. Queixava-se de uma crise de hipocondria com ideias de emagrecimento (imaginou-se com quinze a vinte quilos a menos, embora a balança da clínica indicasse uma perda de apenas dois quilos). Achava também que iria morrer do coração, de repente, e um dia pediu para ser fotografado “pela última vez”. Liberado, voltou nove anos depois para permanecer outros nove, até o fim.
Schreber considerava as Memórias “uma das obras mais interessantes já escritas desde que o mundo existe”. Também pudera. Julgava que um caso como o seu só ocorrera — como nunca antes e nunca mais depois — devido a um prodigioso encadeamento de circunstâncias, “uma colisão de interesses de Deus e de indivíduos isolados”. Na primeira internação, de seis meses, ele foi tratado com os remédios comuns na época (hidrato de cloral, cânfora, brometo de potássio e morfina), equivalentes a água com açúcar diante da gravidade do seu caso. Às vésperas de sua segunda e mais longa internação, quando o dr. Flechsig diagnosticou-lhe dementia paranoides, Schreber já estava em outra. E que outra! Ele já sonhava em “como seria bom ser uma mulher no ato sexual”. O dr. Freud não se ruborizou com isso. Em nenhum momento discutiu a questão da homossexualidade, bissexualidade ou algo que o valha de Schreber, mas localizou nessa fantasia dele o ponto de partida do sistema delirante que seria construído depois.
Schreber sonhava em ‘como seria bom ser uma mulher no ato sexual’
Schreber sofria de “insônia insuportável” e ouvia estalos (seria “um rato?”, perguntou ele) nas paredes de sua casa. Internado, começou um longo e formidável duelo com vozes e entidades. Elas queriam destruí-lo pelo corpo (através de muitas doenças, inclusive a “putrefação do baixo-ventre”, provocada por uma alma ali alojada) e pelo “espírito” (através do “amolecimento do cérebro”). Aí, descobriu que Deus falava a “língua fundamental”, um alemão arcaico, mas que Deus era também um “duplo”. Havia um deus inferior, Ahriman, “atraído de preferência pelos povos de raça morena” (semitas), e um deus superior, Ormuzd, ligado aos louros (arianos).
As vozes o torturavam o tempo todo, exigindo que provasse sua coragem viril: “Havia um plano vergonhoso de me fazer mulher largada através de sensações voluptuosas que podiam ser estimuladas através de nervos femininos que já penetravam cada vez mais o meu corpo”. Um dia mostrou ao médico os seios que imaginava estarem despontando no seu peito. Ele não duvidava: aqueles tenros botões eram sinais de que estava reservada a ele uma missão incomparável, a de repovoar o mundo. As visões diziam a Schreber que havia sido perdido um passado de 14 mil anos — “cifra indicando provavelmente o período de povoação da Terra” — e que a esta restava uma vida de apenas duzentos anos. Ele escreveu: “Considerei este tempo já decorrido julgando-me, portanto, o único homem verdadeiro que ainda restava, e as poucas figuras humanas que além de mim eu via eram meros homens feitos às pressas, produzidos por milagre”. Achava que raios divinos, ou o “sêmen de Deus”, iriam fecundar Schreber-fêmea para que nascesse uma nova humanidade.
Ele era o único homem sobre a Terra — e esse único homem queria ser mulher. Mas que mulher seria essa? Marilene Carone transcreveu as palavras do paciente: “Tendo que escolher entre me tornar um idiota com aparência masculina ou uma mulher de espírito, preferi a última alternativa”. E mais: “Deus exige de mim um gozo contínuo e é meu dever proporcionar-lhe este gozo”. Diagnóstico da dra. Marilene: “Para Schreber a mulher é a quintessência do prazer. Ele quer a desordem dos sentidos, a vertigem da volúpia, a queda no impuro. Quer participar do mundo degradado da sensualidade”.
Abismo
Mas Schreber nunca esteve sozinho nesse seu desejo “sujo”. Há uma multidão de personagens que poderiam dividir com ele a atração pelo abismo. Por exemplo, Julia, a heroína de 1984, de George Orwell (1903-50), que sela com estas palavras o seu primeiro encontro amoroso com Winston Smith, quando ele lhe propõe a degradação total: “Então eu sirvo. Sou corrupta até os ossos”. Esta “mulher-vampiro” que Schreber deseja ser — “mulher oca e sem cabeça”, pois “seus nervos de volúpia se estendem por todo o corpo enquanto nos homens se restringem às partes genitais” — é uma imagem (um desejo?) ao mesmo tempo detestável e ampla, povoando muitas situações da arte moderna. Uma das mais nobres foi criada pelo poeta Charles Baudelaire (1821-67):
Na hora em que a natureza, em
[desígnios velados
De ti se serve, ó fêmea, ó deusa dos
[pecados
Para plasmar um gênio, ó imundo
[animal
Ó grandeza de lama! Ó ignomínia
[mortal!
Deusa, Deus. A relação entre estas entidades divinas aponta para uma dupla face feminina, ora amável, ora odiosa. O cineasta Howard Hawks (1896-1977) é responsável pelo aparecimento de algumas das belezas mais estranhas do cinema (Lauren Bacall é descoberta dele). Mas, do ponto de vista das relações entre homens e mulheres, sua obra é sempre um elogio ao machismo e uma condenação constante ao papel “desvirilizador da mulher”. Elas sempre triunfam por serem devoradoras, exigentes e egoístas. Se o macho é antes de tudo um aventureiro, a fêmea é uma castradora arrogante. É o que Hawks mostrou em filmes como Paraíso infernal (1939), onde a ameaça maior não é a cordilheira que os pilotos têm de enfrentar com tempo ruim, mas a loura estrangeira que proíbe, poda e seduz (Cary Grant vs. Jean Arthur). A mesma coisa ocorre em Hatari! (1962), onde John Wayne é mais ameaçado por Elsa Martinelli e seus slacks no meio da selva africana do que pelos rinocerontes que ele caça. Aí, Hawks, homão americano, dá as mãos a Baudelaire, dândi parisiense. Os dois dizem: a mulher é um ser natural, portanto abominável. E é natural porque é aliada da natureza.
Nada mais natural, assim, que a experiência de Antonin Artaud (1896-1948), ator, escritor e criador do chamado Teatro da Crueldade. Fundir Mulher-Deus-Mal era com ele mesmo. Numa peça de 1933, Héliogabale, fez o relato de um feroz imperador romano do século 3, incestuoso e assassino, pederasta-hermafrodita que queria ser mulher sem renunciar, porém, ao princípio masculino do poder. Artaud se considerava “um abismo completo”. Como Schreber, passou nove anos em clínicas psiquiátricas; também como este, achava que o mundo não foi criado por um Deus perfeito, mas por uma divindade menor e cruel; e, ainda como Schreber, também advertiu ao seu médico, o doutor Gaston Ferdière: “Considerar-me um alucinado é negar o valor poético do sofrimento. Todo poeta é um vidente”. Por fim, se Schreber chamou Deus de “prostituta”, Artaud, na sua peça radiofônica (censurada) de 1948, Para acabar com o juízo de Deus, proclamou: “Deus, se for um ser, é uma merda; se não for, não existe”.
Schreber considerava as ‘Memórias’ ‘uma das obras mais interessantes já escritas desde que o mundo existe’
Embora parecidos, os textos de Artaud e Schreber são radicalmente diferentes. Eles estão na linha de frente de artistas — e Schreber não era, nem se considerava, um “artista” — e especialmente dos surrealistas, que criaram obras onde a fantasmagoria e a insanidade também imperam. O cineasta espanhol Luis Buñuel (1900-83) estreou em grande forma, com Um cão andaluz (1929), feito de parceria com o já star surreal Salvador Dalí. Esse filme intrigou profundamente a — e quem mais poderia ser? — Sigmund Freud. É uma obra de dezessete minutos que se abre com um olho humano cortado por uma lâmina, seguindo-se cenas de cachorros carregando mãos humanas e padres arrastados por burros. “Nada daquilo significava absolutamente nada”, escreveu Buñuel no seu livro de memórias, Meu último suspiro, a respeito do método usado por ele e Dalí na feitura do roteiro, recusando toda ideia que pudesse dar lugar a alguma explicação racional, psicológica ou cultural. Para Buñuel, que se julgava “ateu graças a Deus”, estavam enganados os que viram “poesia” em Un Chien andalou e no seu filme seguinte, L’Âge d’Or — o que havia era puro mistério, isto é, arte, embora ele não tenha usado esta palavra.
O compromisso de Schreber, pelo contrário, era com a verdade — jamais com a imaginação, logo ele, que emaranhou Deus, o diabo, a sexualidade atormentada e visões resplandecentes. Com exceção de Artaud, nenhum desses artistas jamais foi considerado manifestamente louco. Schreber, pelo contrário, passou dois anos trancado numa solitária, por causa de seus urros e rebeldia contra os enfermeiros. “Viu” no jornal a notícia da própria morte e em certa época “considerou a possibilidade de estar em Fobos, satélite de Marte, e não na Terra”. Aí, passou a acreditar que era imortal e ousou enfrentar o Todo-Poderoso: “Da luta, aparentemente desigual, entre um homem fraco e o próprio Deus, saio vencedor porque a Ordem do Mundo está do meu lado”. O Grande, Incomensurável, Incomparável Schreber sentiu enfim piedade do próprio criador. “O que será de Deus no caso da minha morte?”, perguntou ele.
Deus não respondeu. O suplício de Schreber foi longo e, no entanto, ele queria no fundo uma coisa bem simples: realizar-se como ser pleno que reunisse as melhores potencialidades humanas, um ser humano pensante e dotado de sensualidade à qual nada de essencial faltava. Nas palavras de Marilene Carone: “Para harmonizar Eros e Civilização, Schreber precisou correr este caminho, pois concebia razão e volúpia como coisas tão inconciliáveis como ser homem e mulher ao mesmo tempo”.
Publicação
Schreber deixou o sanatório em 1902, publicou as Memórias no ano seguinte e viveu aparentemente bem por cinco anos, lendo e trabalhando. Em 1907 morreram-lhe a mãe e a mulher e ele foi internado pela terceira vez no Hospital de Dosen, onde ficou até sua morte. Desta última temporada nas sombras pouco se sabe. Passou quase o tempo todo na cama, gritava “ha-ha-ha”, sujava-se de fezes e urina e deixou um caderno de notas ininteligíveis, no qual apenas quatro palavras puderam ser identificadas: “não comer”, “milagre” e “túmulo”. Foram as últimas palavras de um prosador que, mesmo nos seus momentos de mais exaltada alucinação, tentou manter-se sóbrio.
Mas, embora se achasse um caso único no mundo, Schreber teve e tem parentes, sócios e assemelhados nesse tipo de vida que ninguém escolhe, mas que engole alguns. Talvez seja mera coincidência, mas o que Schreber escreveu no seu único livro lembra — e muito — um outro autor, aliás seu contemporâneo de época e de língua e, também como ele, atormentado por Deus, mulheres e o sentimento de solidão de quem percebia não haver lugar para ele no seu ou em qualquer outro mundo. Chamava-se Franz Kafka.
Embora se achasse um caso único no mundo, Schreber teve e tem parentes, sócios e assemelhados
Muito mais que autor de histórias “absurdas”, em que caixeiros-viajantes acordam transformados em insetos sem nenhum motivo, ou um “gênio atormentado”, ele foi um estrangeiro em sua própria casa e seu próprio país. Viveu um pesadelo na sua breve passagem pela Terra (1883-1924) porque, como judeu, não pertencia ao mundo cristão. Mas, por não ter religião, não se sentia judeu. Por falar alemão, não era tcheco. Como alemão da Boêmia, não se integrava à Áustria do Império Austro-Húngaro do seu tempo. Como burocrata que trabalhava para operários, não se enquadrava por completo na burguesia. Como filho de burgueses, não era proletário. Mas também não era um simples burocrata de escritório, pois se sentia escritor. Um pária, portanto — era tudo isso ao mesmo tempo sem ser, no entanto, coisa alguma.
Além de terminar um de seus mais célebres romances, O processo, com a morte do personagem comparada à de um cão, “como se a vergonha fosse sobreviver a ele”, Kafka escreveu sem espanto, sem usar pontos de exclamação, várias das obras mais genialmente bizarras do século.
Não se sabe se Kafka leu Schreber (provavelmente não) ou vice-versa (certamente não). Mas pelos estranhos caminhos da arte, da vida e da imaginação foi publicado um texto quando cada um cuidava do seu próprio inferno particular. É assim: “O leopardo invadiu o templo sagrado. Houve pânico. Voltou no dia seguinte e de novo houve pânico. No terceiro dia ele passou a fazer parte do culto”.
Quem escreveu isso? Schreber ou Kafka, o louco ou o gênio? Seja lá quem for, é isso aí. Bichos.
Nota do editor
Este texto inédito foi localizado durante a pesquisa para o site geraldomayrink.com.br, que reúne ensaios, perfis e reportagens do jornalista Geraldo Mayrink (1942-2009).
Matéria publicada na edição impressa #46 em abril de 2021.