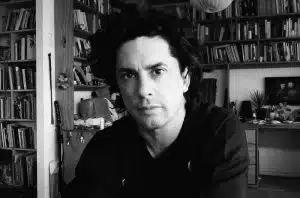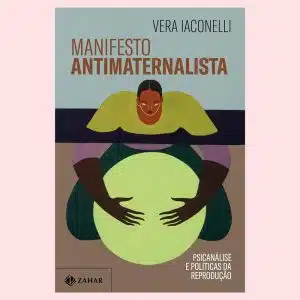

Política,
O mito do instinto materno
Psicanalista resgata a origem do discurso maternalista e desconstrói crenças que subjugam mulheres aos cuidados infantis e a uma sociedade patriarcal
11set2023A ama de leite Marie Bienvenue — bem-vinda, em francês — desafiou a máxima de que nome é destino. Aos seus (des)cuidados, 31 crianças morreram em apenas um ano do século 18. Naquele tempo, em torno de 90% das crianças nascidas em Paris eram entregues aos cuidados de outrem. Morriam aos montes sem nunca terem sido amadas pelo olhar da mãe. As que voltavam para casa encaravam os olhos de uma estranha. Entregar os filhos recém-nascidos aos cuidados de uma profissional era tão comum que não causava espanto aos convidados de um batizado a ausência do bebê.
Quando a sociedade — branca e patriarcal, vale frisar — entendeu que a reprodução social de “bons cidadãos” dependia de afeto e cuidados constantes das crianças e jovens por muitos anos a fio, a conta não fechou. Pelo menos não para todos. A solução foi desonerar os homens da economia do cuidado. Para seguirem com suas vidas públicas, criaram a pseudoteoria do “instinto materno”. Garantiu-se, assim, uma resposta ideológica para problemas socioeconômicos. O cálculo era perfeito — perfeito para homens brancos, vale insistir. Às mulheres restou a maternidade, o trabalho doméstico não remunerado dentro da própria casa e, para mulheres marginalizadas, o trabalho doméstico porcamente remunerado em casas alheias.
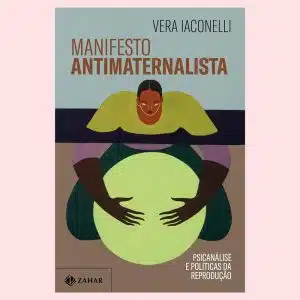
A esse discurso que reduz a mulher à maternidade e a confina em casa subjugada ao homem se dá o nome de maternalismo. E é contra ele que a psicanalista Vera Iaconelli se insurge em seu terceiro livro, Manifesto antimaternalista: psicanálise e políticas da reprodução (Companhia das Letras). Nele, a autora repete a história de Marie Bienvenue (contada por Elisabeth Badinter em Um amor conquistado: o mito do amor materno, de 1980) para registrar as origens do maternalismo, “discurso hegemônico sobre o cuidado com a prole a partir do início do século 20”, do qual a psicanálise é contemporânea. “Passado mais de um século, urge indicar os pontos nos quais maternalismo e psicanálise se retroalimentam”.
Ao discurso que reduz a mulher à maternidade e a confina em casa se dá o nome de maternalismo
A autora coloca as próprias categorias “mulher” e “mãe” em discussão e traz para a mesa de debate, ainda, a busca de homens e mulheres transgênero ou não binários pelo “seu lugar de reconhecimento no universo parental”, além de, claro, as famílias compostas por casais lésbicos e gays, que nos forçam a refletir sobre o modelo pai-mãe-filho e a rever “as falsas expectativas sobre o que seria necessário para a consecução da tarefa parental”.
Diretora do Instituto Gerar de Psicanálise e colunista da Folha de S.Paulo, Iaconelli interpela o maternalismo e a psicanálise pelos estudos de gênero, classe, raça e decolonialidade. Sem ignorar aspectos positivos de ambos, mostra como o maternalismo, por vezes embasado em teses psicanalíticas, “reproduzia estereótipos de gênero, de raça e de classe que perpetuavam a desigualdade que diziam querer erradicar”. Se é pela palavra que adoecemos, é também por ela que iremos nos curar — como propõe Vera Iaconelli neste livro-manifesto, livro-arma política.
Contra o maternalismo
O discurso maternalista chegou ao Brasil na mesma época em que ex-escravizados tentavam se inserir na sociedade — sem que a eles fosse dada qualquer indenização ou direcionada política pública reparatória pela escravidão recém-abolida. A política de incentivo à migração de trabalhadores brancos europeus (muitos dos quais encontraram aqui trabalho e moradias insalubres) completava o cenário caótico da época. Vera Iaconelli resgata medidas sanitaristas que eram impostas com repressão, e como a permanência de mulheres no âmbito doméstico era imperativa para a política de erradicação da alta mortalidade infantil. É desse período o início da organização de mulheres brancas da burguesia em favor das mulheres pobres e proletárias no cuidado das crianças.
Mais Lidas
Iaconelli contextualiza que, naquele momento, as mulheres nem sequer podiam votar ou ter propriedades em seu nome, e o quanto isso embarreirava o avanço de pautas mais progressistas. Para as mulheres filantropas, no entanto, promover projetos de cunho maternalista lhes garantia acesso ao espaço público masculino. Era o progressismo possível. As ações sociais em favor de outras mães eram vistas de forma positiva por moralistas e progressistas, religiosos e feministas — ainda que não pelos mesmos motivos. Para alguns, o importante era a ajuda oferecida na tarefa maternal. Para outros, tal política reforçava a tutela masculina sobre as mulheres.
As críticas mais contundentes ao maternalismo como política machista viriam bem depois — não tanto pelas mãos do feminismo liberal do início do século 20, que priorizou o sufrágio universal sobre as demais pautas, mas pela segunda onda, dos anos 60, quando o feminismo negro e as questões sexuais ganharam protagonismo. Foram elas que apontaram como o maternalismo apoiava apenas a mãe adulta, branca, cisgênero, heterossexual, burguesa e casada — “genitoras padrão-ouro”, como define Iaconelli. Ao mesmo tempo, a maternidade negra continuava sendo associada “à hipersexualização e reprodução de parte da população considerada indesejável”. O maternalismo reproduzia, assim, “o ideário hegemônico e opressor responsável pela patologização de outras configurações parentais e pela reprodução de desigualdades sociais”.
A autora e psicanalista Vera Iaconelli [Marlos Bakker/Divulgação]
Para essas mães invisibilizadas, a luta não era pelo direito de decidir adiar a maternidade ou jamais vivê-la, mas, antes, o próprio direito à maternidade. Iaconelli escreve:
A ausência de direitos reprodutivos — fruto da miséria, do anacronismo e do descaso do Estado — chega a reduzir mães e pais socialmente vulneráveis a simples genitores. Trata-se de uma violência institucionalizada, que retira sistematicamente as crianças de pais e mães pobres que não têm nem a chance de assumir sua descendência.
A ponderação da autora se confirma em pesquisas atuais. O Brasil tem, hoje, cerca de 11 milhões de mães que criam seus filhos sozinhas — 90% delas negras. Segundo a Unicef, 32 milhões de crianças brasileiras vivem na pobreza -— a larga maioria, crianças negras. A maternidade de indígenas e negras, mulheres cujo “papel fundamental na sustentação da família branca” foi e segue sendo invisibilizado pelo discurso maternalista. O escabroso caso do clube Harmonia, em São Paulo, que recentemente proibiu babás de usarem “shorts ou collant” ou de comer no restaurante desacompanhadas, é um exemplo de racismo e classismo vigentes também na privacidade de muitos lares brasileiros.
Partindo de um lugar de profunda intimidade com a psicanálise, “a teoria que mais revolucionou sua compreensão e que também foi responsável por muitos mitos ligados a ela”, Iaconelli repassa os cânones apontando como suas teorias de vanguarda precisam dialogar com outras teorias — feminismo, relações raciais, por exemplo — para “fazer jus ao seu caráter inovador”.
A autora cita a observação acurada feita pelo pediatra e psicanalista Donald W. Winnicott, em 1956, sobre a competência especial das genitoras com o recém-nascido, a chamada “preocupação materna primária”. Mas pondera:
Infelizmente, uma leitura equivocada da proposta winnicottiana tem servido de munição para o que eu chamo de modelo uterino de cuidado, associado ao corpo da genitora, continente e nutriz. A vivência perinatal, de ocupação e compartilhamento do corpo com o feto, serve de modelo imaginário de ingerência sobre o corpo feminino.
Ao reler Freud, o pai da psicanálise que colocou a mãe no epicentro dos seus estudos, Iaconelli também observa que algumas de suas teorias ajudaram a isolar a mulher ainda mais na responsabilização com a prole. “Por excesso ou por falta, se a criança se revelasse neurótica, psicótica ou perversa, a mãe estaria diretamente implicada no resultado”, como resume a autora na crítica — que, oxalá, repercutirá entre alguns psicanalistas, que não raro ainda culpam mães pelo neurodesenvolvimento dos seus filhos, com comentários atravessados e muitas vezes simplesmente grosseiros. Falo por conhecimento de causa.
Vera Iaconelli propõe que se é pela palavra que adoecemos, é por ela que iremos nos curar
Atribuir só aos pais a responsabilidade e o crédito de criar a próxima geração reforça a ideia mercadológica e meritocrática de que o cumprimento de expectativas é fruto de decisões privadas e não de condições sociais. Se a política de responsabilizar as mulheres pelo cuidado das próximas gerações já era insustentável no passado, “agora tende ao colapso”, alerta Iaconelli. O filho muitas vezes “se revela um fardo por competir com o trabalho, o tempo, a vida pessoal, as finanças e a vida conjugal”. Segundo pesquisa da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, 37% das brasileiras não desejam ter filhos.
Ainda que engravidar e parir não sejam competências intercambiáveis entre anatomias diferentes, “o que impede qualquer pretensão de divisão igualitária”, o que Iaconelli ressalta é que esta divisão da reprodução ainda é usada para subalternizar a mulher na esfera privada e pública. E não é preciso procurar muito para encontrar esse discurso por aí. Lembremos do ex-presidente dizendo em um programa de televisão que mulheres deveriam ganhar menos “porque engravidam”. Cuidar da próxima geração, diz Iaconelli, passa por cuidar das mulheres/mães num primeiro momento, claro, mas passa sobretudo pela responsabilização da sociedade como um todo.
Porque você leu Política
Elas resistem, a democracia resiste
Angela Davis, Patricia Hill Collins e Silvia Federeci destacam a força das mulheres negras na luta democrática
MARÇO, 2024