

Laut, Liberdade e Autoritarismo,
Pesadelo americano
Com retrato empático da base popular da direita nos EUA, socióloga Arlie Hochschild traduz a economia política e moral da era Trump
01abr2025 • Atualizado em: 31mar2025 | Edição #92Em um debate com o intelectual conservador William Buckley em Cambridge, o escritor e crítico cultural James Baldwin se propôs a responder à seguinte pergunta sobre as relações raciais nos Estados Unidos: o sonho americano é realizado às custas dos negros? Era 1965, auge das lutas pela igualdade de direitos no país, e a resposta de Baldwin foi dura e direta. O mito do sonho americano — segundo Baldwin, uma utopia resplandecente de afluência econômica e inocência cultural — foi e continua sendo construído pela população branca às custas de um sistema hierarquizado no qual os negros são economicamente explorados, politicamente excluídos e socialmente subordinados nos espaços de prestígio do país.
Poucas pessoas duvidariam que o diagnóstico sombrio de Baldwin permanece atual em um país (como o nosso) no qual negros morrem mais, vivem menos e estão, ao mesmo tempo, sub-representados nos espaços de poder e super-representados no sistema carcerário.

Iniciado com as reformas neoliberais dos anos 80 e agravado pela globalização dos anos 2000, entretanto, um novo pesadelo americano tem assombrado a política dos Estados Unidos. Dessa vez, seu alvo é a classe trabalhadora branca. Mais precisamente, homens brancos sem ensino superior que vivem fora dos grandes centros urbanos.
É entre homens brancos sem ensino superior que Trump encontra os mais fervorosos apoiadores
Esse é o mundo social devastado por aquilo que os economistas Angus Deaton e Anne Case denominaram uma epidemia de “mortes por desespero”: o aumento exponencial de mortes autoinfligidas, associadas ao abuso de álcool, uso de opioides e suicídio. Estima-se que, entre 1999 e 2017, mais de 600 mil mortes tenham ocorrido nessa população. É justamente aí, entre homens brancos sem ensino superior nem perspectiva social, que Donald Trump encontra os mais fervorosos apoiadores de suas políticas protecionistas e negacionistas.
Com um olhar sociológico treinado para identificar histórias negligenciadas pelas narrativas oficiais, a socióloga Arlie Russell Hochschild, em Stolen Pride: Loss, Shame and the Rise of the Right (Orgulho roubado: perdas, vergonha e a ascensão da direita, em tradução livre), publicado pela editora norte-americana The New Press, em 2024, esboça diversos retratos pessoais, por vezes íntimos e pungentes, de uma comunidade naufragada nesse segundo pesadelo americano.
Tríplice ameaça
Localizada no oeste do estado de Kentucky, entre as montanhas Apalaches, a cidade de Pikeville atende a dois critérios sociológicos estratégicos: está situada no segundo distrito eleitoral mais pobre e mais branco dos Estados Unidos. Outrora orgulhosa de sua economia do carvão — que, como insistem em enfatizar os interlocutores de Hochschild, “manteve acesas as luzes da nação” —, Pikeville hoje enfrenta, como tantas outras comunidades rurais de Kentucky e da Virgínia Ocidental, a tríplice ameaça da escassez de empregos, diminuição populacional e oferta abundante de OxyContin, opioide que atua como um potente analgésico.
Mais Lidas
Hochschild nos coloca uma questão central para compreender a política da era Trump: como explicar que eleitores economicamente dependentes de programas federais, cujas vidas e relações pessoais foram assoladas pela contaminação do carvão, apoiem de forma tão apaixonada plataformas políticas veementemente contrárias à distribuição de renda e à provisão de saúde como um direito e amplamente financiadas por grandes corporações e oligarcas? O caso de Kentucky é ainda mais surpreendente, dado que a região sempre foi um reduto democrata histórico (de Franklin Roosevelt a Bill Clinton) e berço da formação do movimento sindical no país.
Essa não é a primeira vez que Hochschild se aventura nos meandros da base popular da direita norte-americana. Em seu premiado livro de 2016, Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right (Estrangeiros em sua própria terra: raiva e luto na direita americana, inédito no Brasil), seu foco eram as histórias por trás do movimento Tea Party no interior da Louisiana, um dos estados mais pobres e tradicionalmente mais à direita dos EUA. Considerado por muitos como a obra que melhor previu o trumpismo, explica o surgimento da extrema direita norte-americana com base em uma narrativa profunda, de forte cunho emocional, mas oculta sob a retórica política cotidiana e os altos debates acadêmicos.
A ficção emocional mobilizada pela direita conta a história de um grupo de cidadãos e cidadãs em uma longa fila, esperando ansiosamente pela chegada do sonho americano, prefigurado pelas luzes da opulência e da segurança irradiadas do outro lado da colina. Nesse cenário, os “cidadãos de bem” do país estão relativamente à frente de outros grupos, próximos ao destino que lhes seria de direito. Contudo, a fila parou de andar nos últimos anos. À frente, é possível ver — ou, pelo menos, é o que dizem os empreendedores políticos da direita — que um grupo de “fura-filas” está pegando um atalho rumo ao sonho americano: minorias e mulheres beneficiadas por políticas de ação afirmativa, imigrantes ilegais e funcionários públicos. Essa situação só pode ocorrer, acreditam, porque alguém está permitindo essa injustiça: os democratas e as elites liberais que controlam o governo federal.
Stolen Pride é, nesse sentido, uma continuação do esforço interpretativo da ascensão da extrema direita nos EUA. O relato mais comum entre os entrevistados de Hochschild é o de que algo lhes foi roubado. Esse algo pode ser o padrão de consumo e segurança da classe média, a prosperidade regional de seus antepassados ou, simplesmente, a possibilidade de um trabalho que não seja “de mulheres” no setor de serviços. Seja qual for o objeto do roubo, é inegável para os entrevistados que alguma titularidade presumida lhes foi tirada e, com ela, o sentido de orgulho individual. Políticos locais, assistentes sociais, pequenos empreendedores, ex-dependentes químicos, militantes neonazistas, criminosos encarcerados e, sobretudo, comunidades precarizadas em parques de trailers convergem em narrativas centradas na perda de orgulho. Ou, no original em inglês, pride, cuja origem latina (prode) evoca justamente o valor de “ser útil”.
Paradoxo do orgulho
As entrevistas de Hochschild representam um esforço bem-vindo para atravessar “o vazio de empatia” que marca o espectro político atual, conferindo voz e vida àqueles que, como lembra a autora, tendem a ser despersonalizados como trumpistas de coração e alma, sujeitos politicamente ignorantes ou, na maioria das vezes, uma gente ferozmente racista. A elegância com que a autora desmonta esses três epítetos merece ser lida e debatida pela ciência política. Segundo ela, a adesão a Trump é, em grande parte, contingente e ambígua. Para muitos, ele não é um salvador da economia do carvão, mas sim um provocador desagradável, porém forte o bastante para enfrentar os outros provocadores — a mídia tradicional, as universidades, o governo e os moradores das grandes cidades —, percebidos como agentes da globalização motivados a constranger seus perdedores.
Choques econômicos, mesmo quando globalmente benéficos, podem gerar abismos culturais locais. Hochschild argumenta que, no fundo do abismo da economia política dos EUA, encontrou um “paradoxo do orgulho”. Estados democratas prósperos, fartos de oportunidades econômicas, tendem a adotar uma economia moral na qual a posição socioeconômica de um indivíduo é resultado de fatores complexos e moralmente arbitrários, como classe, raça, gênero e o setor econômico no qual ele trabalha.
Do outro lado da divisão, estados republicanos brutalmente afetados por fatores estruturais da economia reproduzem uma economia moral centrada na ética do trabalho individual, segundo a qual o sucesso ou fracasso econômico depende exclusivamente da disposição para o trabalho duro. Enquanto apenas 22% dos democratas acreditam que as pessoas se tornam ricas pelo seu próprio esforço, esse número sobe para 71% entre os republicanos. É nesse cruzamento entre uma economia moral do orgulho e estratégias de evitar a vergonha que Hochschild localiza a guinada à direita de lugares como Pikeville.
Hochschild confere voz e vida aos despersonalizados como trumpistas de coração e alma
Já a tese de que os perdedores da hierarquia da estima possuem uma concepção relativamente positiva das relações raciais é um dos argumentos menos convincentes de um livro brilhante em outros aspectos. Isso porque Hochschild tende a conceber o racismo como um conjunto de doutrinas ou ideias articuladas intelectualmente pelos indivíduos. No entanto, sabemos que formas de subordinação podem se tornar práticas sociais independentemente de uma adesão intelectual por seus promotores. Reações racistas não precisam se apoiar na crença explícita de desumanização dos negros, por exemplo, para pressupor que a posição dos brancos deve permanecer superior na economia moral do país.
Stolen Pride demonstra, de fato, que a base rural trumpista aceita um lugar para negros, mulheres e talvez até para imigrantes (desde que “trabalhem duro”) dentro da sociedade. O que não fica tão evidente é que essa mesma base tenha aceitado em algum momento — seja hoje ou nos anos dourados do New Deal marcados pela exclusão racial sulista — uma posição de igualdade entre homens e mulheres, brancos e negros.
“Por mais terrível que seja” a vida dos trabalhadores pobres brancos nos EUA, responde James Baldwin, “eles ainda possuem um enorme conforto: pelo menos, não são negros.” Um choque econômico sem precedentes e décadas de inclusão social talvez estejam minando as bases dessa segurança e, com isso, exigindo formas de agência política igualitária ainda por serem forjadas.
Editoria especial em parceria com o Laut
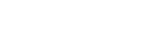
O LAUT – Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo realiza desde 2020, em parceria com a Quatro Cinco Um, uma cobertura especial de livros sobre ameaças à democracia e aos direitos humanos.
Matéria publicada na edição impressa #92 em abril de 2025. Com o título “Pesadelo americano”
Porque você leu Laut | Liberdade e Autoritarismo
A ameaça autoritária na educação
Identificar os riscos de radicalização e fortalecer a democracia são essenciais para retomar a confiança no conhecimento científico
JUNHO, 2025





