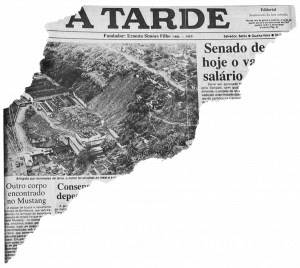A cobertura especial d’A Feira do Livro, que acontece de 14 a 22 de junho, é apresentada pelo Ministério da Cultura e pela Petrobras
MINISTÉRIO DA CULTURA E PETROBRAS APRESENTAM

A FEIRA DO LIVRO 2025, Meio ambiente,
O arquipélago de matas
História visual da exploração da Mata Atlântica registra ação humana e espécimes sobreviventes, alertando para dimensão ética da preservação
26maio2025 • Atualizado em: 27maio2025 | Edição #94“Verdadeiras ilhas no meio de uma vegetação frondosa”, escreveu o engenheiro e explorador Gentil Moura, em 1913, sobre os poucos trechos abertos nas matas densas do extremo oeste paulista. Mais de cem anos depois, o cenário se inverteu: da imensa floresta que se estendia ao sul do rio Tietê, restam ilhotas de mata isoladas, em uns poucos territórios protegidos. A região fazia parte da Mata Atlântica primária, vasto bioma de 150 milhões de hectares que se estendia por dezessete estados brasileiros, do qual existem hoje apenas fragmentos que não representam mais do que 12,4% da formação original.
Como isso se deu, exatamente? Desflorestamento é a palavra simples que reduz o processo ao seu efeito. Quando isolamos cada episódio de destruição de seu contexto específico, ou definimos cada corte de árvore ou remoção de mata como desmatamento, corremos o risco de criar uma desconexão com a materialidade desses eventos. É precisamente a isso que Remanescentes da Mata Atlântica, de Ricardo Cardim, parece se contrapor: à “grave desconexão da população” com a história da devastação desse bioma, e sobretudo com o que dele sobreviveu.
Árvores multisseculares não são valiosas apenas por seu passado, mas pela interação com seres presentes

Reunindo centenas de imagens raras da Mata Atlântica, o livro apresenta uma história visual do ápice do processo de extração — os últimos 150 anos —, que não à toa coincidem com a atuação humana mais voraz no bioma. Em uma imagem de 1916, vemos centenas de troncos empilhados sobre uma fileira interminável de vagões. Em outra, de 1913, guardas armados da empresa norte-americana Southern Brazil Lumber and Colonization posam com trajes em estilo cowboy. Vemos homens entre serras, correntes, machados e tratores, ou posando sobre cepos de árvores derrubadas, troféus da conquista da mata. No conjunto, o acervo revela como a vegetação foi gradualmente consumida.
As fotografias nos comovem ao apresentar exemplares históricos e monumentais de perobas, jequitibás, jatobás, jacarandás, cedros e nos afetam ainda mais porque o registro é inseparável do processo que as remove. O próprio ato de documentá-las já as mostra inseridas na cadeia de extração e revela a dinâmica que define seu destino. Este destino, o livro mostra, não se limitou ao consumo de luxo, na forma de móveis nobres.

A história visual da Mata Atlântica nos permite ver como essas árvores se tornaram a base material para o crescimento das metrópoles, São Paulo em particular. Não só sustentaram obras de infraestrutura urbana; serviram de estrutura para casas, abasteceram indústrias, tornaram-se os dormentes para a expansão da malha ferroviária que escoava a própria floresta, além da lenha que movia seus trens.
Estranha sociedade
Mais impactante que o registro de derrubada das matas é a documentação que Remanescentes da Mata Atlântica faz de árvores sobreviventes, destacando enormes exemplares ainda firmes e fortes no bioma. Somos surpreendidos com fotografias contemporâneas de figueiras e gindibas com sapopembas esculturais, de jequitibás e sapucaias com troncos mais largos que os das sequoias norte-americanas, e até do maior pau–brasil conhecido em território nacional, a poucos quilômetros do monte Pascoal, na Bahia.
Mais Lidas
Vivendo sobretudo dentro de reservas, esses raros exemplares são as poucas anciãs de uma “estranha sociedade”, como define Cardim, “onde não existem mais adultos e idosos”, apenas a população jovem. Sabemos pouco sobre as relações desses seres multisseculares com a comunidade que os cerca — das árvores mais jovens às epífitas em suas copas, dos insetos em seus troncos aos pássaros que as visitam. Também é incerta a extensão dos impactos de seu desaparecimento. O que se sabe é que a maior parte dos trechos remanescentes já não abriga árvores tão antigas.
A Mata Atlântica hoje é um complexo formado por 245.175 fragmentos — um arquipélago de ilhas florestais, em sua grande maioria circunscritas em territórios menores que cinquenta hectares (um terço do Parque Ibirapuera). Alguns, com não mais que três hectares, são microcomunidades com fauna e flora isoladas, incapazes de trocar sementes e pólen com outros ambientes. Sem conexão entre si, são ilhas vulneráveis.
Direito de existir
Remanescentes da Mata Atlântica termina com retratos de pequenos capões, isolados entre plantações, e de árvores enormes erguendo-se solitárias no meio da monocultura. Curiosamente, estamos acostumados a essas imagens, que compõem grande parte da paisagem rural. A constatação de que as naturalizamos é a provocação final do livro.
Tendo visto tantas árvores derrubadas, e outras tantas que permanecem, enxergamos melhor o que não existe mais e o que está prestes a sucumbir. E talvez esse seja um dos objetivos do autor: fazer um apelo indireto não só à conservação, mas à existência.
O vocabulário da preservação costuma operar num duplo registro, entre a memória da “opulência original” e o que as próximas gerações ainda poderão conhecer. Mas, como Ricardo Cardim mesmo nota, existe um “componente ético sempre desconsiderado”, que é o direito dessa biodiversidade “simplesmente existir em paz”. As florestas não são um “patrimônio” a ser “defendido” e deixado “para as futuras gerações”; elas são compostas por existentes.
As árvores multisseculares que ali vivem não são valiosas apenas por seu passado ou por sustentarem possibilidades de futuro, mas por si próprias. Sua importância está nas relações que mantêm com os seres do presente, com os quais interagem, nelas moram, delas se alimentam.
Como defendem as organizadoras da coletânea Vozes vegetais (Ubu, 2021), já é tempo de aprendermos a “vegetar o pensamento” — de perguntar como fazer alianças e “ouvir as vozes vegetais tão diversamente traduzidas”. Isso pode implicar também em pessoalizar a natureza, reconhecendo legalmente seu estatuto de sujeito, como fizeram Equador, Colômbia e Panamá, e, ontologicamente, fazem povos da floresta.
A Feira do Livro 2025 · 14 — 22 jun. Praça Charles Miller, Pacaembu
A Feira do Livro é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais, Associação Quatro Cinco Um, organização sem fins lucrativos dedicada à difusão do livro e da leitura no Brasil, Maré Produções, empresa especializada em exposições e feiras culturais, e em parceria com a Prefeitura de São Paulo.


Matéria publicada na edição impressa #94 em maio de 2025. Com o título “O arquipélago de matas”
Porque você leu A FEIRA DO LIVRO 2025 | Meio ambiente
Escrita sobre demolição
Desastres reais em Salvador e Maceió inspiram coletâneas de contos que ajudam a produzir novas memórias sobre as tragédias
SETEMBRO, 2024