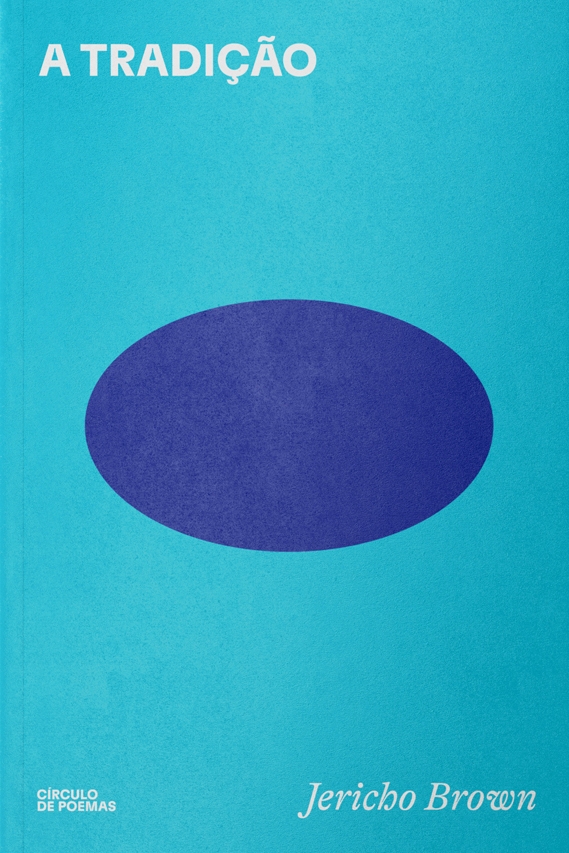A Feira do Livro, Poesia,
Qual tradição?
Jericho Brown sonha futuros ainda melhores do que os sonhados pelos nossos ancestrais
08maio2023 | EdiçãoUma das perguntas que eu havia preparado para a entrevista com Jericho Brown, vencedor do Prêmio Pulitzer de poesia de 2020 com o livro A tradição, recém-lançado no Brasil, dizia respeito ao papel da voz e do corpo na constituição de sua poética. Desisti de fazê-la porque, já no início da entrevista, realizada por videoconferência, o poeta estadunidense se revelou um performer de muitos recursos gestuais e vocais, dos quais faz parte uma tonitruante gargalhada que, não raro, ele interrompe abruptamente para voltar a discorrer, com uma erudição que nada tem de pedante, sobre o que lhe foi perguntado.
Com 47 anos, completados no dia 14 de abril, Jericho Brown é um dos nomes mais aclamados da poesia contemporânea de seu país. A tradição é seu terceiro livro e segue a trilha vitoriosa dos dois primeiros — Please, que recebeu o American Book Award de 2009, e The New Testament, ganhador do Anisfield-Wolf Book de 2015. Brown é atualmente professor associado de inglês e redação criativa e diretor do programa de escrita criativa da Emory University, em Atlanta, Geórgia, onde também atua como editor de poesia da revista The Believer.

Esse histórico de inquestionável “sucesso” explica, ao menos em parte, o interesse da Luna Parque/Fósforo pela poesia superlativa, necessária e pensada de Brown. O que, óbvio, é digno de aplausos, principalmente se levarmos em conta a importância do conceito de “autoria negra” para a saúde atual do sempre instável mercado editorial brasileiro. Impossível desconsiderar o sentido profundo — político e cultural — da publicação, com uma distância temporal de apenas quatro anos (num Brasil ainda às voltas com o elogio da morte praticado pela extrema direita, que até meses atrás ocupava os mais altos postos da República) da obra de um autor “estrangeiro” — e “negro” e “queer” — que, mais e mais, confirma-se como uma das forças emergentes da literatura do seu país de origem.
A poética refinada e complexa de Brown é um contínuo e desconcertante exercício de alteridade
E é aí que residem os dois únicos (nada pequenos) problemas desse livro que não hesito em definir como um dos grandes acontecimentos relacionados à poesia, no Brasil, neste primeiro semestre de 2023. Primeiro problema: a publicação dos poemas apenas em português, em que pesem a competência técnica e a expertise poética da tradutora Stephanie Borges (tão evidente é a atenção de Brown para com a organização do poema em termos de infraestrutura sonora e visual que a possibilidade de cotejar texto original e versão só faria aumentar o prazer da leitura).
Segundo: a ausência de um ensaio introdutório, que contextualizasse para o público a poética refinada e complexa de Brown, cheia de pontas soltas, a oscilar conscientemente entre o narrativo, o descritivo, a memória imaginante, a crítica do real imediato, um contínuo e desconcertante exercício de alteridade e a exploração das tensões entre o micro e o macro.
“Poemas são difíceis”, disse-me Brown na entrevista. Longe de se apresentar como “lugares seguros”, os poemas de A tradição se estabelecem como uma espécie de atravessamento da “maquinaria do espírito” que realiza uma minuciosa decupagem do imaginário construído pelo racismo ao mesmo tempo que reivindica o retorno da palavra poética a uma posição mais digna, isto é, audível e visualizável, nos debates sobre a vida e o mundo deste agora expandido e, até onde alcanço, sem grandes perspectivas de futuro. Ao fim de mais uma leitura do primeiro livro de Jericho Brown que me chega às mãos, intuo que a tradição a que alude o título desse livro em todos os sentidos admirável diz respeito, tão só, ao verdadeiro prodígio que é uma pessoa poeta, em pleno século 21, sentir-se autorizada a sonhar para as comunidades que integra futuros ainda melhores do que os sonhados pelos nossos ancestrais.
Mais Lidas
*
Um poema escrito por um homem negro queer parte de um mito grego para tecer finas considerações acerca da cultura contemporânea: quando li “Ganimedes”, que abre A tradição, sorri ao perceber que me encontrava diante de um poeta que toma a poesia como um campo de conhecimento aberto ao diálogo com as múltiplas faces de um tempo como o nosso. Por que a poesia, Jericho?
A resposta está dentro da pergunta, em muitos sentidos. Eu acho que a poesia, mais do que qualquer outra arte literária, é capaz de colapsar o tempo e o espaço, porque ela se move em certa velocidade. Há algo na forma que nos pede para estar preparados para saltos e nos convoca para saltos no tempo e no espaço. Quando nos aproximamos de um poema, trazemos toda a nossa própria história para perto dele, e essa é uma das coisas mais assustadoras no poema. As pessoas têm grande expectativa com relação à poesia, especialmente se não são leitoras regulares, de que, quando chegarem à última linha, serão mais sábias e melhores. Os poemas mais bem-sucedidos, para mim, são aqueles em que eu brinco com a linguagem.
Olhar determinados mitos de determinados jeitos: seria essa uma das atribuições da poesia hoje?
Sempre me perguntam qual é a função da poesia, e eu respondo que é dizer a verdade. A linguagem aparecerá como deve aparecer, e se você está comprometido com a verdade, encontrará a linguagem adequada e, sem dúvida, quando esse poema ganhar a luz do dia, será um grande poema. O mito tem esse interesse em chegar à verdade por meio da linguagem. Eu me interessei pelo mito, em primeiro lugar, porque frequentava a igreja negra quando criança. Depois vieram os mitos gregos, que se proliferaram em minha vida como uma evidência de que recebi, nos Estados Unidos, uma boa educação. Eu sabia que os mitos não eram a verdade, e sim uma construção da verdade. Quero que meus poemas ascendam a uma dimensão mitológica. Quero que os meus poemas, a minha voz, a minha língua e até o meu estilo tenham algo de mito.
“Transformei minha mãe numa avó. Ela/ agradece/ beijando meus filhos.” Acontece que seus filhos só existem na sua imaginação, na realidade física da página impressa. Você chegou, alguma vez, enquanto escrevia esses versos e os outros poemas em que cita figuras fictícias, a conversar com essas criaturas imaginadas? Em caso afirmativo, de que assuntos trataram?
Sim, sempre. Existe um irmão no meu segundo livro, e eu nunca tive um, então eu converso com esse irmão, porque ele apareceu e eu tive que perguntar: “O que é que você está fazendo aqui?”. Quando você está digitando, você escreve o que te parece certo, ou o que rima, então, se aparece a palavra “irmão”, vários escritores diriam: “Eu não tenho um irmão”, e riscariam a palavra irmão. Eu não sou desse jeito. Quando escrevo a palavra irmão, ela soa para mim como qualquer outra. É a mesma coisa quando digo “filhos”. Sim, eu tenho conversas muito estranhas com esses personagens que não existem, porque os meus poemas têm necessidade deles. Independentemente de eu ter filhos, tenho o desejo humano de conversar não só com o futuro, como também com a possibilidade de haver pessoas negras no futuro.
‘Acho que os poemas nos tornam mais desconfortáveis, e que devem fazer isso’
Sua resposta revela uma noção muito pouco óbvia de ancestralidade. Pode discorrer mais a respeito?
Há duas questões aí. Neste momento, estou falando literalmente dos meus ancestrais, não das pessoas negras sequestradas no continente africano em geral. Meu avô teve treze filhos. Ele era filho de pessoas escravizadas e, com certeza, foi neto de pessoas escravizadas. De um modo ou de outro ele tinha a ideia de que suas crianças deveriam ter educação, ir para o colégio e a universidade. Ele intuía que a educação faria dos filhos indivíduos mais capazes, mais preparados, mais confiantes, mais sabidos, com uma posição melhor na sociedade.
Fico maravilhado com duas coisas, que não dizem respeito apenas aos ancestrais da minha família. Primeiro: essas pessoas escravizadas e seus descendentes imaginaram algo melhor para mim. Você pode estar num mundo em que alguém pensa que é seu dono, e você pensa que um dia vai ter tataranetos, e que eles não serão propriedade de ninguém. Se a ideia está na cabeça do meu pai, e eu, Jericho Brown, estou vivo, então o meu avô está vivo. Segundo: existem coisas que meus ancestrais não imaginaram. Por exemplo, as liberdades de que eu desfruto. Partindo do fato de que essas pessoas só viam em torno os campos de algodão, meu avô nem sequer poderia imaginar que seria possível viver como eu vivo. Eu posso imaginar um futuro melhor, e ele será ainda melhor, de uma maneira que eu não posso imaginar. Adoro isso.
“Um poema é um gesto em direção ao lar”, você escreve em “Duplex”, no qual faz menção às “exigências sombrias” feitas tanto por um poema como pela memória. Escrever um poema, então, não é a saída mais confortável para evitar as “exigências sombrias” feitas pela memória.
O poema não é um lugar seguro. Sei que, como poetas, queremos propagar todas as razões pelas quais a poesia é tão boa para nós, tão bonita, porque nós a amamos tanto, porque deveriam amá-la, deveriam lê-la. Os poemas não tornam as pessoas mais confortáveis; acho que nos tornam mais desconfortáveis, e que devem fazer isso.
Poemas são difíceis. No momento em que você cria uma metáfora, está fazendo acrobacias no seu cérebro. Acho que os poemas nos convocam para nos confrontar, além de nos chamar para dizer a verdade. Poemas ativam a nossa intimidade e vulnerabilidade — isso que nos Estados Unidos é tão evitado, sobretudo pelos homens. Eu mesmo procuro nos poemas o incômodo, algo que não conheço, e que nada tem a ver com atribuir ao poema uma função terapêutica. Pergunto ao poema: “Eu acredito nisso? Se acredito, por que não vivo dessa maneira?”.
Leio “Pá de terra” como uma espécie de “Redemption song”, um belo e terrível poema que poderia ter sido escrito por alguém de qualquer ponto da diáspora africana.
“Pá de terra”, e também os poemas “Os pêssegos” e “Os martelos”, enquanto os escrevia, eu tive muito medo deles. Eu tentava entender o valor, a importância deles, porque os personagens são pessoas das quais eu não gostaria de me ocupar, eu não gosto do que elas fazem. Em “Pá de terra”, um homem está claramente enterrando uma pessoa que foi assassinada, e eu não quero assassinar ninguém. Sempre fiquei assombrado com o fato de que as pessoas podem matar alguém.
Algo em mim quer ter vontade de entender um conjunto de coisas: quero compreender a obsessão com alguns tipos de perversidade a que assistimos na tv. Há programas muito populares, em que a polícia tenta desvendar casos horríveis, programas de serial killers. Por que estamos tão interessados nisso, a ponto de assistir a seis horas seguidas desses programas? Com esses poemas, eu estou querendo responder a essa pergunta com a linguagem, porque também me vejo interessado nesses programas de vez em quando. Eu preciso encarar esses personagens, e isso pode ser visto como uma “Redemption song”, porque, a despeito do que fez esse homem, em “Pá de terra” ele continua a ser uma pessoa. Ele tem sabedoria, ele canta, ele dirige.
Li uma declaração acerca do seu tempo de criança que me tocou muito: “Se houvesse algo que você pudesse fazer aos três, quatro ou cinco anos, isso era encorajado”. Que tipo de artista você era nessa época? Já mostrava interesse pela poesia? Foi encorajado a isso?
Eu sempre fui poeta. A partir do momento em que aprendi a escrever, entendi que as pessoas ficavam empolgadas pelo fato de eu estar escrevendo. Compreendi muito cedo, com cinco ou seis anos, que, para escapar da atenção dos adultos, eu podia ir para um canto e começar a escrever, porque as pessoas diziam “ele está escrevendo” e me deixavam sozinho. Cresci numa família da classe trabalhadora. Meu pai cortava grama, limpava calha, fazia consertos, e minha mãe era empregada doméstica. Então, para escapar desses trabalhos, ou eu teria que fazer o dever de casa ou precisaria inventar uma atividade para mim mesmo, e o meu trabalho era escrever poemas. (Com a colaboração de Natália Alves)
Porque você leu A Feira do Livro | Poesia
Cronista do seu tempo
João Apolinário combateu a ditadura em Portugal e no Brasil, onde deixou versos que entraram para o nosso imaginário
ABRIL, 2024