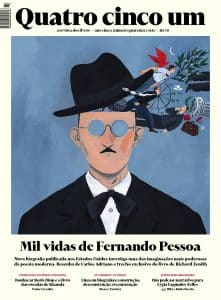Um benguelense em Berlim,
Passaporte da cultura
É por meio da música que as memórias ancestrais são catalogadas e transportadas para o futuro
01jul2021 | Edição #47Ao lado dos brasileiros, o povo mais musical que tive o privilégio de conhecer são os cabo-verdianos. O amor incondicional que nutrem pelo país e por seus ritmos não tem paralelo. Um amor libertador, que não precisa possuir para se validar. Um amor não exigente, mas que se faz presente na língua que todos aprendem a falar desde o berço — ou melhor, a declamar e a cantar desde o ventre. Não é exagero: todos os cabo-verdianos que conheço são poetas.
Embora se reconheça Cesária Évora como sendo a voz que revelou a alma do arquipélago, existe nas montanhas longínquas do interior de Santiago um género que já sofrera os seus desafios de silenciamento. Uma música catártica, crua e negra com a qual gerações novas se reconciliaram e aprenderam a reivindicar a sua herança africana. A música continua a ser o passaporte da cultura cabo-verdiana no mundo. Está presente em todos os momentos marcantes da história do país, e é por meio dela que as memórias ancestrais são catalogadas e transportadas para o futuro.
O amor incondicional que nutrem pelo país e por seus ritmos não tem paralelo. Um amor libertador, que não precisa possuir para se validar
Um dos músicos mais celebrados da nação é Orlando Pantera, um cometa que viveu na terra por escassos 33 anos. Não gravou nenhum álbum, morreu no dia em que iniciaria, em Paris, as gravações do disco que confirmaria aquilo que os habitantes da ilha de Santiago já sabiam: era um génio. E um dos poucos que conseguiu transportar para a canção o sentir das gentes dos campos, os esquecidos, seus ritmos e desejos.
Dizem que inventou um gênero, e sua influência é tão marcante que é difícil imaginar Mayra Andrade e Lura sem Pantera. Quem o viu nos espetáculos de teatro em que colaborou com a companhia de dança Raíz de Pólon, ou com a coreógrafa portuguesa Clara Andermatt; ou no documentário Mais alma, de Catarina Alves Costa; ou ouviu algumas de suas gravações piratas que circulam de mão e mão, quase como um segredo, sente que sem a cultura badia do interior de Santiago a música do autor de “Tunuca” e “Na Ri Na” não teria a mesma profundidade.
Mais Lidas
O próprio, quando inquirido sobre o assunto, não hesitou: “Não se reproduz só o que se ouve, mas também a pessoa, o homem ou a mulher do interior de Santiago; enquanto se toca tem que se olhar a sua boca, o seu cabelo, a sua raiva, se salta de alegria… Tem que se fazer igual, está-se a imitá-lo, reproduz-se o que se ouve, o que se olha, o que se sente”. E o que se sente é batuku, a expressão musical cabo-verdiana que mais se aproxima das tradições do continente — pelo seu estilo de dança, pelos padrões polirrítmicos e pela estrutura vocal de chamada e resposta.
O batuku, para os badis, é o cordão umbilical que liga Santiago à África, uma ponte musical essencialmente construída e preservada por mulheres, as batukadeiras, que habitam as áreas rurais do interior de Santiago, a maior das dez ilhas que formam o arquipélago — e, segundo a versão “oficial” dos mesmos que dizem que o Brasil foi descoberto, a primeira a ser permanentemente povoada e o local onde foi construída a primeira igreja católica em território africano.
Quando trocou Los Angeles por Lisboa, Madonna, a rainha do pop, não resistiu ao ser apresentada às batukaderas
Foi também a ilha que recebeu o maior número de escravizados trazidos dos territórios onde se situam hoje o Senegal e a Gâmbia, o que lhe valeu o título de a mais africana das ilhas de Cabo Verde. Trata-se de um lugar de resistência e resiliência, onde a população negra, aproveitando o caos provocado pelos ataques piratas à cidade de Ribeira Grande, fugia do cativeiro para as montanhas do interior. Os portugueses chamaram de vadios esses grupos de escravizados fugitivos, mas, como o betacismo enquanto fenômeno linguístico é mais antigo que a própria ideia de Portugal, não demorou a popularização do termo badi. Historicamente depreciativo, a partir do século 20 foi sendo reapropriado e promovido a símbolo de resistência nacional e orgulho.
Batukadeiras
Quando trocou Los Angeles por Lisboa e foi apresentada às batukadeiras, Madonna, a rainha do pop, não resistiu ao vê-las sentadas em círculo, com as txabetas de pano enroladas em sacos plásticos e presas entre as coxas, pernas esticadas e tornozelos cruzados. Batia o ritmo com as palmas das mãos abertas enquanto a solista do grupo improvisava versos com uma voz aguda que aumentava de volume à medida que se intensificava o batuku. No rosto das pessoas à volta rasgavam-se sorrisos e assobios, seguindo-se aplausos entusiasmados, quando uma jovem de vinte e poucos anos se levantou e saltou para o meio do círculo. Desenrolou a faixa de pano d’Obra Bicho, exibindo o mesmo padrão listrado usado desde o século 15, no tempo em que esses têxteis serviam de moeda para a compra de seres humanos na África.
Voltou então a enrolar o pedaço de tecido nos quadris, prendendo a ponta da faixa com um nó. Começando por desenhar um movimento lento com as ancas e os pés, à medida que as batukadeiras foram subindo o ritmo, o seu tornô — como é chamado o movimento de ancas que compõe a dança do batuku — acompanhava a subida do tempo que a cada dois compassos aumentava de velocidade, aproximando-se assim do clímax. Os movimentos frenéticos da dançarina e o conjunto de 24 braços marcando o ritmo hipnotizaram todos os presentes, que, em transe, batiam palmas, batiam os pés e gritavam palavras de exaltação, elevando os decibéis de som na sala para níveis quase insuportáveis, pondo o chão em erupção e as paredes e tecto à beira de colapsar.
De repente, o ritmo caiu abruptamente e a jovem terminou o seu solo, voltando a si e passando o pano que tinha na cintura para outra mulher enquanto os espectadores a brindavam com aplausos eufóricos. Para a autora de “Like a Virgin”, aquela experiência com as batukadeiras de Lisboa foi transformadora. Tanto que as convidou para o estúdio para gravar a canção “Batuka”, do álbum Madame X, e levou-as em turnê pelos Estados Unidos e por algumas cidades europeias.
Desde a miscigenação das culturas africanas e europeias, a música badia foi ignorada, desencorajada e proibida
Desde a invenção de Cabo Verde e a subsequente miscigenação das culturas africanas e europeias ocorridas durante a ocupação portuguesa (1460-1975) do arquipélago, as tradições da música e dança dos badius foram ignoradas, desencorajadas e proibidas pelo governo e por líderes religiosos da altura, e, mesmo depois da independência, a caminhada para a aceitação foi longa. Os primeiros registros do género remontam a 1772, e não precisamos de grande esforço para perceber que a camada social de onde provêm as batukadeiras é aquela com menos acesso a recursos económicos e a mais fragilizada socialmente. É também a mais estigmatizada, tanto no que diz respeito às questões de género como de classe.
Mas somos confrontados com a forma desarmante como Nha Balila, uma das batukadeiras mais celebradas, descreve o género, dizendo que o batuku é a melhor tradição do mundo: “Anima-me, consola-me… Si n’sta tristi n’ta bira algre. Si n’sta ku fomi n’bira fartu (Se estou triste, alegra-me. Se estou com fome, sacia-me)”. Sabendo que ela já passou dos noventa anos e sentiu na pele e no estômago quão caprichosa e rara é a chuva naquelas terras, como não nos comovermos? Viva o batuku!
Matéria publicada na edição impressa #47 em julho de 2021.
Porque você leu Um benguelense em Berlim
Angolanês
Os países africanos utilizaram as línguas europeias para forjar sua unidade nacional, mas agora precisam recuperar o legado de suas línguas autóctones
JUNHO, 2022