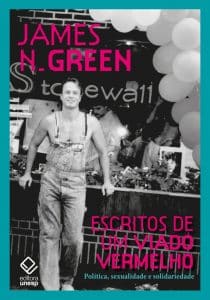

Em 1977, a figura do norte-americano James Green chamava a atenção entre as pessoas que ocupavam o Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, num dos primeiros atos públicos contra o regime militar iniciado em 1964. Observado por um manifestante enquanto gritava em bom português “Abaixo a ditadura”, Green ouviu quando ele comentou: “Até gringos querem o fim da ditadura”.
A história ilustra bem o início da trajetória política e intelectual do brasilianista, que chegou por aqui em agosto de 1976 planejando ficar por seis meses e acabou morando por seis anos. Jimmy ou Jim, como é conhecido, é “um gringo que se apaixonou pelo Brasil” há quase cinquenta anos.
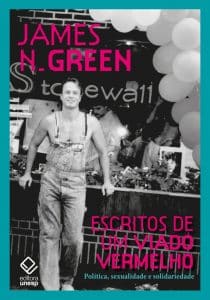
Por aqui, além de se envolver na resistência à ditadura, foi um dos ativistas fundadores do movimento LGBTQIA+ brasileiro e, mesmo depois de voltar para os Estados Unidos, construiu uma sólida carreira acadêmica como historiador especializado em América Latina, focado no Brasil.
Boa parte dessa história está narrada em Escritos de um viado vermelho, reunião de memórias, artigos acadêmicos e publicações na imprensa. O título pode soar ousado para a sisudez acadêmica, mas não para quem conhece Jim e sua crença, desde sempre, de que sua militância de esquerda e a luta pelos direitos LGBTQIA+ deviam caminhar juntas.
Livro narra a repressão aos dissidentes sexuais e de gênero durante a ditadura e suas formas de resistência
O volume é lançado ao mesmo tempo em que o autor se aposenta da cátedra que ocupava na Universidade Brown, a prestigiosa instituição norte-americana do seleto grupo das Ivy League. A aposentadoria, no entanto, não encerra os projetos de escrita, produção cultural e atuação política, como ele revelou à Quatro Cinco Um.
Sua história com o Brasil começa em 1973, quando você lidera um grupo de discussão sobre o país e conta ter lido uma edição em inglês de Quarto de despejo, da Carolina Maria de Jesus. O que te marcou no livro?
Mais Lidas
Eu não sabia nada sobre o Brasil. Conto no livro que minha professora de geografia passou uma aula falando sobre Brasília, mas ou eu era mau aluno ou ela má professora, porque eu entendi que a cidade ficava dentro da selva amazônica, com papagaios e cobras. Quando me ofereci para liderar essa discussão, fui buscar mais informação e um dos livros que estava nos sebos na Filadélfia era o Quarto de despejo. Li e fiquei muito impactado. É um livro que uso em meus cursos porque mostra a vida de uma pessoa muito lutadora, de como sobrevivia como catadora de lixo, com todas as suas contradições.
Como se deu esse processo de total desconhecimento até se tornar um “gringo apaixonado pelo Brasil”?
Eu passo por uma conscientização política intensa na virada dos anos 60 para os 70, muito envolvido no movimento contra a Guerra do Vietnã, contestando a política exterior dos Estados Unidos, inclusive analisando que a América Latina seria a próxima intervenção séria. Encontrei, em Washington, o Comitê Contra a Repressão no Brasil, fundado por um exilado chamado Marcos Arruda, que havia sido preso e torturado pela ditadura. Sua família conseguiu tirá-lo do país e ele tinha organizado esse grupo para protestar contra a visita do presidente [Emílio Garrastazu] Médici à Casa Branca, em 1971.
Fiquei fascinado pela cultura do Brasil. Cheguei para ficar seis meses e acabei ficando seis anos
Ao me aproximar dele, conheci sua irmã, Martinha Arruda, que se tornaria uma grande amiga. Por conta da repressão, ela estava com receio de voltar ao Brasil e me convidou a acompanhá-la em uma viagem pela América Latina. Nos encontramos na Guatemala e de lá descemos pela América Central, passando pela Colômbia e depois de barco pelo rio Solimões até Manaus. Depois, chegamos ao Rio e em
São Paulo. Fiquei completamente fascinado pelas pessoas e pela cultura do Brasil. Cheguei para ficar seis meses e acabei ficando seis anos, em meio ao processo de redemocratização.
Essa descoberta do Brasil foi concomitante à da sua homossexualidade? Como foi a saída do armário?
Não tem uma relação direta, exceto que quando ouvia “Garota de Ipanema”, ficava imaginando um garoto andando pelas ruas do Rio de Janeiro [risos]. Reprimi muito minha sexualidade. A descoberta pessoal foi uma continuação dessa militância política. Exemplo disso é que fiz um protesto em uma boate gay que discriminava pessoas trans, negras e mulheres antes mesmo de entrar em uma boate. Só depois é que passei a frequentar esses espaços.
Você relata que no início da década de 70, a maior parte das forças progressistas no mundo associava a homossexualidade à decadência burguesa. Tinha uma expectativa diferente sobre o cenário no Brasil?
Honestamente, eu tinha uma noção muito pobre sobre o Brasil. Nunca tinha visto um desfile de escola de samba nem na televisão. Cheguei aqui não com uma grande expectativa sobre sexualidade, estava mais interessado na questão política e sem saber caí justamente num momento de abertura, de possibilidade de mudança. Eu tinha passado por essa experiência nos Estados Unidos, entre 1968 e 1972, durante minha universidade. Foram anos muito intensos de contracultura, de transformações sociais. Quando chego aqui, começo a acompanhar o mesmo processo. Ganhei outro 1968 ou, no caso do Brasil, o que eu chamo da “geração 1977”. Isso me dá muita alegria porque, chegando aqui, entrei no Somos [grupo fundado em 1978, considerado o embrião do movimento LGBTQIA+], liderando a ala esquerda do grupo.
João Silvério Trevisan lança segundo volume de memórias e repassa a história do país e de suas dores
Você diz que o Somos e a militância política integraram as partes mais importantes da sua identidade. Mas o grupo acabou rachando numa discussão sobre autonomia ou alinhamento a outros movimentos sociais. Por quê?
Eu tinha entendido que a minha luta como gay era totalmente relacionada à luta dos negros nos Estados Unidos, à das mulheres, pelas reivindicações democráticas. Aqui no Brasil, queria levar essas perspectivas para o Somos. As pessoas que eram contra tinham três razões: uma preocupação de que um partido da esquerda pudesse manipular o movimento, a crítica de que a esquerda era homofóbica e a terceira era uma paranoia de uma nova geração pela experiência de viver durante uma ditadura. Acho que a crítica de que o movimento tinha que ser autônomo é válida, mas eu defendia que devia abrir espaço para qualquer tendência oferecer suas ideias.
Nos anos 90, quando você retoma sua pesquisa no Brasil, percebe que havia poucos trabalhos sobre diversidade sexual e de gênero. A academia não acompanhava essas transformações?
O movimento LGBTQIA+ surge em 1978, mas há um declínio drástico em 1982 e 1983. Foram vários fatores: cansaço dos líderes originais dos grupos, falta de financiamento e uma crise econômica muito séria em 1983, com recessão no país. Justamente nesse momento começa a vir a aids para cá. O movimento só volta em 1995, quando se organiza o primeiro congresso internacional no Rio de Janeiro da Ilga [sigla da Associação Internacional de Gays e Lésbicas] e a primeira Parada, com 2 mil pessoas.
Na universidade, a homofobia era muito forte. Se você queria estudar a questão, não encontrava orientador ou orientadora. A maioria dos gays tinha muito medo de se assumir porque seriam taxados. Eram poucas pessoas como Peter Fry, na Unicamp, que topou, como gay assumido, receber o Edward MacRae para fazer o trabalho clássico dele, A construção da igualdade.
Você conta sobre vários empregos mal-remunerados que aceitou para se manter na militância. Como decidiu voltar à universidade para acabar se tornando uma referência nos estudos de gênero e sexualidade?
Em 1981, recebi um convite para voltar aos Estados Unidos e militar em um novo agrupamento. Mudei de empregos e posições de militância durante toda a década. Em 1989, já cansado de ser militante profissional e carente de voltar ao Brasil, encontrei um caminho na academia. Queria fazer um estudo comparado entre os movimentos homossexuais no Brasil e na Argentina durante as transições democráticas. Mas, ao chegar aqui de novo, encontrei um material rico no Arquivo Público do Estado de São Paulo, com a história de homossexuais internados em hospitais psiquiátricos e manicômios. Meu orientador me estimulou a fazer uma história social, mergulhando nos acervos e fazendo essa garimpagem de material. Assim surgiu meu livro Além do Carnaval (Unesp, 1999).
Parte dessa onda conservadora, em muitos lugares, é mobilizada pela homofobia
Você foi apontado como namorado da Dilma por sites de fofoca e contou que se surpreendeu positivamente ao conhecê-la. Quais eram suas críticas?
Por exemplo, em relação ao “kit gay”. A maneira como a Dilma, sob muita pressão, com a direita e os evangélicos tentando orientar os professores nas escolas públicas sobre como tratar a questão da identidade sexual e de gênero, recuou e decidiu dizer: “Não vamos mais falar sobre isso, acabou”. Fiquei muito decepcionado.
Quando a entrevistei para o meu livro sobre o Herbert Daniel, Revolucionário e gay, perguntei sobre questões internas da organização e pessoas que eu desconfiava que eram gays, e ela tinha tranquilidade de falar disso, o que me surpreendeu. Começamos uma certa amizade, estive na casa dela em Porto Alegre e sentia uma abertura pessoal que não tinha na figura pública. Ela tinha amigos gays, me contava sobre eles, e também fazia perguntas que indicavam que não tinha conversado muito sobre o assunto. Depois nos afastamos, mas foi um acesso a uma pessoa com um olhar interessante sobre o país.
Como foi biografar Herbert Daniel, este outro “viado vermelho”, que foi guerrilheiro com Dilma e se tornou um musical em São Paulo e logo deve virar também um filme?
Não cheguei a conhecer o Daniel pessoalmente, mas fiquei fascinado com a história dele, que escondeu sua sexualidade por anos para poder militar na esquerda. Li seu livro de memórias, Passagem para o próximo sonho, e passei a procurar outras fontes até que conheci uma professora que tinha o telefone da mãe de Daniel. Liguei para ela e fui para Belo Horizonte no dia seguinte para entrevistá-la. Foi uma jornada linda e muito longa, com mais de oitenta entrevistas. Eu queria oferecer uma referência de uma figura que tivesse uma trajetória plural e densa como a de Daniel para a esquerda brasileira e para o movimento LGBTQIA+. Desde que o livro saiu, ele inspirou diversas obras e é muito legal de ver uma pessoa que era pouco conhecida virar uma referência para as atuais gerações.
Depois de quase cinquenta anos de envolvimento intenso com o Brasil, como avalia o que vem pela frente?
Sou otimista e pessimista ao mesmo tempo. Mundialmente, a extrema direita está avançando e consolidando seu poder ao mobilizar sentimentos fascistas com nacionalismo e ressentimento em um contexto de condições precárias de vida. Além disso, há uma situação de polarização tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e na Europa que me preocupa muito. Parte dessa onda conservadora, em muitos lugares, é mobilizada pela homofobia. Veja, por exemplo, a Rússia, que acabou de decretar que o movimento LGBTQIA+ é uma organização terrorista. Ao mesmo tempo, vejo um movimento amplo e plural que vai conquistando cada vez mais espaço na sociedade brasileira. Me emociono demais porque éramos poucos e era muito difícil. Conseguimos muito mais do que podíamos imaginar lá atrás. No entanto, não podemos recuar porque é um momento de ofensiva contra nossos direitos.
Porque você leu Livros e Livres
A arte da sedução
Coletânea reúne 21 poetas e artistas visuais que exploram nuances e sombras da experiência homoerótica com a marca da insubmissão
JULHO, 2025






