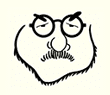
Paulo Roberto Pires
Crítica cultural
Sim, nós temos caju
Elizabeth Bishop não faria feio no enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel, que faz do caju o símbolo da complexidade do país
06fev2024 | Edição #79Sim, nós temos caju, lembra o enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel oitenta e seis carnavais depois de “Yes, nós temos bananas”. Se a marchinha de Braguinha e Alberto Ribeiro era, nos anos 1930, a súmula do exotismo de exportação, o carnaval que abrirá o segundo dia de desfiles no Sambódromo sugere um novo símbolo pátrio, de sentido mais complexo. O país que Ivan Lessa já chamou de Bananão é, quando representado pelo fruto da Anacardium occidentale, pura mistura: polpa e caroço, carne e castanha, suculência e travo, iguaria e veneno. Na sinopse do enredo, de Fábio Fabato e Marcus Ferreira, Torquato Neto é referência no olhar tropicalista que incorpora “completamente tudo o que a vida dos trópicos pode dar”.
No samba “Pede caju que dou… Pé de caju que dá!” — de autoria multitudinária, reunindo Diego Nicolau, Paulinho Mocidade, Marcelo Adnet (sim, ele mesmo), Richard Valença, Orlando Ambrósio, Gigi da Estiva, Lico Monteiro e Cabeça do Ajax — coexistem em carnavalesca balbúrdia Debret e Caetano Veloso (e sua “Cajuína”), Tarsila do Amaral e mitologia indígena. Aos meus ouvidos deformados pela leitura, está faltando gente aí. Acrescento, portanto, à lista de idiossincrasias tropicais a sóbria Elizabeth Bishop. Afinal, foi por conta de um caju que ela foi ficando no Brasil e, por aqui, virou a “Dona Elizabetchy”.
A peripécia, meio poética, meio prosaica, faz parte do anedotário em torno da poeta e está contada uma vez mais, sem muita graça, em Elisabeth Bishop: uma biografia. O autor, Thomas Travisano, é fundador da “Elizabeth Bishop Society”, o que garante ao texto semitons de reverência e interpretações ostensivas da obra pela vida. Estranhamente, o biógrafo é comedido ao comentar um episódio decisivo na trajetória de sua personagem.
Descoberta da fruta
Petrópolis, dezembro de 1951. Gosto de imaginar Elizabeth — e a anarquia de um samba enredo me autoriza a fazê-lo — passeando na companhia de uma conhecida de Nova York, Lota de Macedo Soares. De um rádio, ligado bem alto, vem o samba que, no futuro, na virada de 2023 para 2024, seria campeão de execução nas plataformas de streaming. “O mel escorre, olho claro se assanha/ Se a polpa é desse jeito, imagine a castanha”, canta, sacana, Paulinho Mocidade. E a poeta, que estava de passagem, na escala de um tour que deveria levá-la, de navio, a outros países da América Latina, decide conferir o que ouve: vai com tudo na fruta, a seus olhos exoticíssima.
“Só dei duas mordidas num caju, duas mordidas muito azedas”, conta Bishop em carta a Any Baumann, sua médica, em janeiro de 1952. “Naquela noite meus olhos começaram a arder, e no dia seguinte comecei a inchar — e inchar e inchar; eu não sabia que era possível uma pessoa inchar tanto assim. Durante mais de uma semana fiquei sem enxergar nada”. Recuperando-se lentamente da zica — os remédios ainda provocaram eczemas e acordaram uma velha asma —, ela prossegue: “Ontem eu estava me sentindo muito melhor, tanto que resolvi lavar a cabeça, e desmaiei. A pobre da minha anfitriã [Lota] ficou tão assustada que começou a desmaiar — sem dúvida, é a anfitriã perfeita. Foi muito engraçado”.
‘É uma fruta de aparência sinistra, uma combinação indecente de fruta com castanha — e não é que eu tive que vir até o Brasil para descobrir?’
Não foi pouco o que lhe deu aquele caju: um colapso de saúde e um amor. A “anfitriã perfeita” também traria amigos, que passaram a cercar de mimos, receitas milagrosas e remédios a visitante acamada. “Os brasileiros ficam na maior animação quando tem alguém doente — acho que minha doença fez com que eles se afeiçoassem a mim”, observa ela, certeira, sobre um comportamento nada raro nas latitudes do caju. O resto, como se sabe, é história (e filme e livro e lenda): uma das maiores poetas do século 20 passou a morar entre o Rio de Janeiro e Samambaia, lugarejo nas montanhas em torno de Petrópolis, onde viveu uma paixão avassaladora e escreveu parte significativa de sua obra.
Outras colunas de
Paulo Roberto Pires
Mas o que o caju dá, o caju toma: o Brasil, que lhe trouxe a felicidade na adversidade, jamais concederia uma sem a outra, no que há de frívolo e de grave. Depois de uma segunda crise alérgica, ao que tudo indica provocada apenas pelo cheiro do caju — desta vez era Lota quem comia a fruta —, ela escreve a Kit e Ilse Baker, casal de amigos ingleses: “É uma fruta de aparência sinistra, uma combinação indecente de fruta com castanha — e não é que eu tive que vir até o Brasil para descobrir?”
‘A sociedade no Rio é inacreditável. Proust nos trópicos, com um samba no lugar da pequena frase de Vinteuil — não, isso seria fácil demais —, mas algo desse tipo’
Paulo Henriques Brito, poeta e tradutor soberbo, responsável pelas não menos do que perfeitas versões em português da poesia de Bishop, confere ao prosaico episódio do caju — pois é disso que aqui se trata — os devidos peso e sentido simbólicos. “O relato tem um curioso sabor mítico: tudo começa, de modo apropriadamente bíblico, com o ato de provar uma fruta desconhecida, tropical”, escreve ele num dos prefácios à antologia Poemas escolhidos, que organizou para a Companhia das Letras. “O que parece indecente a Elizabeth”, escreve ele, “é menos o aspecto vagamente fálico da castanha do que a própria ideia de mistura indevida num só objeto de duas categorias que, para um falante do inglês, são coisas muito diferentes — nut (castanhas, nozes e similares) e fruit (frutas propriamente ditas).”
Há ainda, na interpretação de Brito, outras repercussões, menos imediatas, da singular intoxicação. “Talvez também a choque o fato de o caroço pender da fruta, o fato de uma coisa tão íntima e secreta quanto uma semente vir do lado de fora, nua e desprotegida”, observa. “Para Elizabeth, com suas raízes calvinistas, a distinção entre interior e exterior é apenas um dos princípios ordenadores sistematicamente violados neste país estranho e bárbaro em que o acaso a lançou”.
O Brasil é um horror
Ao poeta Robert Lowell, um de seus melhores amigos, Bishop dedicou copiosa correspondência. Reunida em Words in air (Palávras no ar, em tradução livre), volume editado por Travisano e Saskia Hamilton, as cartas formam um painel detalhado da civilização do caju a partir de seu ponto de vista privilegiado: a elite carioca, que apoiou o golpe militar. “Mas o Brasil é realmente um horror”, escreveu ela em julho de 1953. “A sociedade no Rio é inacreditável. Proust nos trópicos, com um samba no lugar da pequena frase de Vinteuil —não, isso seria fácil demais — mas algo desse tipo.”
Ao longo da década de 50, era comum que Bishop e Lota “descessem” — como se dizia — de Petrópolis para assistir aos desfiles das escolas de samba. Em 1960, ao tentar explicar a Lowell que o carnaval não era bem o que mostrava Orfeu negro, o filme de Marcel Camus que naquele ano vencera a Palma de Ouro em Cannes, Bishop vê mais nuances no país que adotou. “As Escolas de Samba são muito orgulhosas e independentes, ensaiam o ano todo com professores profissionais, e se apresentam; elas nunca se misturariam com a multidão daquele jeito”, comenta ela, sobre as cenas rodadas no cento da cidade. “O Carnaval é uma grande bagunça gloriosa, mas na verdade uma bagunça mais ordenada e artística”.
Não seria, portanto, estranho se “dona Elizabetchy”, veterana frequentadora dos desfiles, se visse em 2024 cantando em uníssono com as arquibancadas: “Meu caju, meu cajueiro/ Pede um cheiro que eu dou/ O puro suco do fruto do meu amor/ É sensual esse delírio febril/ A Mocidade é a cara do Brasil”.
Matéria publicada na edição impressa #79 em março de 2024.
Porque você leu Crítica Cultural
O contador de histórias
Morto na terça (30), Paul Auster (1947-2024) lembrou que literatura de qualidade não é incompatível com narrativas bem engendradas
MAIO, 2024







