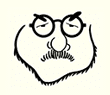
Paulo Roberto Pires
Crítica cultural
O gênio da delicadeza
Despretensioso e sofisticado, Carlos Sussekind levou a literatura ao limite em ‘Armadilha para Lamartine’, um dos melhores romances brasileiros em qualquer época
04jun2021 | Edição #47Carlos Sussekind dedicou parte significativa de seus 87 anos ao pai — a venerá-lo e a livrar-se dele, como todos nós. Mas, diferentemente da grande maioria de nós, teve como herança 30 mil páginas de diários em que ficou registrada a vida da família entre 1938 e 1968. Foi na palavra do jurista Carlos Sussekind de Mendonça que o escritor Carlos Sussekind de Mendonça Filho, nome por extenso desse artista extraordinário, morto em 25 de maio, forjou sua peculiar identidade literária. Dentre os quatro livros de uma obra breve, deixou um dos melhores romances produzidos pela literatura brasileira em qualquer época, Armadilha para Lamartine (1976).
A mistura de entusiasmo e ignorância, própria da juventude, marcou minha primeira leitura de Lamartine – achava estar descobrindo a pólvora. Reeditado em 1991 pela Brasiliense, o romance assinado por Carlos & Carlos Sussekind acomodava-se perfeitamente ao espírito inquieto de novidades e redescobertas que na década anterior se tornara a marca da editora. A partir daí ele se tornaria o escritor “cult”, o autor “bissexto” — epítetos que achava uma bobagem — mas que finalmente ganhava leitores além do circuito restrito da primeira edição e dos pouquíssimos afortunados que conheciam sua novelinha de estreia, Os ombros altos, publicada em 1960 numa tiragem reduzida bancada por Carlos pai e, em 1985, pela Taurus.
Em 1996, a terceira edição de Ombros altos, pela 7Letras — ligeiramente rescrito e sem o artigo “os” do título — foi o pretexto para me convidar ao apartamento do Leme que é cenário de Lamartine e onde Carlos, como o chamaria dali em diante, vivia àquela época. Conforme o esperado, estavam lá, em estantes que forravam uma parede da sala, os cadernos do doutor Espártaco M., nome que inventou para o pai ficcional, e a varandola-gabinete – onde o cotidiano da família era registrado no diário. Desenhos e pinturas emoldurados também revelavam um magnífico artista, que só se entrevia aqui e ali em algumas capas e vinhetas de seus livros.
Tímido como uma criança, sorriso constante e meio sem graça, Carlos estava tão pouco à vontade quanto o repórter do Globo que, vexame!, empunhava um gravador que não funcionava. Prontamente o entrevistado decidiu que caçaríamos pilhas novas nas imediações e, já na rua, sugeriu que fizéssemos a entrevista no Caminho dos Pescadores, o mirante que contorna a Pedra do Leme e que na época não contava com uma estátua de Clarice Lispector. Chegando lá pediu uma água de coco e confessou que preferia conversar fora de casa, àquela altura já mais relaxado com o atabalhoado repórter.
Seu universo ficcional primeiro cabia no quilômetro de praia que separa o apartamento de uma das pontas da avenida Atlântica. Foi ali, na beira do mar, que o jovem Carlos surtou e dali foi levado para o sanatório no episódio biográfico que deslancha Armadilha para Lamartine. “Na época da perturbação fazia frio e uns meninos faziam fogueiras na praia”, me contou ele, na matéria para o Segundo Caderno. “Na época, eu via todas as coisas lentas, os carros andavam lentamente, as nuvens passavam devagar. Eu tinha uma namorada, pegava ela pela cintura e andava no calçadão como numa ciranda, mostrando quando eu via tudo”. Ao transcrever essas palavras, lembro perfeitamente do impacto de ouvir uma descrição tão simples e delicada para situação tão extrema.
Na primeira parte do livro, “Duas mensagens do pavilhão dos tranquilos”, Lamartine assume a palavra de um interno, Ricardinho, para narrar sua experiência com a internação e os eletrochoques. Em “Diário da varandola-gabinete”, a segunda parte, o leitor conhece o mesmo episódio pelas palavras de Dr. Espártaco, recitadas pelo filho para a publicação num jornal da clínica. É aí que as escritas de pai e filho misturam-se num jogo alucinante em que a pirueta narrativa fica devidamente invisível – pois antes de qualquer coisa, o romance é muito, muito divertido. “Armadilha para Lamartine é, também, uma armadilha — ou quebra-cabeça — oferecido à argúcia do leitor”, escreveu Hélio Pellegrino no prólogo à primeira edição, “e este oferecimento vem revestido de uma tão alta gentileza que o desafio nele implícito jamais se explicita, agressivo ou premente, em nenhuma parte do texto”.
Outras colunas de
Paulo Roberto Pires
Playground para psicanalistas e críticos, o livro suscitou leituras complexas que Carlos recebia muito bem, mas que jamais o impressionaram em demasia. Irreverente no melhor sentido do termo, trouxe um desses intérpretes para seu jogo quando, ao escrever Que pensam vocês que ele fez, estabeleceu com Francisco Daudt da Veiga um pacto curioso: o analista, de quem já fora paciente, deveria debruçar-se não sobre o criador que frequentava seu divã, mas dedicar-se a Lamartine, ainda às voltas com a palavra opressiva do pai no primeiro livro que Carlos publicaria em mais de vinte anos. “Carlos podia trazer sua ficção e eu que me virasse para acompanhá-la”, escreveu Daudt na época do lançamento, “tentar situá-la em sua história de maneira que ele pudesse ter a melhor assistência técnica possível à compreensão de seus desejos.
Percepções
Que pensam vocês que ele fez sairia em 1998, mas quase dois anos antes, naquela nossa primeira conversa, ele comentava, sem rastro de teoria, a compreensão que adquirira de seu trabalho e de sua vida: “O que me move para escrever é o mesmo que me levou ao delírio, é uma identificação enorme com a realidade, um movimento de entrega a ela. É isso que se interpreta hoje como desejo”.
Essa apreensão aguda e delicada do mundo era o que o movia no trato pessoal. Tinha uma capacidade fora do comum de reconhecer o interlocutor ao primeiro “alô” no telefone. Seu clássico de todos os tempos era Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato. Zelava pelos companheiros de tempos passados, ajudava-os a conseguir trabalho, preocupava-se. Tinha mania de apresentar pessoas que não se conheciam e que, para ele, se pareciam fisicamente — a brincadeira quase sempre dava errado e ele se divertia como um menino ao contar essas histórias. Aliás, era sua especialidade narrar os casos mais mirabolantes mansamente, pontuando-os com aquele mesmo sorriso da primeira vez em que nos vimos. Era imensamente devotado à conversa pela conversa, uma arte que sempre parece ameaçada.
Em 2003, seus setenta anos ganharam uma festa peculiar: a seus amigos foram distribuídos trechos do diário e o presente era devolvê-los ao aniversariante, digitados, numa festinha realizada na Dantes, livraria, editora e sebo num Leblon ainda respirável. Pois o diário original de Espártaco, ou melhor, de Carlos Sussekind de Mendonça, é uma baita crônica de uma cidade e de um país desparecidos.
Era sua especialidade narrar os casos mais mirabolantes mansamente, pontuando-os com seu sorriso. Era imensamente devotado à conversa pela conversa, uma arte que sempre parece ameaçada
A mim, coube um mês e nove dias – entre 28 de outubro e 7 de dezembro – de 1940, quando o verão se anunciava inclemente e o diarista ganhara uns quilos indesejáveis. Caíco, como Carlos era chamado, tinha sete anos e já se mostrava bom de raciocínio e ruim de decoreba. No dia 7 de novembro, depois de um jantar em família, dr. Carlos trouxe o mundo em chamas para dentro de casa: “Depois do jantar, li o discurso do Hitler, na íntegra. Duas páginas inteiras e compactas do Meio-Dia. Levantei uma gritaria incrível… Pela entonação que dei, o Dr. Agenor me tomou por nazista. Aloísio jurou que só leria assim quem se identificasse ao discurso. Edgar e Armandinha me crivaram de interpelações e apartes. E, no fundo, eu achava a estopada tão cínica como eles!”
A última invenção literária de Carlos Sussekind foi O autor mente muito (2001), mais um livro indefinido, dessa vez escrito em parceria — Francisco Daudt passara de analista a co-autor. “Será que você podia mandar duas perguntas para o autor?”, me pedia Carlos ao telefone, seriíssimo, limitando-se a dizer que o autor, em seu novo livro, mentia muito. Lembro de ter enviado por e-mail alguma coisa como: “Porque o autor mente tanto? Se o autor mente muito, como saber se ele não está falando a verdade?”. A resposta veio pouco depois, em outro telefonema, este pontuado por muitas risadas: “São muito complicadas essas perguntas. Deixa pra lá”. Esqueci o assunto e qual não foi a surpresa de, no livro publicado pela Dantes, me descobrir personagem, com nome e sobrenome literais, mas fazendo coisas que só se passaram na cabeça da dupla.
Os telefonemas ficaram esparsos e só revi Carlos em 2011, quando por sugestão da editora e tradutora Heloisa Jahn, publicamos na serrote uma seleção de seus desenhos e pinturas. No café do Instituto Moreira Salles da Gávea lá estava ele, de novo tímido, um pouco apreensivo sobre a seleção das imagens. Há uma série de cenas movimentadas de um escritório, os médicos infantis e sinistros que evocam a internação, a moça bonita e elegante que retratava em desenhos enviados à uma paixão na época de Ombros altos e que pode ser tomada com uma representação de Paula, a personagem da novela.
“O que Paula não sabia, e boa parte dos conhecedores da obra de Carlos Sussekind não sabe até hoje”, escreveu Heloisa Jahn, “é que a série de desenhos em que a jovem aparece usando vestidos floreados e simpáticas camisetas listradinhas era acompanhada de outra, privada, suavemente erótica, em que duas mocinhas – duas gêmeas – se entregam ao aconchego que o tímido apaixonado tanto imaginava, mas não obtinha.” As Amorous Sisters, como foram batizadas por ele, são em forma e conteúdo, puro Carlos Sussekind.
Volto ao nosso primeiro encontro, que ficaria documentado com uma foto atípica, única dentre as sóbrias imagens que documentaram os sucessivos lançamentos de seus livros: posando para Gustavo Stephan, ele aparece em close contra o colorido guarda-sol de um ambulante, fazendo graça como um moleque e irônico como só um homem maduro pode ser. Sob o título careta e metido a sério que eu mesmo fiz — “A literatura nos limites da razão” — ele esconjurava a glamourização da loucura (“é um sofrimento terrível”) mas advertia ser impossível e até reprovável (“uma traição horrorosa”) pretender-se completamente normal. “Você não consegue nunca rasgar sua carteira de maluco”, me disse — e eu nunca esqueci – o mais doce dos alucinados, o mais delicado dos inventores.
Matéria publicada na edição impressa #47 em maio de 2021.
Porque você leu Crítica Cultural
O contador de histórias
Morto na terça (30), Paul Auster (1947-2024) lembrou que literatura de qualidade não é incompatível com narrativas bem engendradas
MAIO, 2024







