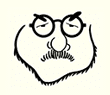
Paulo Roberto Pires
Crítica cultural
Mais molotov, menos Tchékhov
Não é o mesmo fogo que queima a Cinemateca Brasileira e o Borba Gato. Já passou da hora de escolher seu incêndio.
12ago2021 | Edição #49As chamas que atingiram a Cinemateca Brasileira não são as mesmas que chamuscaram a estátua do Borba Gato. Tudo é fogo, mas um vem do descaso e o outro, da revolta. Se no Brasil de hoje a combustão é inevitável, está na hora de escolher seu incêndio — sob pena de ser consumido à própria revelia.
Em agosto de 1967, os leitores da New York Review of Books receberam instruções para fabricar um coquetel molotov. Na capa da segunda quinzena do mês, Robert Silvers fez estampar não uma visão artística da bomba incendiária, mas o diagrama de uma garrafa estabelecendo as proporções de gasolina (2/3) e de uma mistura de cascalho com sabão em pó (1/3), bem como a estrutura do pavio — corda de varal e um pedaço de pano embebido em combustível. Sob a manchete “A violência e o negro”, chamadas destacavam ensaios em que Andrew Kopkind e Tom Hayden discutiam o long, hot summer, onda de conflitos raciais que conflagraram diversas cidades americanas naquele verão.
Homem de modos fidalgos e ternos bem cortados, Silvers estava longe de ser um carbonário. Cofundador da NYRB e por mais de cinquenta anos seu editor, ele sabia muito bem o que estava fazendo: com a contundência necessária, lembrava que, quando o mundo ferve, poltronas e estantes são o último lugar para confinar literatura, ideias e arte em geral. Intelectuais à direita viram na imagem incitação à violência; à esquerda, o molotov representava o sumo do radical chique. A despeito de uns e outros, o momento era grave e a política, mais do que o efeito de miasmas parlamentares e composições partidárias. Como no Brasil de 2021, a questão mais funda dizia respeito à liberdade e aos direitos fundamentais.
Os leitores da Quatro Cinco Um podem ter uma vaga ideia da situação voltando a outubro de 2019, quando uma Fernanda Montenegro em cosplay de bruxa, prestes a ser queimada numa fogueira de livros, posou para a capa desta revista num posicionamento inequívoco de afronta ao obscurantismo que transborda dos bueiros bolsonaristas. Entre os que desdenharam da imagem como facilidade retórica e os que a deploraram por encarnar os inimigos imaginários do governo, corria uma mesma seiva, a da desmobilização. No dicionário do senso comum destes tempos deprimentes, “politização” é termo de várias acepções, em boa parte delas, negativas.
Bom exemplo da areia movediça nossa de cada dia é a controvérsia sobre o uso dos pronomes neutros. Há o comissário fascista que vê no uso de “todes” um ato de “vandalização” da cultura. Intelectuais progressistas opõem-se à prática com nobres argumentos. Uns e outros, que jamais serão equivalentes, condenam a operação pelo que de fato ela é, uma ação política, que pelo estranhamento quer fazer refletir sobre a naturalização dos gêneros e tornar a língua supostamente mais inclusiva. A diferença é que, com o reacionário no poder, a nuance intelectual vira bucha de canhão. Ainda assim, muita gente boa pensa que, para manifestar oposição, basta ser quem é.
Todes pelo Brasil
Em meados do ano, Marisa Monte voltou à praça para vender como alta cultura a alta-costura que a consagrou. Naturalmente instada a se pronunciar, como artista e cidadã, em relação à barbárie dominante, a cantora alinhavou platitudes sobre o “descaso” oficial com a produção cultural. A seu público, imenso, não se dirige em termos inequivocamente políticos e combativos. “Sigo fazendo resistência poética e amorosa”, declarou. A arena pública, hoje conflagrada por uma dramática disputa de posições que pode fazer toda a diferença em 2022, ela prefere desqualificar como “gritaria”. E, lembrando o engajamento em campanhas pela “paz”, “direitos humanos” e “preservação da Amazônia”, resume sua luta genérica numa fórmula à beira do precipício conformista: “Prefiro dar espaço para a cura. Essa vacina musical”.
Outras colunas de
Paulo Roberto Pires
O best-seller do Brasil engajado na teoria e dócil na prática é Torto arado, de Itamar Vieira Junior. Com mais de 200 mil exemplares vendidos, prêmios a mancheias e já nas listas com Doramar ou a odisseia, o escritor é inequívoco opositor da truculência. O Brasil de seus livros é brutal: mulheres, negros, indígenas e pobres, seus personagens nascem das diversas interseções da multidão despossuída. Todos são vítimas de grandes e pequenas violências, mas só aqui e ali reagem, arrastados por um fatalismo conformista. A dignidade é para eles um tesouro, ainda que não garanta comida, terra ou liberdade. Em contato com o tal “Brasil profundo” — Vieira Junior diz gostar do termo, expressão de autoexotismo —, o leitor comove-se com as vítimas da barbárie, mas não é instado a combatê-la. É essa a postura pública de um escritor que tem milhares de leitores, famosos como Lula, anônimos ou congregados no fã-clube Tortoaraders. A eles o escritor fala em literatura como “magia” e se assume como porta-voz de uma “literatura brasileira”, coletivo que, se existe, não serve para muita coisa.
Tão importante quanto se perguntar como e por que abraçamos o fascismo é investigar os motivos desse alheamento engajado, da arrogância invertida de enfrentar a metástase fascista com a arte convertida em mistificação, homeopatia do espírito. Certamente haverá tempo mais propício a sutilezas ou ao purismo autocongratulatório. A opressão sem subterfúgios que se vive hoje pede, no entanto, reações igualmente frontais.
“Mais Mises, menos Marx”, propagandeiam alguns dos mais operosos colaboracionistas do regime. Mais molotov, menos Tchékhov, poderíamos contrapor a partir da capa da NYRB. Se o gênio russo representa delicadeza, silêncios e subentendidos, as chamas, simbólicas ou reais, dão a voz de combate de que precisamos para sair desta. Pois esse filme já vimos. No final, morremos todes.
Matéria publicada na edição impressa #49 em julho de 2021.
Porque você leu Crítica Cultural
O contador de histórias
Morto na terça (30), Paul Auster (1947-2024) lembrou que literatura de qualidade não é incompatível com narrativas bem engendradas
MAIO, 2024







