
As Cidades e As Coisas, Divulgação Científica,
Milhares de dias a mais
Steven Johnson fala sobre o salto colossal na expectativa de vida humana no último século e as dúvidas sobre a qualidade dessa vida extra
01nov2022 | Edição #63No início dos anos 1660, quando se começou a pensar na ideia de calcular a expectativa de vida, o britânico médio vivia pouco mais de trinta anos. Uma criança nascida no Reino Unido hoje pode esperar viver cinquenta anos mais que isso. E essa extraordinária tendência de ascensão tem se repetido continuamente em todo o mundo. Os avanços dos últimos três ou quatro séculos — o método científico, as descobertas médicas, as instituições de saúde pública, o aumento do padrão de vida — nos proporcionaram cerca de 20 mil dias extras de vida em média.
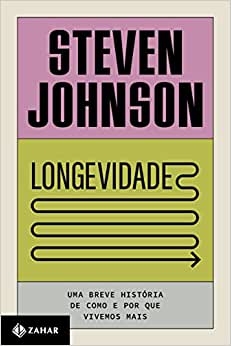
Longevidade, de Steven Johnson, gira em torno da história de um número: 20 mil dias a mais
Longevidade, de Steven Johnson, gira em torno da história de um número: 20 mil dias a mais. Quais foram os caminhos da ciência que nos permitiram conseguir tanto? Quão desigual é essa média de expectativa de vida pelo mundo? Quais são os impactos dessa vida extra e quais são os próximos passos? Johnson já apareceu nestas páginas em duas ocasiões. Na primeira, resenhei seu livro O mapa fantasma, que retrata Londres nos tempos do cólera e como o uso de dados espaciais levou a uma das descobertas científicas mais importantes dos últimos tempos: a de que a bactéria era transmitida pela água. A segunda foi a tradução de seu artigo “O mapa da enfermidade”, sobre pandemia e espaço urbano.
Em setembro, o autor esteve em São Paulo a convite do projeto Fronteiras do Pensamento e pude assistir à sua palestra e entrevistá-lo. A conversa — em que fala sobre vida e morte, o lugar da ciência e da inovação e, é claro, cidades — você lê a seguir.
Você escreve sobre expectativa de vida, mas também sobre a qualidade da nossa existência, trazendo vida e morte para o centro da discussão enquanto conecta essas ideias a outros livros seus. Como surgiu a ideia de escrever Longevidade?
Eu diria que há dois componentes. O primeiro vem de O mapa fantasma. O livro se volta para a Londres de 1854 e eu queria lembrar às pessoas que não faz tanto tempo assim. Mesmo em lugares como Nova York e Londres, há apenas 150 anos, beber água da torneira era absolutamente perigoso. Não era incomum tomar um copo d’água e morrer em três dias. E isso está apenas três ou quatro gerações para trás. Era importante lembrar às pessoas o progresso que tivemos, o progresso da saúde pública e da medicina. Temos tendência a ignorar esse tipo de progresso porque ele é lento e incremental, não envolve o Vale do Silício e bilionários. Não ganha atenção.
Em O mapa fantasma essa era a história — e é curiosamente meu livro que mais vendeu, o que ninguém esperava por ser um livro sobre cólera [risos]. Havia algo nesse tipo de narrativa que fazia sentido para as pessoas, então fiquei interessado em fazer mais disso. Há tantas histórias semelhantes… E aí me ocorreu que a história sobre a expectativa de vida — o fato de que simplesmente dobramos a expectativa de vida global em um século — era um ótimo exemplo de uma tendência massivamente subnotificada. As pessoas não percebiam como tínhamos conseguido vida extra. Pensei que poderia ser um bom enquadramento.
Desenvolvi a ideia em 2018, pensei que o livro pudesse ser publicado em 2020 e que poderia ser um ótimo timing, já que marcava o centenário do fim da gripe espanhola — último ponto em que a expectativa de vida havia ido para trás. Acabou saindo em 2021. No fim, a pandemia só fez o livro se tornar mais relevante, pois eu estava escrevendo sobre a história da saúde pública, estatísticas e dados médicos, vacinas — tudo o que era fundamental para a discussão sobre a Covid-19.
Mais Lidas
Acho que tem um argumento de fundo no livro: uma oposição entre a ideia de um único cientista genial, por um lado, e como as ideias são formadas por meio de redes, por outro. Você fornece uma série de exemplos ilustrativos, mas também estruturais para o seu argumento. Essas inovações não acontecem em um momento de epifania…
É exatamente isso. É sobre redes de pessoas e não gênios isolados. O principal exemplo é o da penicilina. Todo mundo fala que ela foi descoberta por Alexander Fleming, mas na verdade ele é apenas uma peça de tudo isso. Tem o Howard Florey e o Ernst Boris Chain [cientistas de Oxford que leram o artigo negligenciado de Fleming], os norte-americanos que levaram a penicilina para os Estados Unidos, uma série de pessoas. Todo mundo ama contar a história do Fleming e de sua mesa de escritório bagunçada [onde encontrou a placa de Petri mofada com o fungo que viria a descobrir em seguida], mas na verdade se trata de uma rede de colaboração.
Talvez devêssemos ter uma organização internacional que nos ajude a decidir quais avanços científicos queremos explorar
O que é diferente em Longevidade — e que não estava claro para mim nos outros livros — é a ideia de que há outro papel igualmente relevante para fazer com que inovações importem. É o papel dos tradutores, conectores ou popularizadores — pode escolher a palavra que achar melhor. Há pessoas que desenvolvem a ideia, mas, na maioria das vezes, a ideia em si não é suficiente. É preciso alguém que leve essa ideia de um lugar para outro, que a torne acessível, ou que seja um grande defensor dela publicamente. E Longevidade retrata muitas dessas pessoas.
Mary Montagu é uma delas. Para que Edward Jenner pudesse inventar a vacina contra a varíola, ele precisava ser exposto à variolação [inoculação de uma pequena quantia de antígeno no corpo humano] e, para que essa prática pudesse chegar à Inglaterra, foi preciso que Montagu fosse para Istambul, visse a prática, a trouxesse de volta e influenciasse as pessoas. Ela era uma influenciadora, como diríamos hoje [risos]. Essa é parte da história de como Jenner inventou essa ideia.
Em várias passagens de Longevidade você diz que quem está pensando em inovação geralmente se volta para atitudes disruptivas que vão contra as instituições. Ao mesmo tempo, você diz que a Organização Mundial da Saúde (OMS) é muito importante e que as inovações têm uma dimensão pública.
Acho que é um ponto de mudança na maneira como tenho pensado nos últimos anos. Os livros anteriores eram formados pelo fato de que eu estava me tornando adulto na era da internet e do iPhone e criei algumas start-ups enquanto escrevia os livros. Eu tinha um pouco do espírito de que as pessoas que pensavam diferentemente e de maneira inovadora estavam quebrando todas as regras, de que as instituições eram lentas, burocráticas e incapazes de inovar. Então acho que, em alguns aspectos, conforme fui ficando mais velho, comecei a valorizar mais essas instituições. E o ponto a que eu cheguei escrevendo Longevidade é que, em muitos casos, essas instituições são a própria inovação.
Quando Jefferson estava pensando em erradicar a varíola em 1804 — o que era uma coisa incrível até de se imaginar —, não era só algo à frente do tempo, mas também impossível de fazer naquele ano. Isso porque, em primeiro lugar, não seria possível aumentar a escala dos insumos da vacina e vacinar todas as pessoas no mundo. Havia um gargalo de produção e infraestrutura. Mas a outra grande razão era que se fazia necessária uma instituição que fosse capaz de coordenar as atividades simultaneamente em dezenas de países, enviar pesquisadores de campo, ter um plano de ação — e não havia organização no planeta que pudesse dar conta disso. Era preciso maneiras melhores de produzir vacinas, mas também precisava-se da OMS.
No final do livro, aliás, você sugere a criação de novas instituições internacionais que poderiam coordenar e organizar a mortalidade.
Tenho pensado sobre a necessidade de termos uma organização internacional que nos ajude a tomar decisões sobre que tipo de tecnologias e avanços científicos queremos explorar como espécie, literalmente. Em Longevidade, a pergunta é: diante de toda essa pesquisa radicalmente nova, poderíamos aumentar a expectativa média de vida para além de cem anos? Poderíamos passar a tratar a idade avançada como um tipo de doença que pode ser curada? Se isso significa que viveremos vidas muito saudáveis e morreremos na casa dos cem, acredito que a maioria das pessoas embarcaria na ideia; mas se significa que viveremos até os 150, então há muitas pessoas no mundo que não vão querer que se faça algo assim; isso é bagunçar os ritmos básicos da vida humana.
Apesar disso, há várias pessoas tentando fazer isso no mundo neste momento, e estão muito bem patrocinadas por pessoas do Vale do Silício e de outros lugares. Então há uma questão ética aqui, que envolve não apenas se conseguimos fazer isso, mas se deveríamos. Não temos nenhum caminho para tomar essa decisão como espécie, como planeta. Então ficamos nas mãos de algumas pessoas que, se conseguirem o financiamento, vão fazer acontecer. E eu não acho que essa é a melhor maneira de fazê-lo. Mas também não sei quais são as alternativas.
O fato de que estamos vivendo mais — 20 mil dias em média — está também trazendo uma série de problemas, como as mudanças climáticas, provavelmente nosso maior desafio enquanto humanidade, certo?
De novo, acho que essa é uma parte de mim que mudou um pouco, é o Steven de 52 anos [risos]. O que eu estava tentando dizer era: “Veja, esse é um livro otimista sobre uma mudança positiva na sociedade e a necessidade de celebrá-la”. Mas não podemos ter mudanças tão significativas sem ter algum tipo de consequência negativa; é simplesmente impossível. Com o aumento da expectativa de vida, a mudança real é o crescimento populacional. Há uma percepção esquisita de que temos crescimento populacional porque as pessoas supostamente estão tendo mais filhos, mas há menos bebês nascendo per capita. A diferença é que esses bebês não estão morrendo. E há gerações sobrepostas, decorrentes de se viver mais tempo no planeta. Essa é uma contribuição imensa para as mudanças climáticas. Se tivéssemos mantido os níveis populacionais tais como eram há cem anos, mesmo que a industrialização tivesse seguido o mesmo ritmo, não teríamos nem metade do problema que temos agora. Então é uma das coisas estranhas de se pensar: as mudanças climáticas são resultado especialmente da industrialização e do triunfo da saúde pública e da medicina [risos].
O interessante é que toda evidência sugere que a população vai começar a diminuir, em algum momento no meio deste século. Já está decrescente em algumas partes da Europa e pode ser que tenhamos um problema de implosão populacional na segunda metade do século 21, o que é um verdadeiro problema. É só pensar nas cidades. Nova York perdeu 2 milhões de habitantes entre 1960 e 1980 — e isso foi devastador. É muito difícil para as cidades perderem pessoas dessa forma. E Detroit… partes da cidade são terrenos baldios. As cidades realmente dependem de crescimento. Elas não funcionam bem se, de repente, bairros inteiros não sobrevivem. Então a gente pode estar resolvendo um problema e criando outro.
E alguém poderia ler seu livro e pensar: “Bom, então devemos começar a morrer para que as mudanças climáticas sejam resolvidas”. Essas mudanças e seus impactos não vão simplesmente desaparecer [risos].
É claro [risos].
Já que você falou em cidades, os espaços urbanos são decisivos nos seus livros. Isso acontece em O mapa fantasma e também em várias outras histórias de inovação.
As cidades são uma das nossas maiores invenções. Basta pensar na quantidade de coisas complexas que precisaram ser desenhadas para fazer com que uma cidade de 1 milhão de pessoas pudesse funcionar. E agora nós estamos aqui, em uma cidade de 20 milhões de pessoas como São Paulo — é incrível! Nos tempos em que a história de O mapa fantasma se passa, as pessoas diziam que Londres tinha gente demais, que não era para seres humanos viverem tão aglomerados assim. Agora conseguimos fazer funcionar em uma escala dez vezes maior. Sempre adorei pensar sobre o que isso significa, historicamente, mas também o que a organização das cidades permite em termos de novas ideias, os agrupamentos de inovações que acontecem nelas.
Quando comecei a escrever sobre a internet na metade dos anos 90, várias pessoas diziam que as cidades iam morrer porque a internet estava chegando. As pessoas não quereriam pagar o preço de viver em cidades quando podiam morar em um rancho e se comunicar pela internet. Ao menos até a pandemia, o exato oposto aconteceu. A internet realmente floresceu em áreas urbanas, tanto que se tornaram caras demais para que as pessoas conseguissem morar nelas.
As eleições e a pandemia mostraram que as coisas realmente importantes são mais frágeis do que pensamos
A desigualdade é também um tema que permeia todo o livro, especialmente em relação ao racismo e a como a expectativa de vida está distribuída de maneira desigual entre populações negras e latinas nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Isso também acontece com a Covid-19: o vírus não escolhe quem infectar, mas pessoas negras e latinas morreram mais.
Essas crises de saúde pública têm uma tendência a expor e amplificar desigualdades existentes. Elas se tornam mais visíveis. Uma das questões que já fomos capazes de ver logo no início, um grande preditor de taxas de infecção em uma certa população, foi a densidade habitacional, entendida como a quantidade de pessoas que vivem em cada unidade. Grupos negros e latinos também tendiam a viver em casas com múltiplas gerações, com seus pais e avós, pessoas idosas. É claro, havia muito mais trabalhadores de serviços essenciais nessas comunidades. Além das desigualdades de acesso à saúde, que é um problema gigante nos Estados Unidos. Se somamos todos esses fatores, temos uma grande lacuna. Podemos focar na pesquisa que se está produzindo para viver para sempre ou olhar para a diferença de por que norte-americanos brancos vivem mais que negros. Como reduzir essa lacuna? Essa pergunta é tão importante quanto como estender a média geral de expectativa de vida.
Diante da escalada autoritária em alguns países, você entende que a democracia é necessária para a ciência? Para ser criada e discutida publicamente?
Uma perguntinha fácil para o final [risos]. Lembro de quando estava na pós-graduação, lendo alguns romances franceses. De Balzac, sobre os anos 1820 e 1830, sobre o período da Restauração na França. Eles tiveram a revolução, mas na Restauração era como: “Oh, parece que os reis e as rainhas voltaram”. E lembro de meu orientador na época dizer algo como: “Há períodos em que a história parece andar para trás”.
Acho que em parte podemos dizer que temos vivido, nos últimos quatro ou cinco anos, um período de andar para trás. A história não se repete, mas ela rima, e em alguns momentos anda para trás. E talvez isso seja uma dialética inevitável, a de que progredimos muito e aí há uma reação contra isso. As eleições e a pandemia mostraram que as coisas realmente importantes — a saúde da sociedade e das suas instituições democráticas — são mais frágeis do que pensamos. Elas precisam ser atendidas e protegidas. Acho que essa foi a lição importante sobre ciência e democracia.
Matéria publicada na edição impressa #63 em novembro de 2022.
Porque você leu As Cidades e As Coisas | Divulgação Científica
As muitas margens do rio Negro
Com precisão e magia, Drauzio Varella, relata paisagens, dramas, histórias locais e a potência do grande afluente do Amazonas
MARÇO, 2025






