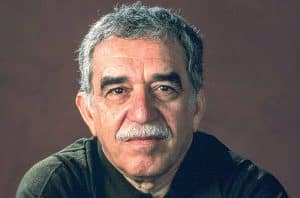Teatro,
A menina que roubava a cena
Da vida rocambolesca dos antepassados imigrantes à consagração nos palcos e telas, nossa maior atriz conta sua trajetória em livro
01out2019 | Edição #27 out.2019Ela teve e tem a vida que merecia. Há décadas nossa maior e mais consagrada atriz, Fernanda Montenegro chega aos noventa como a única unanimidade nacional poupada pela polarização política dos últimos três anos, sem, contudo, a sensação de dever cumprido. Simples: ela nunca encarou como dever o que fez e continua fazendo, com a paixão de sempre e um vigor que o peso da idade em nada afetou.
Este seu livro de memórias, precedido, no ano passado, de um portentoso álbum de fotografias e mementos, Fernanda Montenegro: itinerário fotográfico (Edições Sesc), foi somente um pit stop para retomar a estrada e enfrentar as curvas que ainda a esperam, longe o bastante para que ela, quem sabe, se sinta motivada a produzir, daqui a algum tempo, um segundo volume de reminiscências, com novas histórias e novas glórias. Porque ler Fernanda é tão prazeroso quanto vê-la no palco, diante das câmeras, e pessoalmente.
Seu texto, escrito com a colaboração da escritora, jornalista e dramaturga Marta Góes, reproduz, com impressionante fidelidade, o jeito de Fernanda falar: o mesmo timbre, a mesma cadência, a mesma cândida malícia, a mesma autoironia. São memórias pessoais e coletivas, cheias de observações agudas sobre uma infinidade de coisas (o que inclui uma avaliação lúcida do getulismo e das conquistas sociais do Estado Novo) e uma cornucópia de palavras generosas sobre os artistas com os quais se relacionou.
Incansável operária da ribalta, sua vida foi um palco iluminado. E já que estou citando seu grande amigo e parceiro Millôr Fernandes, a parafrasear Orestes Barbosa, transcrevo o restante da descrição: “À direita, as gambiarras do perfeccionismo. À esquerda, os praticáveis do impossível. Em cima o urdimento geral de uma tentativa de enredo a ser refeito todas as noites, toda a vida. Atrás, os bastidores, o mistério essencial. Embaixo, o porão, que torna viáveis os mágicos, inspiração do teatro, que é uma fé e comove montanhas”.
Outro grande amigo e parceiro, o regista italiano Gianni Ratto, seu diretor em dezessete montagens ao longo de dez anos, comparou-a a um artista da Renascença, acima de influências ou teorias transitórias, e também ao arcanjo Gabriel, com sua espada flamejante, para enfim alçá-la a um “plano completamente à parte no campo das grandes intérpretes-criadoras”.
Nelson Rodrigues, também amigo e parceiro, chamou-a, de uma feita, de “Musa Sereníssima”, numa possível referência à Sereníssima República de Veneza, não de todo apropriada, pois as raízes italianas da musa estão todas na Sardenha, bem distantes, geográfica e socialmente, da opulência vêneta. E é por essas raízes que Fernanda inicia a sua recherche, dividida em três partes: Prólogo, Ato e Epílogo, e dedicada aos filhos, também artistas, Cláudio e Fernanda Torres.
Mais Lidas
Folhetim
No prólogo, a saga dos antepassados, do ramo paterno (sardo) e materno (português, trasmontano), gente modesta do campo, envolvida em situações só na aparência folhetinescas, intrigas que não parecem reais “e sim saídas de melodramas de um Alexandre Dumas, de um Victor Hugo”, na avaliação da atriz. Ou de um relato da napolitana Elena Ferrante, acrescento eu, só em parte induzido pelo sobrenome (Nieddu) de seu avô Pedro.
Mas o episódio do tio que, ao fugir de uma nevasca, invade um latifúndio vizinho e acaba na cadeia, de onde sai alfabetizado e herói de seu vilarejo, é puro Gavino Ledda, autor sardo de cujo romance Pai patrão saiu o homônimo filme dos irmãos Taviani, de 1977. A história da tia Vicenza, que foge de casa com um bando de freiras vindo da África, vira governanta na França e acaba enterrando indigentes acolhidos pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, com a ajuda do segundo marido, um bem situado comerciante espanhol, é uma odisseia transoceânica, cujo clímax prefiro omitir para evitar um spoiler.
Memórias, autobiografias e biografias tendem a enfastiar o leitor pelo espaço geralmente concedido em excesso aos galhos inferiores da árvore genealógica dos verdadeiros protagonistas. Nas memórias de Fernanda, as peripécias vividas por seus antepassados imediatos são tão pitorescas que em nenhum momento nos assalta a tentação de cortar caminho e ir direto à saga particular da autora. Ainda bem, pois elas também nos revelam de quem Fernanda herdou alguns de seus mais notáveis atributos: a integridade, a perseverança, a tenacidade e o alto senso de profissionalismo.
O avô Pedro, desembarcado com toda a família em 1897, era um artesão, como os imigrantes italianos de outro filme dos irmãos Taviani, Bom dia, Babilônia (1987). Estes ajudavam o cineasta americano David W. Griffith a erigir os monumentais cenários do filme Intolerância (1916); Pedro simplesmente participou da construção do Theatro Municipal do Rio.
Foi a ele que Fernanda dedicou seu primeiro prêmio Molière, entregue no palco do Municipal, em 1966: “Meu avô, Pedro Nieddu, estucador, é responsável por algumas volutas que enfeitam este teatro. Sua neta, hoje, está aqui, neste palco, recebendo este prêmio tão importante na cultura teatral de nosso país. A ele ofereço este momento tão bonito da minha vida”. Imagine o frisson na plateia.
Suburbana de origem, Fernanda nasceu Arlette Pinheiro, no bairro carioca do Campinho, entre Jacarepaguá, Cascadura e Madureira, cercada de árvores, hortas e bichos. Primeira filha e primeira neta (depois vieram as irmãs Aída e Áurea), morou em quase todos os bairros da Zona Norte, inclusive nas cercanias de onde morava Zulmira, a mórbida dona de casa de A falecida (1965), sua estreia no cinema.
Numa temporada em Belo Horizonte, aprendeu a ler e escrever. Dois anos depois, no teatrinho de um circo, aprendeu a se comportar no palco, encarnando um dos dois sargentos que davam título à peça. Tinha apenas oito anos. Não ficou nervosa na única apresentação do espetáculo. “Guardei para sempre na lembrança a sensação de levitar, envolvida numa luz cor-de-rosa e eu me sentindo fora de mim. Mas nem sequer suspeitei de que, um dia, aquele mistério seria o meu ofício. A minha vida.”
Ainda à procura de uma vocação, quase virou secretária, com formação completa na Escola Berlitz: línguas, datilografia, estenografia e correspondência comercial, e profissionalizou-se como professora de inglês para estrangeiros. Seduzida por um anúncio da Rádio mec (do Ministério da Educação e Cultura), convocando estudantes a participarem de seu Radioteatro da mocidade, Arlette leu um poema e passou no teste. Seria locutora e radioatriz.
Com seu verdadeiro nome, lia e interpretava textos de renomadas obras literárias e narrava programas de música, clássica e popular. Num desses programas, dedicado à música francesa, apresentou a cantora Juliette Gréco, de passagem pelo Rio. Achou-a “jovem e linda”, mas se surpreendeu ao vê-la vestida de branco em vez do tradicional preto existencialista.
Ao acumular o ofício de redatora, optou por um nome de guerra. Por que Fernanda? “Porque tinha um clima de romance do século 19.” Montenegro em homenagem a um velho médico do subúrbio que atendia às famílias pobres sem cobrar um tostão.
Seu primeiro programa na rádio foi um melodrama sobre a Revolução Farroupilha. Tinha apenas dezesseis anos e não tremeu no papel de uma mocinha que se apaixona por Giuseppe Garibaldi. “Manuela, não Anita. Não cheguei a tanto”, autoironiza.
Depois de uma temporada na Rádio Guanabara, onde foi colega de Chico Anysio, Grande Otelo e, acredite, Silvio Santos, encontrou seu destino manifesto. O teatro fervilhava no Rio e em São Paulo, em fins dos anos 40, e, num de seus celeiros mais conspícuos, o Teatro do Estudante, criado e comandado pelo crítico e diplomata Pascoal Carlos Magno em sua própria residência no bairro de Santa Teresa, ela viu seu primeiro Shakespeare, Hamlet, na legendária interpretação de Sérgio Cardoso. “Não teve volta”, resume sucintamente o impacto.
Em outubro de 1950, recém-chegada à maioridade, ei-la debutando no palco de um teatro de Copacabana, em peça de autor francês (Alegres canções na montanha, de Julien Luchaire), dirigida pela atriz e foneticista portuguesa Esther Leão, conhecendo o aspirante a ator e diretor Fernando Torres, seu futuro amor e parceiro para o resto da vida, e recebendo de um crítico de prestígio o comentário que todo estreante reza para ler: “Essa jovem rouba todas as cenas onde aparece”.
E continuou roubando. Pelas duas aparições subsequentes, já na companhia de Henriette Morineau, Loucuras do imperador, de Paulo Magalhães, e Está lá fora um inspetor, de J. B. Priestley, Fernanda terminou a temporada como a atriz revelação de 1953, o primeiro das quatro dezenas de prêmios que contabilizaria em 69 anos de carreira, contracenando com todos os grandes atores e atrizes do seu tempo, encarnando personagens de múltiplas eras e estirpes, dirigida pelos metteurs en scène mais importantes — ou referenciais, como ela gosta de dizer — do teatro brasileiro, dois dos quais italianos de sólida experiência além-fronteiras, Gianni Ratto e Alberto D’Aversa.
“Profundamente humano no convívio”, é assim que ela se lembra de D’Aversa, a quem atribui a maior presença de autores nacionais no repertório do tbc (Teatro Brasileiro de Comédias), cujo elenco integrou durante cinco anos, forçando-a a morar em São Paulo. Ali, sob os auspícios de Maria Della Costa e Sandro Polloni, atuou pela primeira vez numa montagem de Ratto, O canto da cotovia, de Jean Anouilh, por sinal, a experiência inicial do diretor em palcos brasileiros.
Dezesseis outras encenações consolidaram a parceria, uma das mais fulgurantes de nossos palcos. “Ratto foi a primeira pessoa do mundo do teatro que me fez entender o que é, para o ator, enfrentar o desassossego, o desconforto, o inarredável desespero de Sísifo”, revela Fernanda, que ressalta outro mérito no rigoroso, disciplinador e obstinado diretor milanês: jamais ter permitido que ela se europeizasse.
O mambembe
O Everest dessa cumplicidade foi uma remontagem de O mambembe, burleta em três atos e cinco quadros levada à cena pela primeira vez em 1909, no mesmo ano da inauguração daquele teatro cujas volutas o tio-avô de Fernanda ajudara a fazer.
Paulo Francis, então crítico do jornal Diário Carioca e amigo do recém-formado Teatro dos Sete, que efetivamente eram cinco (Fernanda e Fernando, Ratto, Sergio Brito e Ítalo Rossi), foi um dos que tentaram demover o grupo de ressuscitar a comédia musical de Artur Azevedo. Com cerca de oitenta participantes, grandes cenários reproduzindo o Rio da Belle Époque e uma pequena orquestra, era de fato uma temeridade. Mas o entusiasmo pelo humor brejeiro com que a peça aborda as alegrias e os percalços das trupes de teatro ambulante não cedeu um milímetro.
À estreia apoteótica, no Municipal, em novembro de 1959, seguiu-se uma temporada, não menos retumbante, no Teatro Copacabana. Levado por um professor, assisti a O mambembe com meia dúzia de colegas e saí com a impressão de que nunca mais veria no teatro um espetáculo tão bonito. E não vi mesmo. Nem na Broadway.
No início da carreira, Fernanda, além de muito tímida, achava-se “um estrepe”. Olhando hoje fotos daquela época, considera-se até “bem bonita”. Já se flagrou refletida no grande espelho do camarim do Teatro Copacabana, a dizer a si mesma: “Acho que tenho futuro”. Nenhuma outra atriz brasileira possui um currículo comparável ao dela. Se não pôs de pé um teatro, como Madame Morineau e Maria Della Costa, brilhou com mais intensidade no palco, na tv e no cinema. Só não foi ministra da Cultura do governo Sarney porque não quis, outra prova de sua invejável perspicácia.
Embora tenha atuado numa trintena de filmes e graças a dois ou três deles tenha conquistado prêmios em festivais internacionais e quase empalmado o Oscar de melhor atriz, pela atuação em Central do Brasil (1998), de Walter Salles, não é excessivo o realce que nessas memórias se dá à dramaturgia televisiva. Durante a maior parte de sua carreira, Fernanda dependeu da televisão para pagar as contas e bancar os prejuízos da ribalta. Fez teatro de qualidade na pioneira tv Tupi e telenovelas em quatro emissoras diferentes, sempre com uma espantosa disposição.
Sem muita disposição o ator não sobrevive de sua arte no Brasil. Esta é a mensagem que Fernanda nos passa com mais frequência em suas memórias. Noves fora os enfrentamentos com a censura, as reações adversas (ou indiferentes) do público e da crítica, o cancelamento de patrocínios — “vida de artista” não é propriamente um jardim das delícias, é um acúmulo de contínuos sacrifícios.
Quando precisou trabalhar também na Pauliceia, de terça a sexta, Fernanda & cia ensaiavam à tarde no tbc e faziam oito espetáculos por semana. De madrugada, ensaiavam o teleteatro. Aos domingos, terminada a segunda sessão no tbc, pegavam um voo de três horas até o Rio, aonde chegavam às quatro da manhã de segunda-feira, visitavam as respectivas famílias, e às nove estavam de volta no estúdio da Tupi para um primeiro ensaio com a equipe técnica, seguido de outros. À noite, exibiam o trabalho diante das câmeras. Ao vivo. Não havia ainda videoteipe. Na manhã de terça, embarcavam de volta para o teatro em São Paulo, para cumprir mais uma semana no mesmo ritmo.
Moral da história: vocação e talento, só, não bastam.
Matéria publicada na edição impressa #27 out.2019 em setembro de 2019.
Porque você leu Teatro
Zé Vale-Tudo
Em texto de 1969, jornalista recapitula o brilhantismo de José Celso (1937-2023) e a montagem de Galileu Galilei
JULHO, 2023