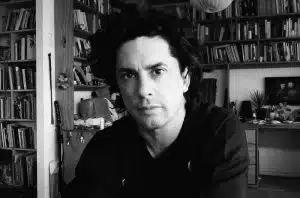Política,
As metamorfoses do conservadorismo
Obra de Roger Scruton mostra as várias facetas do pensamento conservador, mas se exime de discutir a desigualdade social
01dez2019 | Edição #29 dez.19/jan.20Olavo de Carvalho conta que lia Roger Scruton desde o início dos anos 1990, fascinado com sua habilidade de converter ícones intelectuais da esquerda “ao estado de múmias”. Disse isso no Diário do Comércio, em 21 de setembro de 2011. O filósofo inglês já tinha fama e mais de quarenta livros. Ensinara em Oxford antes de ir para a Universidade de Boston e foi um dos fundadores do Conservative Action Group [Grupo de ação conservadora], que apoiou Margaret Thatcher.
A admiração levou à propaganda. “Voltei a falar de Scruton [em sua coluna], à base de uma vez por ano, de 1999 até 2008. Em vão […] a elite esquerdista dominante nos meios universitários e editoriais não só se absteve de ler livros conservadores como também tomou todas as providências para que ninguém mais os lesse.” O que mudou em 2008? Carvalho explica: “Transcorreu o prazo de uma geração”. A nova encontrou o governo petista como o status quo e se interessou por seus críticos. No primeiro ano da Presidência de Dilma Rousseff, havia público farto de redistributivismo, dos direitos de minorias, do politicamente correto, as figurinhas carimbadas do debate público nos anos Lula. Gente ávida por outra conversa.
A permeabilidade foi aproveitada por organizações como o Instituto Mises e Veja. Os cursos do instituto difundiram ideias liberais e seu “Impostômetro” denunciava “excesso” de tributação e de Estado no Brasil. Ocupada por antipetistas — que hoje fazem parte do site de notícias O Antagonista —, a revista guerreava a esquerda. Seria um dos jovens da Veja, Felipe Moura, o compilador de ensaios e artigos de Olavo de Carvalho, em 2013, no livro O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota (Record). Nesse universo, a tópica das tópicas era a corrupção, consubstanciada no neologismo do futuro vira-casaca Reinaldo Azevedo: “Petralhas”.
O artigo de Carvalho em 2011 fora suscitado por entrevista de Scruton à revista Veja. Nela soltara o verbo contra ambientalismo, imigração e direitos de minorias. Carvalho torceu para que assim se despertasse “a atenção dos leitores para os livros desse autor imprescindível”.
Despertou. Livros de Scruton malhando progressistas e promovendo a maneira conservadora de pensar e agir foram vertidos ao português na média de um por ano desde 2010 — onze pela editora, livraria e espaço cultural É Realizações simultaneamente, entre os quais O rosto de Deus.
Propagandeou-se essa obra como “resposta à cultura ateísta que cresce hoje à nossa volta”. Em setembro de 2014, a Veja voltou a entrevistar Scruton, a propósito de As vantagens do pessimismo — e o perigo da falsa esperança, aplaudindo sua crítica ao “otimismo inescrupuloso” e a aplicou ao Brasil: “Na tentativa de neutralizar os críticos, campanha petista lança cruzada pelo pensamento positivo”.
Mais Lidas
A Record responsabilizou-se por cinco títulos, incluído o best-seller Como ser um conservador. Conservadorismo: um convite à grande tradição sai agora, manco do prefácio de 2017, que o atava à conjuntura, e com um nome diferente para o capítulo 2: “philosophical conservatism” virou “conservadorismo político”.
É livro acima do olavismo em todos os quesitos. A prosa acessível dribla a armadilha do tom raivoso e empostado. E até evoca acólitos rançosos para iluminar, por contraste, o flanco classudo. As econômicas 154 páginas trafegam por caudal de autores, largando na Antiguidade clássica com destino à “nova direita”. A ambição: atestar uma tradição conservadora longa, sólida e sofisticada, apta a orientar as lideranças intelectual e política do Ocidente. Os seis capítulos abrigam três operações intelectuais.
Unir contrários
A primeira e escorregadia cerca o substantivo “conservadorismo”. Scruton aí oscila. Uma abordagem é psicológica, como temperamento: “Ser conservador é uma maneira distinta de ser humano”, ou “os liberais se rebelam por natureza; os conservadores obedecem por natureza”. Outra é como filosofia política, racionalista e realista, emergente no Iluminismo. E há a acepção menos evidente de movimento político — que Scruton integra — originado na reação às revoluções Gloriosa, Americana e Francesa, e que zela pela forma “natural” de vida social, a comunidade e seus pilares, família e religião.
O segundo passo é demarcar a tradição intelectual conservadora, contrabandeando mentes liberais para seu perímetro. No baile conservador, comparecem Montesquieu, Burke, Tocqueville, Adam Smith e que tais, uns em traje de gala, outros em camisa de força. Na ala “cultural”, de verso e prosa, de Coleridge a Robert Musil, brilha Eliot como campeão da resistência à cultura de massa. Em contraponto à atomização moderna, sinalizaria um “modo estético de vida” antiutilitarista, materializado em lugares sagrados e símbolos nacionais, a modo de resgate do “legado moral e religioso do Ocidente”.
O terceiro tijolinho argumentativo é erigir a categoria “conservadorismo moderno”. O encavalamento das tradições liberal e conservadora oitocentistas visa tornar menos contraditório o amálgama contemporâneo, uma cepa superior, resultado de alianças forçosas à direita na guerra com a esquerda. Para unir os antes contrários, é preciso mostrar as metamorfoses do próprio conservadorismo, forjado e repaginado na peleja com antagonistas. O conservadorismo originário teve, de um lado, de se insurgir contra o pai, o reacionarismo. O cordão umbilical foi cortado por causa do déficit de realismo do antepassado, apegado ao direito divino dos reis e a formas de vida social em decadência irreversível. Pai “pré-moderno”, romântico incorrigível.
A outra luta do conservadorismo foi contra um companheiro geracional, o liberalismo. Dele dissentiu quanto ao fundamento da ordem política, preferindo o costume inscrito na common law ao contratualismo. Também não acatou a irrestrita liberdade de mercado, assentindo com intervenções governamentais pontuais em economia e sociedade. E trocou o individualismo extremo pela aposta na “sociedade civil”. Nesse ponto — o mais interessante do livro — Scruton mostra como o termo queridinho da esquerda vive bem na casa adversária.
A diferença é que a “sociedade civil” dos conservadores dilata seu contorno: abriga formas associativas laicas e religiosas, e seu cerne, em vez da autonomia, é o mercado livre. Mas suas virtudes são as mesmas dos habermasianos: associativismo, voluntariado e o anteparo ao avanço estatal sobre a gestão da vida coletiva: “A liberdade dos cidadãos, garantida pelo Estado, também é ameaçada pelo Estado. O Estado só pode garantir a liberdade ao se retirar da sociedade civil”.
Na juventude, o conservadorismo, portanto, competia com o liberalismo. Mas a roda da história gira. A tradição, medula conservadora, viva e plástica, andaria em “processo de contínua adaptação do velho para o novo e do novo para o velho”. Metamorfoses requisitadas por experiências sociais concretas, das quais brotaram três inimigos sequenciais: o socialismo, o islamismo e a nova esquerda.
A ameaça vermelha do “Estado gerencial”, no fim do século 19, teria aproximado os conservadores dos liberais, dos quais encamparam teses. É o caso da contestação de Hayek à “justiça social”, nuclear na retórica socialista: “a sorrateira palavra ‘social’ suga o significado de ‘justiça’. A justiça social não é de modo algum uma forma de justiça, mas sim de corrupção moral. Significa recompensar as pessoas por comportamentos ineficazes”. A “teoria marxista da revolução” é um lado do triângulo de “ideologias autoritárias”. Nos outros vértices estão “a ideia fascista de Estado corporativo” e a “filosofia nazista das raças”. O “conservadorismo moderno” incorporaria do liberalismo a aposta em governo representativo, separação de poderes e direitos individuais, sem a sanha neoliberal por competição e mercado sem peias, nem as fantasias ditatoriais reacionárias. Afasta-se, assim, do autoritarismo — embora muitos leitores brasileiros de Scruton não o percebam.
Anglocentrismo
Assim recauchutado, o conservadorismo transpira para ser “o verdadeiro defensor da liberdade”. É que nunca tem sossego. Teve que se virar ante adversários sempre se replasmando. Nos anos 1960, a erupção da “nova esquerda”, com agenda identitária e de costumes, abriu a guerra em torno de valores. O conservadorismo se reapresentou então como “nova direita”. Processo acentuado com o Onze de Setembro, lido como ensaio de destruição da civilização ocidental. Nessas batalhas culturais sucessivas, resgatou identidades e tradições nacionais, em resposta ao multiculturalismo e ao politicamente correto (com sua “política do pensamento”), e às “ameaças” islâmica e imigrantista ao Estado-nação.
O aliado também não deixa a nova direita dormir tranquila. O casamento conservadorismo-liberalismo fez água. É que o parceiro também se transformou, virou neoliberalismo. Foi demais para os conservadores a mercantilização do que não tem preço: “família, arte, fé e nação”. Em contraponto, insistiram no “legado cristão” do Ocidente. Esse movimento antissecularização resgataria a tradição cultural anglo-protestante, nos Estados Unidos, e a católica, dentre os franceses. Seu horizonte é a “refundação nacional”: reinstituir lealdades territoriais, reverência intergeracional, idolatria à pátria.
Na reconfiguração, o conservadorismo ultrapassou o falatório para honrar sua acepção de movimento político. Espalhou-se por imprensa e academia, multiplicou publicações e think tanks e passou a linha auxiliar de governos antiesquerda, desde Thatcher e Reagan. Na Inglaterra, enraizou-se em universidades de prestígio, caso da London School of Economics, sob a liderança de Michael Oakeshott (cuja coletânea Conservadorismo saiu pela Biblioteca Antagonista, da editora Ayîné, em 2016), e da Peterhouse de Cambridge, onde o grupo de Maurice Cowling deu à luz o próprio Scruton. E adentrou a imprensa, via Spectator, Daily Telegraph e Salisbury Review, que Scruton editou.
Nos Estados Unidos, os tentáculos alcançaram o espaço público. Na mídia, a National Review, longevo baluarte anticomunista de William Buckley Jr; nas cortes judiciais, Robert Bork, o guardião das tradições impressas na Constituição federal — Reagan tentou, sem sucesso, nomeá-lo à Suprema Corte —; e nas letras, Ayn Rand, cuja distopia antissocialista A revolta de Atlas (Arqueiro, 2017), vendeu 11 milhões de cópias. Nesse apanhado, Scruton negligencia debates intrauniversitários em torno de racismo, xenofobia, identidades de gênero e o braço midiático crucial para o conservadorismo nos últimos tempos, a Fox News.
É que o próprio Scruton é general na guerra cultural, para a qual convoca guerreiros de peso: Samuel Huntington, com seu choque de civilizações, e Pierre Manent, da École des Hautes Études en Sciences Sociales, um defensor do catolicismo. Ambos são convocados como soldados da autodefesa da cultura ocidental, urgente pós-atentados do Onze de Setembro e ao Charlie Hebdo. Todos rechaçam a tolerância liberal. Preferem a luta.
A pátria de Scruton, a Inglaterra, e o país onde vive, os Estados Unidos, quase monopolizam seu olho. França, Alemanha e Espanha ganham mirada rápida. Já América Latina, África e Ásia, nem uma piscadela. Assim — a esquerda poderia tascar —, peca por anglocentrismo.
Scruton, óbvio, nem liga para a opinião da esquerda. Mas é capaz de liberais também não apreciarem a leitura, dada a posição subordinada que ganham no “conservadorismo moderno”. Neoliberais, nem se fala. E a extrema direita se decepcionará com a falta de advocacia assertiva de seus valores reacionários. Periga não agradar a ninguém.
Conservadorismo tem pontos altos e pontos cegos. Sua leitura obriga admitir que o conservadorismo é mais complexo, multifacetado e elaborado do que a esquerda costuma supor. Os conservadores não são tontos; tontos são os que os ignoram. Contudo, salta aos olhos o torneio retórico de Scruton ao definir “conservadorismo”, que ora inclui (quando minimiza políticas públicas), ora exclui (quando enfatiza os valores tradicionalistas) teses liberais.
Calcanhar de aquiles
E, como Aquiles, o livro tem calcanhar exposto a flechadas: suas evasivas sobre a desigualdade social. A tópica pouco aparece. Numa menção oblíqua, admite a escravidão como “falha moral”, ao falar de Thomas Jefferson, mas enfatiza o par liberdade-propriedade, esquecido de que os proprietários de então — Jefferson incluído — compravam pessoas. Noutra passagem, decreta, sem discussão, que a desigualdade é natural.
Aí está a âncora funda do conservadorismo, patente em suas versões antiga e moderna, cultural e política e em suas variedades nacionais: a crença na desigualdade como um dado da natureza. A sociologia inteira prova o contrário. A desigualdade é socialmente construída, intergeracionalmente transmitida, chancelada por instituições políticas, jurídicas e escolares e legitimada por cérebros ora reluzentes, como o de Scruton, ora opacos, como o de Olavo de Carvalho.
Scruton desdenharia dessa crítica, calejado pelo “fardo da desaprovação” aos conservadores e sua “posição rica em demandas, mas pobre em promessas”. De fato, não promete sociedade justa ou tolerante. Na entrevista à Veja, que Carvalho apreciou, jogou soda cáustica nas políticas sociais “assistencialistas”, adubo para “a proliferação de uma classe baixa ressentida, raivosa e dependente”.
A pompa dos livros sucumbe em seu textos de imprensa — já definiu homossexualidade como perversão, opõe-se ao feminismo e aos direitos dos animais. É cético quanto ao progresso coletivo, já que a “natureza humana” seria sempre a mesma e nunca foi lá essas coisas. Mas, como ela está também em Scruton, a ele se aplica o próprio diagnóstico: “Por debaixo do verniz civilizatório, todo homem tem dentro de si um animal à espreita. Infelizmente, se esse verniz for arrancado, o animal vai mostrar a sua cara”.
Matéria publicada na edição impressa #29 dez.19/jan.20 em novembro de 2019.