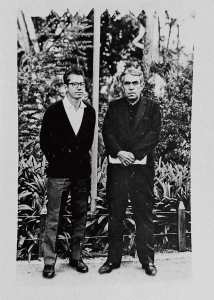Literatura brasileira,
Os bisavós dos farialimers
Modos de vida da elite paulistana são radiografados em romance escrito há mais de um século e que segue assustadoramente atual
01out2021 | Edição #50Há duas maneiras de ler Gente rica. A primeira é a que se oferece pelo índice: abra o livro e se jogue no texto. Na segunda, inverta-se a lógica: inicie pelo posfácio de Walnice Nogueira Galvão para entender quem é e onde se insere José Agudo na história da literatura brasileira. Depende, é claro, de quem é o leitor. A sobriedade das capas da editora Chão, com cores sólidas, de alguma forma sugere a primeira. Sabemos que é um romance escrito em 1912, por um sujeito de nome que mais se assemelha a um pseudônimo, e vamos ao que ele tem a contar, a partir do subtítulo: “Cenas da vida paulistana”.
O desfile de personagens da São Paulo dos anos 10 tem um quê de ironia e de deboche
Agora, a mais de um século de distância da data de publicação, temos algumas hipóteses iniciais. Qual São Paulo era essa? Uma cidade que hoje mal se compreende pelo que restou no chamado Centro Velho, que não era a capital da então República também chamada de Velha, mas já o núcleo nevrálgico da economia brasileira, entre a riqueza do café e a industrialização que se impõe. Metrópole com traços da colonização e influxo massivo de imigrantes, com bairros inteiros e pegados formados a partir do eixo central onde conviviam ex-escravos largados à própria sorte, famílias em cortiços onde se falavam vários italianos e a elite que tentava apagar os traços da gigantesca população de origem indígena e caipira falante da língua geral até bem entrado o século 19 — e enriquecia justamente explorando essa mesma massa de subordinados. É o que basta para começar.
Grão da alegoria
Agudo, ele mesmo, se apresenta logo de cara. Contra certa literatura popular, descrita por ele como uma “extraordinária confusão de roubos, assassinatos, maus sentimentos e má linguagem, que faz a delícia dos meninos de escola, dos caixeiros de taverna e dos bandidos profissionais”, ele oferece a outra face: “E, se é certo que, por alta conveniência dos sagrados interesses da Arte, os poetas devem ser lidos por poetas, muito justo me parece que os ricos pelos ricos sejam lidos. Este livro é deles e para eles”.
A argumentação, que parece se levar a sério, com a pompa do que se concebe então como arte — reparem no uso da letra maiúscula, sestro que permanece inalterado até hoje na linguagem da política —, já carrega em si o grão da alegoria. A estrutura que daí se segue é mais ou menos simples: somos apresentados a Juvenal Leme e Leivas Gomes, dois rapazes bem postos na vida, um pelo nascimento, outro pelo estudo e casamento, que flanam pela metrópole. É da conversa e de encontros casuais pontuais que se desenrola a trama.
Aparentemente descosturado, como se constituído a partir de esquetes ou cenas, mais assemelhados à tradição da crônica urbana que já se estabelece como uma espécie de gênero à parte na literatura brasileira do que ao romance propriamente dito, o livro parece uma brincadeira diletante. Mas só parece. O cinismo do prólogo, no entanto, já prepara para a surpresa: o desfile de personagens da São Paulo dos anos 10 tem um quê de ironia, de sátira selvagem, e chega a entrar em um paroxismo de deboche. Juvenal “Paulista”, o rico de nascimento, pontua sobre tudo e todos, jogando suas opiniões definitivas como quem lança cascas de amendoim no chão do bar e desfilando seu privilégio de diletante.
A partir de seu olhar, aparentemente aderido ao cenário e aos personagens que descreve, temos um panorama do nascimento de uma elite paulistana, entre os fumos aristocráticos de quem já então se autodenominava “quatrocentão”, os industriais e comerciantes que ascendem com o crescimento vertiginoso da cidade e alguns dos imigrantes que conseguem se encaixar, aos poucos, nesse tecido. Aos pobres e miseráveis, as pessoas escravizadas libertas havia menos de três décadas, indígenas e caipiras a quem o progresso não incluiu, resta o lugar de sempre: à margem e como contraponto aos abastados.
Mais Lidas
O mais delicioso desse carnaval de tipos é a persistente atualidade. Alguns dos personagens poderiam estar em qualquer matéria de jornal ou revista sobre “tribos urbanas”. Sim, lá estão os bisavós dos farialimers e fiespers, transitando pelo famoso triângulo formado pelas ruas Quinze de Novembro, São Bento e Direita.
De resto, e sem roubar ao leitor o prazer da descoberta, se esses tipos não chegam a constituir exatamente personagens, a trama, a rigor, também é simples como a de um conto espichado: trata-se da constituição de uma operação financeira muito comum à época, uma sociedade de investidores, a Mútua Universal. Aqui, a coisa se adensa no sentido do farsesco, tanto na descrição de cada um dos sócios como das regras da associação.
A atualidade, por assim dizer, do romance se dá mais pela continuidade histórica e ideológica dos “ricos” que constituirão a cidade de São Paulo do que pela habilidade do escritor, um tanto oscilante. Se há trechos de se ler rindo alto, percebe-se também que algo da fatuidade do personagem narrador, o Juvenal Paulista, como que vaza pelo texto, denunciando aqui e ali que, apesar da veia satírica, José Agudo é mais aderido àquilo que critica do que quer parecer.

Construção do viaduto Santa Ifigênia em 1910 (Acervo da Biblioteca Mário de Andrade/Divulgação)
Interstícios
Com o posfácio, sabemos que Agudo é José da Costa Sampaio, um migrante português, professor de contabilidade, que teve uma carreira literária de certo sucesso em São Paulo nos anos 10 e 20. Walnice Nogueira Galvão, em “Pelos interstícios do cânone”, retoma toda essa cena literária pré-modernista em uma chave didática e histórica, com paciência e vigor invejáveis.
Paciência porque de seu ensaio escorre aquela erudição rigorosa e metódica de quem conhece seu objeto de estudo de trás para a frente, mas, ao mesmo tempo, oferece isso a qualquer leitor que se aproxime. É minuciosa, detalhista, mas nunca em excesso. E o vigor, claro, deve-se ao entusiasmo com o qual ela se lança à tarefa. Não deixa de ser notável que, depois de uma carreira acadêmica longeva, Walnice continue inquieta e curiosa o suficiente para se debruçar sobre esse romance e esse autor.
Aos pobres e miseráveis resta o lugar
Seu posfácio, que toma o terço final do volume, entremeado por um belo caderno de fotos da São Paulo da Belle Époque, disseca todo esse período ao qual ela sugere três maneiras de delimitar: entre as mortes de Machado de Assis (1908) e de Lima Barreto (1922), entre a publicação de Os sertões, de Euclides da Cunha (1902), e a Semana de Arte Moderna (1922) ou entre a Proclamação da República (1889) e a Revolução de 1930.
Até chegarmos à sua análise de Gente rica, a crítica nos faz percorrer tanto os escritores de prosa do Rio de Janeiro como os de São Paulo; a primeira cidade tendo maior tradição e sendo mais conectada com as outras artes, a outra, ainda provinciana e mais informe. E assim nos chama a atenção para nomes de livros e de autores que há muito acumulam poeira nas estantes das bibliotecas de faculdades de letras ou de sebos — esta resenhista, por exemplo, saiu com uma lista vasta de leituras e de releituras.
Cânones que organizam ensaios, por mais que sejam uma maneira específica e cada vez mais desafiada, são perfeitamente compreensíveis para o leitor comum, uma vez que correspondem aos “grandes nomes” da literatura brasileira que nos acompanham desde o ensino médio. No entanto, justamente por dar relevo ao que está fora do cânone, Walnice revela um universo enorme da crônica urbana, então constituindo uma espécie de gênero à parte no Brasil, que, se não aspira (ou não é admitido) às glórias do reconhecimento da crítica, encontra meios (o jornal, a revista ilustrada) e público nessas cidades que se transformam com a velocidade da luz elétrica e dos motores a combustão. Começando pela página 9 ou pela 133, a leitura será uma jornada, além de interessante e engraçada, reveladora do que viria a ser a gente paulistana.
Este texto foi feito com o apoio do Itaú Cultural.
Matéria publicada na edição impressa #50 em agosto de 2021.
Porque você leu Literatura brasileira
Falar para não esquecer
Ana Cristina Braga Martes navega na contracorrente em busca de um país que se descolou de sua identidade histórica
MAIO, 2024