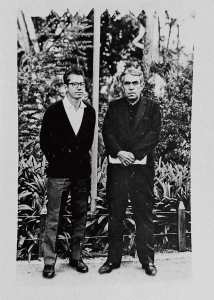Literatura brasileira,
Espírito do tempo
Itamar Vieira Junior dá centralidade a personagens à margem do Estado, mas seu novo romance ‘Salvar o fogo’ perde ao recorrer a expedientes gastos da literatura
21abr2023 • 14maio2024 | Edição #69Um mês antes de Salvar o fogo chegar às livrarias, mais de 35 mil cópias já haviam sido compradas, em sistema de pré-venda, por uma imensidade de fãs do fenômeno Torto arado, de 2018. No Instagram, o perfil @tortoaraders mostrava que os mais ansiosos já haviam até confeccionado bonequinhas de crochê e canecas estampadas com as figuras da capa do novo romance de Itamar Vieira Junior. Diante disso, qualquer coisa que uma resenha possa dizer sobre a obra será, na melhor das hipóteses, irrelevante; na pior, a resenhista se meterá numa enrascada.
Salvar o fogo chega acompanhado por esperanças e receios suscitados pelo feito recente do autor, e toda leitura partirá da dúvida sobre se ele será capaz de reproduzir o sucesso ou se terá caído na tentação de repetir uma fórmula. O romance traz, de fato, muitos elementos previsíveis — em parte inevitáveis, dado o parentesco temático com o romance anterior. Algumas retomadas são, porém, bem-vindas. Vieira Junior mais uma vez fala de um Brasil de cuja existência o Brasil que se entende moderno pouco suspeita ou quer se esquecer. Traz também personagens femininas fortes (embora o tratamento fatalista do desejo sexual feminino incomode), que ele se empenhou em construir, nem sempre com sucesso, de forma a nos fazer vivenciar suas desventuras de forma íntima, e não como espectadores de um documentário.

Salvar o fogo, novo romance de Itamar Vieira Junior

Como ele próprio afirmou diversas vezes, Vieira Junior não escreve, afinal, um tratado sociológico, e sim ficção, uma ficção que toma por objeto a vida de descendentes de africanos e indígenas em regiões rurais no interior do Nordeste brasileiro. Ele merece pontos por trazer ao protagonismo literário quem até há pouco não tinha voz. Resta saber se esse mérito é suficiente para configurar boa literatura. Não é. Engajada ou não, a ficção precisa confiar na imaginação no leitor, e Salvar o fogo não quer correr riscos.
A capa, os bonequinhos e as canecas mostram duas figuras: um garoto e uma mulher que o leva pela mão. Atravessamos um preâmbulo febril a respeito de um parto no rio para chegar ao primeiro capítulo, no qual somos apresentados a essas figuras. Luzia é a irmã mais velha do narrador e responsável por criá-lo, o que faz com mão firme e distribuição farta de culpas: Moisés cresce pensando que foi responsável pela morte da mãe e pelo celibato da irmã. Os segredos que envolvem essa mãe surgem, ao longo da primeira das quatro partes do romance, de forma ostensiva o bastante para que qualquer leitor atento adivinhe logo a chave-mestra da trama.
Somos levados a uma posição de testemunhas de como vive esse povo que o Estado não ampara
As primeiras linhas entregam a fração do drama de Luzia que é visível aos olhos de Moisés: além de criar o menino irrequieto, cabia a ela “cuidar do pai, da roupa da igreja, e ter que se esquivar dos humores do povo”. Descobrimos que a moça trabalhava como lavadeira para os religiosos do mosteiro localizado junto ao povoado de Tapera do Paraguaçu; que andava isolada das outras mulheres, sem se dedicar ao barro, ao roçado ou à cata de mariscos; que tinha como meta fazer Moisés estudar. Da numerosa família, só restavam por ali os dois e o pai, que trabalhava na terra e bebia um bocado. Dessa terra Luzia só sonhava conseguir distância.
Descobrimos também que a personagem tinha uma pequena corcunda nas costas, motivo de vergonha para ela e o menino. A vizinhança da Tapera intui algo de sobrenatural naquele corpo, e fala-se de uma maldição envolvendo o fogo, que paira sobre a casa da família. Há mesmo algo na afinidade de Luzia com as chamas, e o romance logo deixa claro que, articulada à questão do parto de Moisés, essa relação está no núcleo do mistério que será desvelado. A narrativa se constrói no eficiente, porém pouco criativo, descortinamento desse mistério. Mas esse desenrolar é só o meio para o romance denunciar, com mão pesada, os muitos e muitos abusos cometidos ou encorajados por aqueles que detêm o poder na região.
Mais Lidas
O centenário mosteiro que paira sobre a Tapera é o elemento altivo desse poder e faz sumir sob sua sombra outras culturas, crenças e passados, dos povos originários da região e dos escravizados que para lá foram trazidos, cujo rastro aparente é a cor da pele, os traços do rosto e a textura dos cabelos, além da situação de desprovimento e de sujeição. Lemos que o povo “já não sabia quem tinha chegado antes, se os donos das terras, se o mosteiro, se a nossa gente”. O povo não sabe, mas o leitor sabe, e sabe também que essa ignorância acerca da propriedade do solo é fundamental para se manter o poder.
Salvar o fogo é marcado pela obstinação do autor em colocar essa costura à mostra. “Que insistência em plantar cana, dá tanto trabalho. Só pode haver ganância por trás dessa plantação”, ouvimos Luzia pensar, de modo suspeitamente articulado. “Os antigos plantaram muita cana, era o que o povo dizia. Por um tempo, a mesma gente não quis saber mais de cultivo grande, mas agora os forasteiros que ocuparam as terras estão plantando cana, cobiçando mais terra para estender os plantios”.
Somos levados a uma posição de testemunhas um pouco voyeurs de como vive esse povo a que o Estado não ampara, e que a Igreja católica, como uma espécie de milícia, depaupera. Essa vida é marcada também por um conflito racial interno às famílias, evocado por Vieira Junior ao descrever as comparações entre os traços físicos de Luzia e seus irmãos. As aparências revelam a mistura genética e suscitam na mãe deles, Alzira, a esperança de que gerem crianças de peles mais claras e futuros mais promissores, esperança essa que vai acabar por se revelar a tragédia primordial.
A questão poderia ser produtiva, mas incomoda o pouco complexo tratamento dessa mãe mestiça que “sonhava em libertar os netos e os bisnetos”. Há algumas décadas, a teórica antirracista bell hooks já nos alertava enfaticamente para os riscos do fascínio dos intelectuais pelo “auto-ódio” dos negros. Mesmo à revelia de suas intenções, dada a pouca profundidade na relação entre os afro-indígenas e seus antagonistas brancos, Salvar o fogo acaba reproduzindo esse fascínio.
Abordagem maniqueísta
De modo geral, é este o problema do romance — problema que aparecia de modo mais inventivo em Torto arado: a abordagem maniqueísta das relações sociais e raciais, que parte do princípio, implicitamente acordado com o leitor, de que, nessas páginas, por uma questão de justiça histórica, os negros e indígenas estarão do lado certo e a elite branca estará do lado não apenas errado, mas diabólico.
Não se trata aqui de duvidar dos referentes sócio-históricos que fundamentam essa polarização — eles são muito concretos —, e sim de questionar a forma ficcional dada a esses elementos. São muitos os personagens rasos, como o hediondo abade Tomás, que, em vez de suscitarem uma reflexão a respeito da dinâmica do racismo e do domínio eurocêntrico, levam a uma interpretação do processo colonial e de suas consequências como uma mera empreitada de homens doentiamente maus. É aquela velha questão: caso nossa história criminosa houvesse sido fruto da ação de monstros, seria mais fácil emergir dela. Infelizmente, ela é feita por seres humanos.
Salvar o fogo se articula como uma revanche reducionista. A ideia de retaliação aparece desde o título da primeira parte, “A vingança Tupinambá”, narrada por um Moisés adulto que relembra, em uma dicção pouco convincente, um trauma infantil violento. Também é pouco convincente o paralelo que o romance constrói entre a prática antropofágica dos povos indígenas e a vingança de Moisés, que se efetiva na última parte do romance, intitulada “Alma selvagem”.
Os títulos dessas duas partes do livro remetem ao já clássico ensaio do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro “O mármore e a murta: sobre a inconstância da alma selvagem”. Para quem conhece o texto, soa forçado o paralelo entre a resposta de Moisés à violência sofrida e as práticas dos indígenas dos quinhentos, que o romance tenta estabelecer quase parafraseando o ensaio.
A disjunção entre passado e presente poderia ter sido produtiva, mas não é o caso. A solução de Moisés se baseia em uma dinâmica que remete — sem ironia ou ambiguidade — a uma racionalidade moderna, ficando o sistema de devires e trocas tupinambás, mal lido pelo romance, como mero aceno anticolonial. Em vez de um comentário sobre o que se perdeu e se perde desde a invasão dos europeus por aqui, fica o esforço ineficaz de manter um lastro improvável.
Nem tudo é vão em Salvar o fogo. A questão do racismo internalizado e a recuperação da ancestralidade funcionam melhor no caso de Luzia, que assume a voz narrativa na segunda parte e passa a protagonista. Acompanhamos sua jornada desde quando sofre uma agressão fundacional até conquistar sua identidade, por meio da aceitação de uma sensibilidade que a conecta ao mundo natural e a seus antepassados, redimindo seu isolamento. Para chegar até lá, precisa passar pelo susto de um acidente que provoca a reunião tardia com os membros da família há muito espalhados por outros cantos, e a consequente e um tanto óbvia revelação de segredos e confrontação de memórias.
Talvez a literatura de Vieira Junior encarne, mais que qualquer outra no país, o espírito do tempo
Entre esses parentes, ganha destaque a irmã Mariinha, personagem que os tortoaraders reconhecerão e que traz outros easter eggs do primeiro romance. O contato com Mariinha torna evidente que a trajetória de Luzia configura menos uma conquista plenamente ativa do que uma espécie de último recurso contra o sofrimento. Ela observou as práticas de cura da mãe em seu emprego das forças naturais; ela viveu na pele as consequências dos preconceitos cristãos; ela ficou presa ao lugar em que nasceu e que a faz sofrer. É no contraste e na cumplicidade com a irmã que abandonou a Tapera que se dá seu retorno ao que a terra, em seu atavismo, pode a ela oferecer.
A reconexão das duas irmãs se dá na terceira e melhor parte do romance, “Manaíba”, narrado em terceira pessoa, o que deixa Vieira Junior mais confortável. Essa voz, liberta da necessidade de mimetizar os pensamentos das personagens, traz mais convincentemente a experiência delas à nossa imaginação. É bem construída a cena em que a solidariedade entre Luzia e Mariinha se torna concreta em um ato de resistência tão potente quanto inútil contra aqueles que lhes tomam o pouco que têm.
Momentos como esse infelizmente se perdem no esforço do romance de esmiuçar seus pontos e suas imagens. Vieira Junior tinha em mãos uma saga familiar interessante e uma boa e irresolúvel questão: como se permitir viver a dor individual em meio a tanta dor coletiva. Mas o autor parece não acreditar no poder da ficção e da imaginação, e quer garantir que os leitores recebam seus recados. Nenhum detalhe é lançado apenas para que o leitor capture sozinho a deixa; nenhum gesto de opressão passa sem ser destrinchado.
Em dado momento, Moisés diz que “não imaginava serem os livros escritos”. Pensava, diz ele, “que surgiam como nós, das vidas de outras pessoas, vivos”. Vieira Junior parece crer nisso e se esquecer de que a literatura é feita de linguagem escrita, e que a tarefa árdua é transformar a vida em palavras. A atenção à forma, em Salvar o fogo, aparece apenas no uso de analogias cansativas como “Os boatos se alastraram mais rápido do que o fogo do incêndio” ou de recursos como o do discurso indireto livre. Este é empregado, porém, com intuito pedagógico, como no caso em que uma personagem tem visões do passado e as reproduz para nós como se pensasse como os indígenas ao ver os portugueses chegando. Lemos, então, passagens bobas como: “A grande maloca é chamada de igreja”.
É curioso que, no empenho de trazer à ficção a realidade de uma população à margem da modernidade ocidental, o autor recorra a expedientes gastos da literatura mais convencional: mistérios revelados pouco a pouco, alternância entre vozes narrativas que se esclarecem mutuamente e uma insistência na produção imediata de sentido. Mesmo que se considere a motivação político-didática, é de se pensar por que não investir em procedimentos formais menos familiares ao leitor de modo a redobrar a sensação de estarmos diante de algo a que até então não havíamos prestado atenção.
Risco contornável
A norte-americana Toni Morrison, na introdução à Playing in the Dark (Brincando no escuro), reflete a respeito do que acontece à imaginação criativa de autores negros, como ela própria, que estão sempre mais ou menos “conscientes de que estão representando a própria raça para, ou apesar de, uma raça de leitores que se entende como ‘universal’ ou sem raça”. Sua maior vulnerabilidade, escreve ela, está no risco de “romantizar a negritude” e “vilipendiar a branquitude”.
Esse risco é contornável, e a própria obra de Morrison demonstra isso bem, assim como a de autoras como Jamaica Kincaid, que soube explorar as tensões pós-coloniais de modo brilhante em A autobiografia da minha mãe. Ou, ainda, mais recentemente e no Brasil, o também extraordinário Agora agora, de Carlos Eduardo Pereira, que compôs uma enxuta e eficaz narrativa familiar acerca da violência concreta e simbólica sofrida pelos negros.
Talvez, no entanto, a literatura de Itamar Vieira Junior encarne, mais do que qualquer outra no país, o espírito do tempo, e isso as vendas mostrarão melhor do que uma resenha. É mesmo um mérito saber sintetizar assim uma tendência. Para a literatura brasileira, porém, esse sucesso aponta o status enfraquecido da ficção imaginativa e o triunfo da narrativa didática e moralizante, que se esquiva da complexidade humana e finca o pé na prescrição de como o mundo deve ser encarado.
Não se trata só de sucesso de público, no entanto, e é preciso refletir acerca das razões para que esse tipo de literatura obtenha tanto espaço institucional — dos prêmios à atenção recebida pela mídia, o que inclui esta longa resenha. É frustrante que essas razões apontem para o caminho do autoflagelo fácil, e nada produtivo, de uma elite ilustrada que, para expurgar a culpa por seus privilégios, celebra narrativas maniqueístas (e, ironicamente, muito cristãs) em que miséria é sinônimo de virtude, e a desigualdade brasileira se explica pelas ações de monstros muito, muito malvados.
Matéria publicada na edição impressa #69 em abril de 2023.
Porque você leu Literatura brasileira
O Vampiro e o Sabiá
Um relato sobre a amizade de Dalton Trevisan e Rubem Braga e trechos inéditos da correspondência entre os escritores
MAIO, 2024