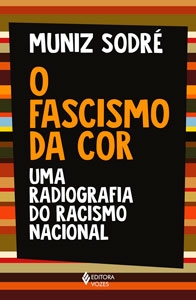Desigualdades,
Racismo negado
Muniz Sodré mostra como a preservação da forma social escravista no Brasil explica as peculiaridades da desigualdade racial no país
01nov2023 | Edição #75O novo trabalho de Muniz Sodré, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, intitulado O fascismo da cor: uma radiografia do racismo nacional, está centrado no conceito de forma social escravista. A tese é que a abolição da escravidão elimina a estrutura racista (escravatura), mas preserva sua forma, isto é, os afetos e experiências concretas racializadas, que tornam o racismo elemento estruturante da sociabilidade brasileira. Aqui, negar a substância fez com que o discurso racial precisasse negar que o racismo existisse como problema relevante.

O fascismo da cor: uma radiografia do racismo nacional, de Muniz Sodré
Como consequência, o país se engajou em produzir um racismo negado, em que não apenas se propagou a ideologia da democracia racial, mas também se impediu o reconhecimento do racismo preservado. Esse é um tipo particularmente perverso, porque demanda que o negro seja cúmplice de sua própria negação enquanto sujeito. Nos dizeres de Sodré, requer “o silêncio da vítima, portanto a sua ‘inocência’ no que diz respeito à dimensão racial das desigualdades raciais”. Num aforismo particularmente feliz, ele sintetiza: “Não existe racismo no Brasil, os negros conhecem seu lugar”.
Se a abolição preservou a forma da escravidão, é importante compreender seu significado. Sodré argumenta que, no Brasil escravista, embora o status político dos escravizados fosse garantido, a participação dos afrodescendentes na vida social era pouco regulada. Em contraste, nos Estados Unidos, a coincidência entre a estrutura legal e a representação ideológica implicava que uma vez branco, sempre branco, e uma vez negro, sempre negro, sem possibilidade de ocuparem posições sociais distintas. Esse contraste tem como objetivo destacar que a forma da escravidão no Brasil continha ambiguidades e espaços abertos sobre o lugar dos negros, diferente do que se via nos Estados Unidos ou na África do Sul do apartheid.
Para ilustrar essa argumentação, Sodré apresenta numerosos relatos cotidianos, entre os quais destaco a história de Cândido Fonseca Galvão, conhecido como dom Obá 2º d’África. O autor afirma que Galvão, um militar honorário do exército brasileiro por sua atuação na Guerra do Paraguai, era aclamado como “príncipe do povo” nos bairros negros do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo em que era amigo do imperador d. Pedro 2º. Ele teria servido como um elo entre escravizados, libertos e as elites. Esse não seria um caso isolado. Como exemplo maior dessa maleabilidade da forma social escravista, o autor descreve, apoiando-se nos estudos da historiadora Mary Del Priori, uma rede de artistas e intelectuais negros que operava à margem da estrutura educacional oficial e se reunia em torno das confrarias.
Apagamento
O fim da escravidão, por óbvio, abole o racismo escravagista. O que fica em seu lugar? De acordo com Sodré, o país passa a querer apagar a “mancha escravista”, dedicando-se assim a eliminar o passado e a negar qualquer racismo persistente. O período pós-Abolição é marcado por vários símbolos desse apagamento. Destacam-se a queima de arquivos da escravidão, determinada por Ruy Barbosa, e o rechaço à cultura e às artes afro entre as elites. O lugar social do negro, que deveria negar a racialidade como característica relevante, é evidenciado pelo contraste entre figuras públicas como o presidente Nilo Peçanha, que não se identificava como negro, o que era bem-visto, e o escritor e jornalista Lima Barreto, que se assumia e tematizava a questão racial, sofrendo as consequências disso.
Para um país que quer construir uma imagem de si mesmo em que a escravidão foi esquecida, é preciso se esmerar na “arte de esconder”. A ironia é que aquelas brechas e ambiguidades do período escravagista permitem a edificação de uma história contada pela branquitude na qual o Brasil não é um país racista. Daí ser necessário operar ao mesmo tempo um apagamento das desigualdades e discriminações raciais e um silenciamento da negritude para que não elas não sejam questionadas.
Preservar a forma social escravista significa negar o racismo existente para produzir silenciamento
Mais Lidas
Um exemplo desse mecanismo que Sodré aponta é o tratamento dado às religiões de matriz africana. De um lado, perseguidas e criminalizadas, e de outro, desumanizadas, tratadas como folclore, desqualificando-se qualquer possibilidade de coerência litúrgica. Isso leva a pensar: não é assim também que ainda hoje tratamos as tradições e rituais litúrgicos dos povos indígenas, como mero folclore?
Preservar a forma social escravista, portanto, significa negar o racismo existente para produzir em seu lugar silenciamento e ignorância a respeito da questão racial. Sua função é viabilizar o sonho de branquitude da elite brasileira. O fascismo da cor explora essa tese minuciosamente, desdobrando todas as suas consequências e mostrando sua força teórica ao dar conta de variados fenômenos conhecidos da realidade brasileira.
Como explicar que mesmo pensadores progressistas como Celso Furtado, Francisco de Oliveira ou Darcy Ribeiro, por exemplo, tenham negligenciado a questão racial na explicação dos entraves ao desenvolvimento brasileiro e tenham, em suas obras, reproduzido explicações que hoje reconhecemos como racistas? Como explicar que, para ratificar a importância que o Itamaraty deu à imagem brasileira no exterior, se recorresse aos maiores esforços para alocar apenas brancos nos postos diplomáticos? Como explicar que no Brasil um negro alforriado fosse juridicamente apto à compra e posse de um escravizado, diferentemente do que se deu nos Estados Unidos? Como explicar, ainda, que a ideologia da democracia racial possa ter obtido tanta adesão, não apenas das elites, mas também dos próprios negros? É nesse ponto que fica mais fácil compreender o incômodo com a tese do racismo estrutural. Se há racismo estrutural no Brasil, nos Estados Unidos e na África do Sul, como explicar todas as particularidades do nosso país?
Esse é outro mérito adicional do livro de Sodré em relação ao senso comum da tese do racismo estrutural, que acaba não enxergando nossas peculiaridades e permite importações acríticas de noções como colorismo — que o autor também critica, ainda que não detalhadamente.
Ao insistir que o que temos é uma forma, sem a substância, Sodré diz que não podemos falar em racismo estrutural. Essa, essencialmente, é a raiz de sua crítica à tese de Silvio Almeida, atual ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. Em entrevista concedida à Folha de S. Paulo, o autor de O fascismo da cor afirma que esse tipo de discriminação requer uma política institucional deliberada, o que ocorreu no período escravista, mas não se manteve depois da abolição — quando, ao contrário, o objetivo era negar o racismo e seus vestígios.
Por fim, ao insistir na forma social escravista e na necessidade conceitual de se distinguir, por exemplo, representação e crença, a argumentação de Sodré permite compreender como a forma social escravista possibilita a convivência com formas de vida protofascistas na sociedade democrática. Em suas palavras:
A forma social escravista é de fato o modo como a sociedade pós-abolicionista sonha com um ‘além’ societário. O sonho produz imagens do mundo. Racismo é o espelhamento social do sonho elitista de uma sociedade com um povo uno e depurado da ‘mancha da escravidão’ (a expressão é de Ruy Barbosa), assim como de exasperações identitárias, sejam morfológicas ou culturais.
Do ponto de vista metodológico, ao usar relatos das experiências práticas e dos afetos, em vez de estatísticas e dados quantitativos, o livro vai construindo no leitor a imagem desse sonho da elite que cria pesadelos raciais para as pessoas negras e que, no entanto, por não se constituir em discurso oficial ou realidade legal, será sempre negado. Um pouco como adultos que fazem pouco caso das crianças que acordam chorando após um pesadelo: “Foi só um sonho ruim”.
Ao comentar o caso de Raymundo Souza Dantas, primeiro embaixador negro da República, que fez um balanço de sua experiência no Itamaraty — em que foi sabotado, tendo sua missão em África completamente esvaziada —, Sodré afirma: “Este depoimento é teoricamente significativo, porque evidencia a oscilação entre os fatos de uma sociedade que aboliu jurídica e politicamente a escravidão e os fatos da persistente forma social escravista”.
Contradições
Com imagens evocativas, o livro busca produzir no leitor o sentimento apropriado ao falar de tema tão árido. No entanto, os limites e contradições de Sodré estão também presentes em suas escolhas. Ao procurar enfatizar descontinuidades e diferenças, deixa perguntas importantes a respeito do caráter do racismo em perspectiva comparada.
A julgar pela interpretação do que constituiria o racismo estrutural, por exemplo, depreende-se que este não mais haveria nos Estados Unidos após o fim do regime de Jim Crow. Do mesmo modo, fica impossível compreender fenômenos atuais do racismo norte-americano. Embora dedique-se ao Brasil, a força da crítica de Sodré ao conceito requer a comparação com outros países onde a discriminação de afrodescendentes é significativa.
No caso norte-americano, a ideologia da neutralidade racial (color blindness), tese do sociólogo Eduardo Bonilla-Silva em livro de 2006, sugere que há semelhanças com o Brasil descrito por Sodré, em que o racismo é negado. Lá é a ideologia meritocrática refletida na neutralidade racial que servirá para produzir o racismo sem racistas. Aqui no Brasil, a ideologia é de desigualdade de classe e, portanto, sem racismo com racistas (sempre um outro indefinido). Embora diferentes, em ambos os casos há negação. E toda a literatura tem convergido para classificar os Estados Unidos como afetados pelo racismo estrutural, ainda hoje.
O livro vai construindo no leitor a imagem desse sonho da elite que cria pesadelos raciais para pessoas negras
A crítica de Sodré à definição de estrutura não encontra eco no que a literatura sociológica tem produzido sobre o tema. O mesmo Bonilla-Silva, autor pioneiro na conceitualização de racismo estrutural em artigo na American Sociological Review em 1997, definiu estrutura racial como “a totalidade das relações sociais e práticas que reforçam o privilégio branco”. Se de fato o autor quer nos convencer de que conceitualmente está errado falar em racismo estrutural, ele precisaria dialogar não apenas com a obra de Almeida, mas com toda a literatura produzida sobre o assunto. Isso, entretanto, não é feito. Mais ainda: a julgar pela definição de Bonilla-Silva, a forma social escravista se encaixa à perfeição na noção de racismo estrutural. Ou o racismo negado descrito até aqui não abrange todas as relações e práticas ao reforçar o privilégio branco?
A leitura de O fascismo da cor indica que as críticas de Sodré ao conceito de racismo estrutural não conseguem abarcar totalmente a potência das análises sociológicas que surgiram a partir dessa perspectiva. Isso não diminui, porém, seu mérito ao apontar para uma força motriz explicativa das peculiaridades brasileiras antes negligenciadas, por meio de sua concepção central da forma social escravista.
Matéria publicada na edição impressa #75 em novembro de 2023.