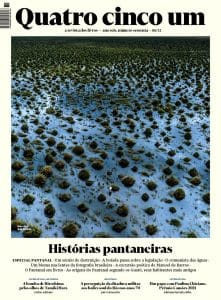Cinema,
O inominável tem nome
Enquanto o noticiário sobre o aborto soa anacrônico, a autoficção de Annie Ernaux é perturbadoramente contemporânea
22jul2022 | Edição #60Uma jovem estudante de 23 anos engravida por acidente. As perspectivas para o futuro que ela apenas começava a vislumbrar são instantaneamente esmagadas pelo prognóstico da maternidade: um casamento que já nasceria fracassado, o fim de seus planos de carreira. A complexidade de sentimentos vividos por ela, embora compartilhada por tantas mulheres através do tempo, costuma ter pouca representatividade na arte — o que reflete o tabu que assombra a temática do aborto.
Anne, a protagonista do filme O acontecimento, foi acometida pela “doença que transforma as mulheres em donas de casa”, como explica a certa altura a um professor frustrado com a queda do desempenho de sua aluna mais promissora. O longa-metragem é inspirado no livro homônimo, ficção autobiográfica da autora francesa Annie Ernaux. O título traduz a atmosfera “d’aquilo que não deve ser nomeado” que permeia as obras, à medida que Anne não encontra amparo efetivo para sua decisão — seja em seu círculo de amizades, seja no corresponsável pela gestação, seja no meio médico.
No Brasil, oito em cada dez pessoas admitem saber que o aborto clandestino é uma das principais causas de mortalidade de grávidas
Com alta qualidade narrativa, a trama acompanha a jornada de uma mulher decidida pela interrupção da gravidez desde a sua descoberta, mas inserida em uma sociedade que criminaliza sua autonomia sobre o próprio corpo e o próprio destino. O lettering que pontua o filme sinalizando o tempo de gestação tem efeito de contagem regressiva — a cada semana, esvai-se o tempo para que a personagem encontre uma solução. Da fotografia à trilha sonora, o filme dirigido pela francesa Audrey Diwan se esmera na intenção de nos aproximar das angústias da protagonista — esforço reconhecido em prêmios como o Leão de Ouro no Festival de Veneza em 2021.
A história se passa na França de 1963, onde o aborto permaneceria ilegal pelos doze anos seguintes. A tensão para o espectador se dá a partir do convite para imaginar, ao longo de toda a trama, quais serão os desfechos e consequências do procedimento, visto que a decisão é tomada logo no início. A mãe vai sobreviver? Se sim, a que custo? Para além da dor física, qual será a extensão dos danos psicológicos? Mais angustiante do que viver esse suspense durante os cem minutos de filme é constatar que, quase sessenta anos depois, mulheres seguem vivendo essas mesmas dúvidas sobre seu destino em países como o Brasil, onde o procedimento permanece ilegal — mas ainda assim amplamente praticado.
Solução segura
Mais Lidas
Quando Anne já está quase desiludida, após tentar um aborto caseiro sem sucesso e ser desencorajada por todos a quem confidenciou suas intenções — com exceção do pai do feto, o que não surpreende —, uma solução mais segura se faz disponível por quatrocentos francos. Tendo assistido ao filme em uma sessão promovida por uma revista voltada ao público feminino, pergunto-me quantas mulheres da plateia não vivenciaram o mesmo dilema e tiveram a oportunidade de encaminhá-lo com seus quatrocentos francos metafóricos. “Clínica clandestina” é um nome de aspecto obscuro, que resgata no imaginário um cenário sinistro como o da “fazedora de anjos” que performa o serviço para Anne. Mas, para quem pode pagar — em uma apuração informal, ouvi que os valores no Brasil variam entre R$ 5 mil e R$ 15 mil —, o ambiente é bem distinto, com toda a estrutura, comodidade e assepsia de um procedimento médico seguro.
Annie Ernaux nos convida a honrar sua coragem em compartilhá-la, ao trazer para debate os “acontecimentos” que são, sobretudo, uma questão de saúde pública
Recentemente, acompanhamos o caso da menina de onze anos que teve impedido seu acesso ao aborto legal. Uma semana depois, outra jovem foi publicamente recriminada ao descobrirem que colocou para adoção um filho gerado em um estupro. Nos Estados Unidos, após cinquenta anos de aborto legal, uma decisão da Suprema Corte suspendeu o direito constitucional federal. Enquanto esses episódios são discutidos no tribunal público que representa a internet, uma pesquisa divulgada pelo Instituto Patrícia Galvão em 2020 revela que, no Brasil, oito em cada dez pessoas admitem saber que o aborto clandestino é uma das principais causas de mortalidade de grávidas. A única conclusão possível é que o sofrimento feminino não importa o suficiente, como pauta social e política, para mudar essa realidade.
Anne sobreviveu para contar sua história. Ela nos convida a honrar sua coragem em compartilhá-la — e a honrar a vida de tantas mulheres que não têm a mesma sorte — ao trazer para debate os “acontecimentos” que são, sobretudo, uma questão de saúde pública. Um debate que começa quando assumimos que o inominável tem nome. Um debate que não seja orientado pelo julgamento pretensioso de se legislar sobre o corpo alheio. Um debate estruturado para garantir que cada mulher tenha segurança para sobreviver às decisões sobre o próprio corpo — porque a autonomia para isso, embora não respeitada, já lhe pertence.
Matéria publicada na edição impressa #60 em julho de 2022.