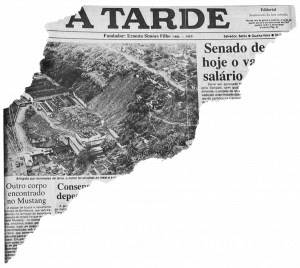Amazônia, Meio ambiente,
Um roteiro de chegada para a Amazônia
Livro que reúne o rico e turbulento passado da região serve de porta de entrada para conhecer sua história
01set2020 | Edição #37 set.2020Consagrado autor dos romances Galvez, imperador do Acre (1976) e Mad Maria (1980), o amazonense Márcio Souza foi convidado, nos anos 1990, a dar aulas na Universidade da Califórnia, em Berkeley, sobre “o moderno romance brasileiro” e “imagens da Amazônia”. Nesse momento, deu-se conta de que não tinha “um único livro” que pudesse indicar aos alunos que condensasse a história da região amazônica. A lacuna o levou a produzir uma obra mais rápida, que daria origem a um livro de menos de duzentas páginas, lançado em 1994: Breve história da Amazônia. 25 anos depois, lançou a edição revista e ampliada, História da Amazônia: do período pré-colombiano aos desafios do século 21.
A melhor definição da obra é dada pelo próprio autor na apresentação: “Uma espécie de roteiro de chegada a um pedaço imenso, mas pouco conhecido, da América do Sul”. O livro vale sobretudo por organizar o rico e turbulento passado da região, afastando a falsa impressão de que é um marasmo para o historiador. A mais evidente conclusão é que foi um pedaço da aventura brasileira extremamente sangrento e especialmente custoso para os indígenas. A lista de massacres e missões de escravização é enorme.
Souza desfila personagens heroicos e infames numa narrativa dinâmica. No primeiro grupo aparece, com louvor, o espanhol “desvairado”, “bárbaro”, “vil” Lope de Aguirre, que nos anos 1560 massacrou membros de sua própria expedição e morreu com um tiro no peito. Não menos assustadora foi a passagem de Francisco de Orellana e Gonzalo Pizarro. Em uma de suas expedições, cem indígenas morreram de maus-tratos e frio. Os espanhóis atacaram uma aldeia, prenderam o chefe da tribo e trucidaram, a tiros de arcabuz, todos os que resistiram. “Pizarro atiçava seus cães contra os índios ou matava um por um com requintes de crueldade.” Dessa prática é que veio a expressão “atirar aos cães”.
Bem mais cruel vem a ser o português Bento Maciel Parente, “um terrível caçador de índios”, dono de um temperamento “brutal, sanguíneo e exaltado”, que atuou no forte de Belém no século 17. Logo que chegou, vindo de uma sangrenta administração como governador do Ceará, onde matou vários índios e tornou índias suas concubinas, mandou prender 24 chefes indígenas e os executou imediatamente. “Os condenados deveriam ter o corpo rasgado ao meio pela tração de dois cavalos, mas, como não existiam tantos cavalos assim no forte, cada um deles teve os pés amarrados a duas canoas impulsionadas por remadores em direções opostas.”
Ainda no século 17, o português Pedro da Costa Favela deixou sua pegada devastadora ao cumprir a ordem da administração colonial de atacar índios rebeldes perto de Belém. Em 1657, sua expedição entrou no rio Urubu com quatrocentos soldados e quinhentos índios até atingir uma comunidade indígena. “Sem nenhuma contemplação, sem perguntar quem era amigo ou inimigo, perpetra uma série de massacres.” Favela “reduziu a cinzas mais de 300 aldeias, assassinou 700 índios, incluindo velhos, mulheres e crianças, além de ter escravizado 400 homens e mulheres”.
Racionalidade
Souza também procurou jogar luz naqueles estrangeiros que, dentro das circunstâncias e limites de sua época, tentaram trazer alguma racionalidade para a empreitada da colonização, como o padre jesuíta João Daniel, do século 18, “o mais esclarecido dos cronistas” da época. Vítima da perseguição pombalina, “morreu na prisão por representar uma corrente mais próxima do Renascimento, mais humanista que os zelos legalistas dos preadores [predadores]”. É dele a lembrança de que “só desde o ano de 1615 até 1652, como refere o mesmo Padre Vieira, tinham mortos os portugueses com morte violenta para cima de 2 milhões de índios, fora os que cada chacinava às escondidas. […] Havia tanta facilidade nos brancos em matar índios, como em matar mosquitos”.
Embora breve, a descrição dos embates dos indígenas muras com os portugueses é dos trechos mais impressionantes do livro. Os índios combateram “por cinquenta anos” a partir de 1720, depois que um grupo deles foi enganado e vendido como escravo em Belém. Os índios então destruíram a colônia portuguesa da boca do Madeira. Diversos combates se seguiram, com os portugueses liderados pelo major João de Sousa d’Azevedo. “Várias expedições punitivas foram lançadas contra eles [muras], mas não conseguiram esmagá-los.” Souza estima que, ao longo do tempo, mais de 30 mil muras foram mortos, contra 10 mil colonos abatidos pelos índios.
O livro vale sobretudo por organizar o rico e turbulento passado da região amazônica
Paralelamente à rebelião mura ocorreu o levante dos índios manaus, “a mais importante tribo do rio Negro”, quando desponta a figura do líder indígena Ajuricaba, “a maior personalidade indígena da história da Amazônia”. Os portugueses começaram a ouvir histórias sobre esse tuxaua por volta de 1720, quando os índios estavam sofrendo uma forte perseguição na região. O padre João Daniel chega a calcular em 3 milhões o número de indígenas “descidos à força”.
Ajuricaba passou a construir uma grande resistência e, ao longo de quatro anos, uniu “trinta nações indígenas”, aliança até então inédita. Depois de vários embates, Maia da Gama, governador do Grão-Pará, lançou “uma poderosa expedição punitiva”. Ajuricaba foi cercado, preso, “posto a ferros” com outros guerreiros e levado para Belém, onde seria vendido como escravo. No meio da viagem, contudo, “pulou da canoa de seus opressores para as águas da memória popular, libertando-se dos grilhões e ressuscitando como um símbolo de coragem, liberdade e inspiração”. O suicídio do tuxaua “repercutiu nas ações dos diversos líderes indígenas que se rebelaram e enfrentaram os colonizadores, mesmo em desvantagem”.
Mais Lidas
A ação armada dos portugueses para conter as rebeliões foi tremenda. O português Belchior Mendes de Morais, um dos encarregados de fazer a repressão a Ajuricaba, numa de suas expedições destruiu “aproximadamente 300 malocas” e dizimou “a ferro e fogo mais de 15 mil índios”. “Quando o remédio do salvacionismo cristão não surtia efeito, a pólvora dos arcabuzes abria uma perspectiva. Os militares portugueses, para enfrentar a resistência nativa, jogavam tribo contra tribo, e as punições genocidas completavam o enfraquecimento indígena em sua rarefeita unidade.”
(Corta para 2020, governo de Jair Bolsonaro: em agosto, o ministro da Economia Paulo Guedes provocou debatedores norte-americanos que participavam de um evento organizado pelo Aspen Institute, centro de estudos de Washington. Em resposta às críticas sobre o desmonte das políticas ambientais e da proteção aos indígenas no Brasil, alegou que “vocês mataram seus índios, não miscigenaram”. Argumentou, fazendo referência ao coronel George Custer, famoso por perpetrar guerras de extermínio contra indígenas dos EUA no século 19, que “isso não aconteceu aqui. Somos um povo gentil. As grandes histórias de como matamos nossos índios são falsas”. Os muras e os manaus, para ficar em dois exemplos, teriam muito o que conversar com Guedes se ele quisesse sair de sua bolha de ignorância.)
O livro ganha densidade também ao dar vida a personagens anônimos como Francisca, “uma das poucas mulheres indígenas a deixar seu nome registrado em documentos oficiais em toda a história da Amazônia”. Escrava, nascida provavelmente em 1700 ou 1701, juntou testemunhos e provas e, com ajuda de um defensor público de Belém, foi à Justiça exigir sua libertação de uma família que a mantinha cativa. Ganhou em primeira instância no Judiciário, mas perdeu na segunda.
É eletrizante o relato que Souza faz da Revolta da Cabanagem (1835-40). Ele apresenta a ideia de que o episódio moldou as relações da região amazônica com o centro de decisão do país, no sul, até os dias atuais. Reclamando da “amnésia histórica”, trata a revolta como “um fenômeno histórico tão importante, de natureza única nas Américas”. “A Cabanagem era uma guerra de libertação nacional, talvez a maior que o Brasil já conheceu”, diz o autor, que calcula que a revolta custou a vida de mais de 30 mil pessoas, “um quinto da população da região, mas igualmente revelou “a teimosia e arrogância dos políticos do Rio de Janeiro”, que tomaram várias decisões erradas ao longo do conflito, massacraram moradores e aprofundaram feridas que nunca cicatrizaram.
Leseira
Souza desenvolve uma teoria de difícil comprovação, passível de controvérsia. Primeiro, aponta que “a despopulação da Cabanagem contribuiu para reduzir a densidade eleitoral da Amazônia, resultando no relacionamento desvantajoso da região com os núcleos de poder do país”. Então, toma um caminho exótico ao defender que “é possível dizer que a população amazônica encontrou um estilo para resistir, uma maneira de enfrentar a voracidade dos projetos, e até mesmo para sobreviver às elites regionais. Esse estilo, uma demonstração de superioridade cultural, pode ser chamado de ‘leseira’”. Segundo ele, uma pessoa “lesa”, nos dicionários, é tola, molenga, preguiçosa, mas, na nova acepção, o termo é também “um conceito filosófico-existencial”.
A “leseira” se manifestaria “quando um nativo da Amazônia se olha no espelho, vê lá no fundo de seus olhos um sinal de que não foi feito para obedecer a certas leis, especialmente econômicas. Por isso, a leseira é algo elusivo, pode ser uma forma aguda de esnobismo ou uma ironia”. Não há como saber se esse conceito pode ser encontrado em outras fontes, já que Souza não oferece pistas de como chegou à conclusão. Fica a impressão de que é mais uma vontade do autor, quiçá uma provocação, do que um dado verificável.
História da Amazônia é uma leitura prazerosa e fluente em seus dois terços iniciais. A partir do início do século 20, contudo, a narrativa passa a ser muito rápida e, em alguns pontos, superficial, pulando personagens e acontecimentos. Claro que seria impossível condensar absolutamente toda a história da região em um único livro. Mas algumas decisões do autor são difíceis de entender, como o quase desaparecimento da figura do marechal Cândido Rondon e da sua Expedição das Linhas Telegráficas, considerada por muitos a primeira grande intervenção da engenharia militar na Amazônia. Rondon, que ajudou a moldar toda a política indigenista do país até os dias atuais, é citado apenas quatro vezes no livro. O processo de criação do SPI (Serviço de Proteção ao Índio), em 1910, um episódio emblemático que alterou a relação do poder central com os indígenas, também passa em branco. Salta aos olhos ainda a ausência dos mais conhecidos “herdeiros” de Rondon, os irmãos Villas Boas, que desenvolveram mais de quarenta anos de intensas relações com a região amazônica, contatando diversas etnias, ajudando a criar o Parque Nacional do Xingu e consolidando limites de várias outras terras indígenas.
Souza acerta ao pular a expedição de Rondon e Theodore Roosevelt ao rio da Dúvida (1913-14), episódio que até hoje cativa plateias estrangeiras, em especial a norte-americana, mas que teve pouco ou nulo significado para o Brasil. Mas é difícil entender por que não explicou a epopeia da criação do Parque Indígena do Xingu, que mobilizou Rondon, antropólogos como Darcy Ribeiro e indigenistas até sua confirmação pelo presidente Jânio Quadros, em 1961. O mesmo ocorreu em relação à demarcação e homologação de diversas outras terras indígenas, como a do Vale do Javari e a Yanomami, a maior do país em extensão, já no governo Collor (1990-92).
Souza honra a trajetória de Ajuricaba, mas líderes como Raoni ou Mário Juruna não mereceram atenção
Outra lacuna sentida é qualquer referência à Expedição Langsdorff (1824-29). Talvez ela não tenha tido maior repercussão na história geral da Amazônia, mas quem conhece a saga sabe que é digna de um romance de Márcio Souza. É claro que o escritor, um profundo conhecedor da região, sabe de todos esses episódios. O leitor, porém, não encontra elementos para saber por que ele optou por tais omissões. Se ele entende que esses eventos não mereciam maior destaque, seria importante ter explicitado os motivos, até para produzir um debate mais abrangente. A questão da rapidez da narrativa fica evidente no trecho destinado à ditadura militar: apenas 27 páginas para condensar 21 anos de um período complexo e denso, em que a Amazônia foi alvo de profundas transformações a partir de extravagantes e custosos projetos do governo militar.
Souza pinta o general Albuquerque Lima (1909-81) em cores positivas — teria sido o militar que teve coragem de abrir a caixa-preta e extinguir o SPI. É verdade que foi sob o seu comando, como ministro do Interior, que o Relatório Figueiredo foi produzido, mas seria interessante notar que o general tinha planos de concorrer à Presidência e poderia usar o suposto “combate à corrupção” como uma bandeira, além de lembrar de toda a reação do próprio Lima e de outros membros do governo à imprensa nacional e internacional quando a ditadura viu que a divulgação do relatório estava atingindo a sua imagem.
O impacto do relatório parece ter sido muito mais um tiro no pé da ditadura do que uma decisão consciente de Lima. A missão da Cruz Vermelha só aportou no Brasil em 1970, quase três anos depois da divulgação do relatório, pois a ditadura queria desfazer a má imagem de “governo genocida” que se espalhava no exterior. A CV fez uma viagem controlada e pautada por agentes da ditadura. O próprio Jader Figueiredo, autor do relatório, quando percebeu seu impacto, chegou a culpar o sensacionalismo da imprensa e negar que a ditadura fosse “genocida”. Além disso, Lima e o relatório jamais abordaram os ataques sofridos pelos indígenas a partir dos projetos desenvolvimentistas da própria ditadura, como a transferência dos índios xavantes de Marãiwetsede, que ocorreu em 1966, um ano antes do relatório, mas não é citada nele.
Outro aspecto do livro tem a ver com o papel atribuído aos indígenas na construção da história. Souza honra a trajetória de Ajuricaba, o que se constitui um dos grandes momentos da obra, mas é difícil entender por que líderes mais recentes não mereceram atenção, como o kayapó Raoni, o yawalapiti Aritana, falecido por Covid-19 neste ano, o yanomami Davi Kopenawa ou o xavante Mário Juruna, primeiro deputado federal indígena da história do país. O que os indígenas pensaram dos quinhentos e tantos anos de relação com a sociedade não indígena? Encontramos apenas ecos.
O próprio Souza pontua que ensaios históricos desde os anos 1970 “reconhecem a historicidade dos povos indígenas da Amazônia”, tomando o mito “para além da sua usual utilização nas análises estruturais e sincrônicas e considerando-o plenamente histórico”. Porém, infelizmente a voz indígena não ganha o destaque que se esperaria de seu livro. Esses pontos, obviamente, não descredenciam o livro como o “roteiro de chegada” que se propõe a ser. Ali estão contidos pontos de interrogação, áreas de interesse para pesquisas futuras, episódios surpreendentes que merecem aprofundamento. Só por isso, o livro já cumpre sua missão de mostrar a imensidão da história amazônica.
Não foram poucos os brasileiros que já caíram na falsa impressão de que a Amazônia pode ser pouco atrativa como tema de estudo histórico. Euclides da Cunha escreveu que a Amazônia “esconde-se em si mesma”, e no ensaio introdutório de À margem da história chega a dizer que é uma “terra sem história”. Planejava escrever uma segunda obra, intitulada Um paraíso perdido, que não chegou a concluir. Podemos nos divertir imaginando uma conversa entre Euclides e Márcio Souza, ao fim da qual certamente o genial autor de Os sertões teria muito o que pensar.
Matéria publicada na edição impressa #37 set.2020 em julho de 2020.
Porque você leu Amazônia | Meio ambiente
O arquipélago de matas
História visual da exploração da Mata Atlântica registra ação humana e espécimes sobreviventes, alertando para dimensão ética da preservação
MAIO, 2025