
50 anos da Revolução dos Cravos, Literatura,
Garota interrompida
Dulce Maria Cardoso fala sobre sua infância em Luanda e as marcas do 25 de Abril em sua vida e sua obra
01abr2024 • 17abr2024 | Edição #80Na véspera do seu aniversário de onze anos, Dulce Maria Cardoso pegou um voo de Luanda para Lisboa. Era a volta de Angola, para onde ela tinha se mudado, aos seis meses. O país que deixava lutava, há treze anos, na Guerra da Independência, que teve fim no 25 de Abril de 1974. Com a queda da ditadura portuguesa, as guerras coloniais, que já vinham perdendo apoio em Portugal, tornaram-se insustentáveis. Em Angola, movimentos políticos atuavam em diferentes regiões do país e a independência foi sucedida por uma guerra civil. Ações similares aconteciam em outras ex-colônias de Portugal, como Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique.
Mais Lidas
Apesar de o dia 25 de abril ter passado batido para uma criança na colônia, os ecos da data levaram Dulce a percorrer um caminho paralelo ao de 600 mil pessoas. Nos anos seguintes à Revolução dos Cravos, portugueses que tinham emigrado em busca de uma vida melhor voltavam para casa no processo de descolonização. Eram os “retornados” — na época, um grupo marginalizado e mal recebido pelo país de origem; hoje, uma identidade que liga aqueles que tiveram a vida interrompida, marcada por uma cisão não só política, como geográfica.
Dessa história pessoal, surgiu uma das ficções de Dulce Maria Cardoso: O retorno (Tinta-da-China Brasil, 2012). Em conversa com a Quatro Cinco Um, a escritora fala sobre a conciliação da memória privada com a coletiva e das marcas daquele primeiro retorno.
Como era a vida em Angola?
Eu tenho tido muito a pensar como consigo conciliar a memória privada, a minha infância, minha vida familiar, com a memória pública, que agora sei o que é. Para mim é muito complicado falar desse tempo, porque é simultaneamente um tempo feliz, da minha infância, de excessos, aquela exuberância das cores, dos cheiros, da fauna, da flora, da imensidão do espaço. Uma espécie de possibilidade total. Essas são as minhas memórias. Só que depois percebi que aquilo estava tudo errado. Comecei a encaixar comportamentos e práticas racistas em ações que eu tinha visto. É muito difícil encaixar uma coisa na outra. Quando me perguntam se eu sou da Angola ou se me sinto mais de Angola ou de cá, eu não me sinto uma coisa nem outra. E, só há pouco tempo, percebi que eu pertenço a um sítio impossível de explicar, que é a colônia. Foi aí que eu cresci.
O que foi o 25 de Abril?
Eu estava a brincar no largo do bairro e alguém disse: “Houve um golpe de Estado” e, pronto, continuamos a brincar. Depois começaram as mudanças sociais e políticas. Teve início a guerra [civil] em Angola. Passado um ano, eu já estava num hotel [em Portugal]. Portanto criou um antes e um depois na nossa vida, muito marcante e que ainda hoje me persegue, mas o próprio dia não foi nada.
Você se lembra do voo de volta?
Lembro-me de tudo. Essa foi a grande vantagem de ter a idade que tinha. Poucas vezes na vida a História se cruza com a nossa própria história. Eu tive o azar e o privilégio de a minha infância ter coincidido com o fim do império português, que durou cinco séculos, e com o encerramento de uma ditadura que levou quase cinco décadas. O fim da minha infância foi aí. Eu era uma página em branco, portanto registrei tudo sem qualquer juízo de valor. Sem haver bons e maus, um pouco como fiz em O retorno, com a personagem. Tudo que são considerações políticas foram pensadas a posteriori. Não é verdade que o passado é imutável. O passado muda constantemente, é a interpretação que fazemos da nossa memória.
Como foi a chegada a Portugal?
Foi tudo muito violento. Viemos em condições muito más, sem nada. Eu, como era criança ainda, vim com aquele entusiasmo de andar de avião, ir conhecer a metrópole. Eu tinha uma ideia mitificada da metrópole, e foi uma desilusão enorme. Aliás, o que me custou mais escrever em O retorno foi o capítulo que só tem uma linha — “então afinal a metrópole é isto” — porque não há como descrever a desilusão sem ser uma página em branco.
O que veio depois, isso te marcou?
Depois a vida, eu mudei muito. Acho que sou o resultado dessa mudança; deixei de ser um indivíduo e passei a ser membro de um grupo ao qual era associado um enorme estigma. Deixei de ser a criança com onze anos, passei a ser uma retornada.
‘Eu era uma página em branco, portanto registrei tudo sem qualquer juízo de valor’
Passei a ser uma coisa que eu não reconhecia, não sabia o que era. Uma criança que não era boa companhia. Eu não percebia o porquê e, pronto, aprende-se. Aprende-se o estigma, aprende-se a discriminação e aprende-se isso tudo. Eu me construí contra isso, a minha personalidade foi moldada a partir daí. Desde então, deixei de me importar, e teve efeito positivo: eu não me interesso pertencer à maioria, sou relativamente indiferente à imagem que tem de mim. Acho que vem daí, dessa fase em que essa tal maioria mostrou “tu não és bem-vinda”. Eu percebi que não vale a pena lutar contra quem não quer nos aceitar ou compreender.
Hoje ainda há estigma?
Quando eu crescia, chamar alguém de retornado era das piores ofensas. Neste momento é quase um elogio. Não foi a palavra que mudou. O que mudou foi a integração. Os retornados desempoeiraram o país. Eu digo sempre isto: o que tem que se mudar não são as palavras, o que tem que se mudar é a realidade a que as palavras correspondem, porque, mudando a realidade, a própria palavra deixa de ter importância.
O romance O retorno foi uma forma de elaborar essa experiência?
Eu não acho que a literatura sirva para isso, mas, quando nós escrevemos, estamos a pensar sobre o que nos aconteceu. O retorno é um livro que se passa em 1975 e conta a vinda de uma família para um trópico, e é contado pelo miúdo, o Rui, que tem quinze anos. Eu já falei mais sobre as personagens que eu inventei do que sobre a minha vida. Neste momento, a história do meu retorno está muito contaminada pela história do retorno que inventei. E isso tem muita graça para mim, porque eu já não sei bem o que eu senti realmente e aquilo que eu fiz sentir as minhas personagens.
No Brasil, as gerações mais novas conhecem pouco a história das guerras coloniais. A literatura tem preenchido essa lacuna?
Para isso há a história, mas a literatura ajuda, faz sublimar o que aconteceu. A literatura que me interessa é tentar compreender e, mais, prevenir. Agora já não há o colonialismo territorial, mas há outros colonialismos tão graves quanto, e nós continuamos a conviver com eles de uma maneira esquisita. Estamos mais perdidos, mais confusos, e acho que os tempos são muito mais perigosos do que eram. Havia uma noção clara do bem e do mal e do lado em que queríamos estar. Agora não, é tudo cinzento e aquilo que nos parecia inconcebível há vinte anos está a seguir em discursos políticos, quer no Brasil por Bolsonaro, nos Estados Unidos pelo Trump, aqui pelo Ventura. Ou seja, vão sendo ditas aberrações e há muita gente disposta a votar nessas pessoas. Antes, achávamos que tínhamos que lutar e nos livrar de uma ditadura para viver num regime democrático e, neste momento, a democracia está a ser destruída por dentro, e nós não sabemos bem como lidar. E a literatura pode ajudar também.
Como é a sua relação com o Brasil?
Quando viemos para cá, muita gente foi para o Brasil, e eu tentei convencer sempre os meus pais a ir para lá. Meu pai disse que nunca mais iria para uma terra onde o pudessem por para fora. E é engraçada a relação que eu criei com o Brasil, que era uma espécie de território mágico. A primeira vez que fui já foi peloslivros e também foi a primeira vez que eu pude recordar a minha infância, exatamente em virtude das cores, dos cheiros, dos frutos. Percebi no Brasil que tinha na memória muitas coisas que não imaginava. Desde os dez anos, eu nunca mais tinha tocado em caju, e eu tinha a memória certíssima do caju, sem saber. Foi como se abrisse não sei quantas gavetas da minha cabeça, e continua a acontecer. Quando vou ao Brasil, é como se tivesse acesso a outra Dulce, que está muito escondida na minha vida e lá aparece assim.
E para Angola, você voltou?
Nunca mais. Durante muito tempo, Angola teve outro regime terrível, não me apetecia visitar. E depois a questão emocional. O passado é sempre um território perigoso. Já não tenho cá o meu pai, a minha mãe está doente, já não é bem a minha mãe. Os meus amigos e todos de lá, nem sei deles. Todas as gavetinhas da minha cabeça se vão abrir e eu vou sentir acima de tudo a ausência daqueles que eu mais amei, não é? Mas agora tive um convite para ir, em razão do 25 de Abril. Não posso ir, mas contrapus que talvez na Independência. Se calhar, vou fazer para ir exatamente nas datas em que voltei: fazer a viagem no sentido contrário, a viagem que eu, há cinquenta anos, teria dado tudo para fazer.
Especial 50 anos da Revolução dos Cravos
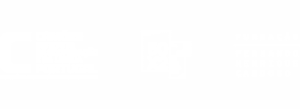
Especial 50 anos da Revolução dos Cravos realizado com o apoio do Camões Instituto da Cooperação e da Língua e da Fundação Fernando Henrique Cardoso
Matéria publicada na edição impressa #80 em abril de 2024.
Porque você leu 50 anos da Revolução dos Cravos | Literatura
Um planeta possível
Livro da premiada ilustradora portuguesa Eduarda Lima leva leitores a uma viagem por lugares de natureza deslumbrante para refletir sobre o futuro possível para as grandes cidades
ABRIL, 2024





