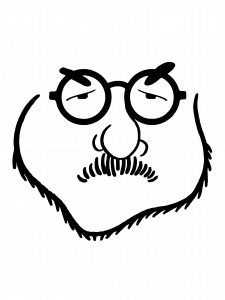Crítica Cultural,
Palavras finais
Joan Didion e Janet Malcolm ganham volumes dedicados a entrevistas que concederam sobre suas obras, radicais no trânsito entre jornalismo e literatura
21jul2022 | Edição #60Joan Didion e Janet Malcolm nasceram em 1934 e morreram em 2021. Eram ambas mulheres pequenas, de aparência frágil, que tiravam proveito disso para quebrar resistências e vencer desconfianças quando buscavam no mundo, na chamada vida real, a matéria-prima de suas histórias. Por caminhos diferentes, mudaram a paisagem do vasto continente hoje batizado “não ficção”. Da literatura para o jornalismo e deste para o ensaio, as duas esburacaram para sempre as fronteiras entre os gêneros, criando para si personas fortes e muitas vezes controversas. Por obra da editora americana Melville House, Didion e Malcolm se encontram no lançamento simultâneo de livrinhos dedicados a elas na coleção The Last Interview, que reúne compilações das conversas finais de grandes autores.
Dialogar com criadores sobre criação e criaturas é esporte arriscado e às vezes um tanto brutal. Didion e Malcolm frequentaram com certa assiduidade meus sonhos e pesadelos de repórter. Das poucas tentativas frustradas de entrevistar uma e outra restava, no fundo, um certo alívio. Ao passar os olhos nesses livros, confirmo o que intuí: ambas foram robustas encrencas para seus interlocutores. No extremo oposto do entrevistado profissional, inteligente com fins publicitários, elas falavam sobre o que escreviam do jeito que escreviam: Didion, a lacunar; Malcolm, a inquiridora.
Na universidade, ambas queriam ser escritoras de ficção. Didion trocaria Berkeley pela redação da Vogue em Nova York e Malcolm deixaria a Universidade de Michigan para, entre contribuições esporádicas para a imprensa, cuidar da família recém-formada. Uma nota “C” sepultaria seu flerte com a literatura: “Foi humilhante, mas provavelmente útil. Nunca mais tentei escrever ficção. Um professor mais gentil talvez tivesse permitido que eu me iludisse sobre minhas habilidades de contista”, conta ela a Katie Roiphe, que a entrevistou para a Paris Review. “Sou capaz de relatar, mas não de inventar.”
Na Vogue, Didion produziria um de seus ensaios pessoais mais cultuados, “Sobre o amor-próprio”, mas a cabeça da jovem repórter estava em Run River, romance com que, sem grande alarde, estrearia na literatura. O livro foi lançado em 1963, ano de A redoma de vidro, de Sylvia Plath, e O grupo, de Mary McCarthy — e quando Janet Malcolm assinou seu primeiro texto na New Yorker, “Thoughts on living in a Shaker house”, poemeto irônico sobre o Shaker, escola americana de arquitetura e design do século 19. Ali tinha início uma longa colaboração com a revista que, nos anos iniciais, a manteria nas fronteiras dos assuntos ditos “femininos” — mesmo território que Didion ocupava até tomar de assalto o jornalismo americano com Rastejando até Belém, reunião de reportagens, perfis e ensaios pessoais de 1968.
No final dos anos 70, aos quarenta e poucos anos, Joan Didion já havia conseguido se firmar como escritora com os romances Play It as It Lays e The Book of Common Prayer. Em parceria com John Gregory Dunne, com quem se casara em 1963 e com quem viveria até a morte dele, quatro décadas mais tarde, tornara-se uma prestigiada roteirista de cinema. E, ao voltar a reunir textos de seu jornalismo idiossincrático e brilhante, lançaria o notável O álbum branco.
Na mesma época, Janet Malcolm trocara os comentários sobre decoração, arquitetura e literatura infantil por densos ensaios sobre fotografia. Mas só se tornaria Janet Malcolm em meio a um bloqueio causado pela privação de nicotina. “Decidi fazer o que a New Yorker chamava de texto longo factual, que precisava de meses de apuração. Achei que, quando terminasse de apurar, pudesse escrever sem fumar”, disse ela à revista Believer. “Quando chegou a hora de escrever, vi que conseguia. Essa foi a primeira grande reportagem que escrevi e esse tipo de escrita se tornou minha marca.” O resultado foi “The one-way mirror”, detalhado e espinhoso relato sobre terapia familiar publicado em 1978.
Mais Lidas
Estava aberto o caminho para uma das frentes de atuação, a psicanálise e suas questões. Em livros como Nos arquivos de Freud e O jornalista e o assassino, firmaria seu peculiar método de trabalho: entrevistas exaustivamente editadas, profusas digressões, discretas e contundentes intervenções pessoais, descrições detalhadas, juízos implacáveis. A repórter e a ensaísta tornavam-se uma só, cultuada e odiada pelas discussões sobre ética e limites de biógrafos, artistas e jornalistas. “Eu não decidi escrever sobre traição, mas ao escrever sobre jornalismo, biografia e fotografia acabei esbarrando no tema”, observa ela para a Believer. “Em cada um desses gêneros, o profissional detém um enorme poder sobre seu personagem. Independentemente de ele usar esse poder corretamente ou não, esses gêneros têm uma tendência, constitutiva, de ser pouco amáveis.”
“Amável” também não seria adjetivo adequado para definir o jornalismo de Joan Didion. Depois de dissecar com acuidade a contracultura nos anos 60, ao longo das décadas de 80 e 90 foi implacável na cobertura da política americana. Em 2003, a morte súbita de Dunne resultaria numa delicada obra-prima, O ano do pensamento mágico (2005). Menos de dois anos depois, também perderia a filha única do casal, Quintana, tema de Blue Nights (2011). Mesmo diante da dor mais aguda, manteve a firmeza de uma repórter convicta de que, como diz em entrevista a Sheila Heti para a Believer, deve sempre interpelar a realidade em busca de explicações: “Você ganha confiança. É o que acontece ao longo de sua carreira. Quero dizer, você se torna confiante de que tem, isso parece ridículo, mas se torna confiante de que tem a resposta”.
Colagens e entrelaços
Em 2006, quando já não voltaria à ficção, Didion explicou com clareza o trânsito entre jornalismo e literatura. “Escrever não ficção é como esculpir, trata-se de trabalhar a pesquisa até chegar à forma final”, disse a Hilton Als para a Paris Review. “Romances são como pinturas”, prossegue, “mais especificamente como aquarelas. Você tem que acompanhar cada pincelada que dá. É claro que você pode reescrever, mas as pinceladas originais ainda estão lá, na textura da coisa.” Em 2001, Janet Malcom também usara uma metáfora plástica para falar à Salon sobre sua escrita: “Gosto de pensar no meu trabalho como uma espécie de colagem”.
Em seus anos finais, Didion e Malcolm botaram em questão pontos importantes de suas obras. Ainda que desde sempre tenha entrelaçado vida pessoal e escrita em seu trabalho de não ficção, Didion sempre manteve as menções a “marido” e “filha” sob um véu quase impessoal, recurso abandonado em O ano do pensamento mágico. Malcolm, que sempre abjurou a possibilidade de uma autobiografia, dedicou-se justamente a esse tipo de rememoração — em janeiro será publicado o póstumo Still Pictures: on Photography and Memory, reunindo breves ensaios em que partia de imagens da juventude e da infância para contar a história de sua família.
O crepúsculo trouxe para ambas mais dúvidas do que certezas, o que de certa forma faz jus ao rigor que homenagearam em cada página do que escreveram. “O que significa para você ser chamada de a voz de sua geração?”, perguntou Lucy Feldman, repórter da Time, a Joan Didion. Era janeiro de 2021 e essa seria, de fato, sua última entrevista. “Não tenho a menor ideia”, respondeu.
Matéria publicada na edição impressa #60 em agosto de 2022.
Porque você leu Crítica Cultural
Elogio da sombra
Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil
JUNHO, 2025