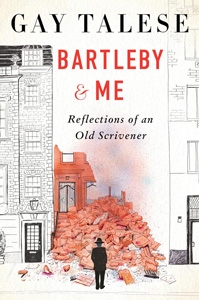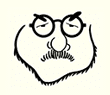
Paulo Roberto Pires
Crítica cultural
O repórter incansável
Aos 91 anos, Gay Talese volta a rememorar peripécias da carreira e apresenta reportagem inédita em 'Bartleby & Me'
14dez2023 | Edição #77Quando as camisas chegam da lavanderia, ele se apressa em guardar as folhas de cartão fino que as mantém impecáveis depois de passadas. Cada uma delas, de aproximadamente 35 por 20 cm, é escrupulosamente dividida em cinco partes de 17 por 7 cm, tamanho ideal para caber nos bolsos dos paletós bem cortados que, combinados com chapéus panamá ou fedora, se tornaram sua marca registrada. Juntos, apoiados na palma da mão, os retângulos de cartão formam uma superfície rígida o suficiente para suportar a pressão da caneta no registro das primeiras notas de algumas das reportagens mais influentes do século 20.
É nesta fronteira da minúcia com a obsessão, fio da navalha entre pose e estilo, que Gaetano Talese inventou Gay Talese — logo transformado, mesmo à sua revelia, em sinônimo de um jornalismo que, na onda de rupturas da década de 60, se declarou “novo”. Se a nouvelle vague e a bossa nova, o cinema novo e o nouveau roman viraram história, o new journalism é um espectro que segue vagando por ruínas de redações. E assombra, com discreta melancolia, as páginas de Bartleby & Me: Reflections of an Old Scrivener (Mariner Books), mistura pouco ortodoxa de memorialismo e reportagem em que Talese relata com igual diligência a produção caseira de seus peculiares blocos de notas e as peripécias que cercam “Frank Sinatra está resfriado”, um dos perfis jornalísticos mais célebres do século 20.

Bartleby & Me: Reflections of an Old Scrivener, de Gay Talese
“O mundo mudou de muitas e maravilhosas formas. Eu, não”, disse Talese, 91 anos, a Legs McNeil, do Daily Beast, numa entrevista ligada ao lançamento de Bartleby & Me, em setembro último. E o novo livro, o primeiro depois do malfadado O voyeur, de 2016, reflete a ambivalência do anacronismo que de alguma forma o “velho escrivão” sempre cultivou.
Estilo discrepante
Foi por discrepar de sua época que o jovem repórter chamou atenção ao estrear, há setenta anos, nas páginas da editoria de cidade do New York Times. Desde sempre, preferiu o anônimo à celebridade, o banal ao grandioso, o fútil ao importante. Por toda a vida perseguiu personagens, situações e ângulos divergentes do senso comum. Fez do descompasso um método e, deste, um estilo — que lhe deu prestígio, mas não garantiu tranquilidade.
Por pelo menos dez anos, entre 1993 e 2003, Talese viu um livro depois do outro fracassar depois de longas jornadas de trabalho duro. “Quando apresentava um manuscrito quase completo, meu editor me dizia para não continuar, pois o livro era obscuro demais, irrelevante ou, independente de qualquer coisa, não tinha apelo comercial”, lembra ele.
Por toda a vida perseguiu personagens, situações e ângulos divergentes do senso comum. Fez do descompasso um método
Vida de escritor, publicado em 2006, já refletia esses impasses. Um tanto desconjuntado, distante da arquitetura intricada de Honra teu pai (1971) e A mulher do próximo (1981) ou do brilhantismo da antologia Fama e anonimato (1970), resgatava das gavetas complexas apurações que não ganharam forma final, intercalando-as com memórias de seus primeiros anos no jornalismo. Uma fórmula que se repete agora com mais brevidade e interesse, a começar pela associação irônica com o protagonista de Bartleby, o escrivão, de Herman Melville.
Outras colunas de
Paulo Roberto Pires
O protagonista da novela, uma delicada obra prima cultuada por autores tão diferentes quanto Elizabeth Hardwick e Enrique Vila-Matas, é o anódino funcionário de um escritório de advocacia na Wall Street do século 19. No dizer de Talese, “um ninguém”, cujo único compromisso é o zelo com a própria irrelevância. Instado a tomar atitudes que, em variados níveis, poderiam mudar ou mesmo salvar sua vida, Bartleby responde, impermeável: “Prefiro não fazê-lo”.
Para Talese, o ponto de vista adotado pelo autor de Moby Dick ditaria os princípios do jornalismo que lhe interessava e que, de alguma forma, ajudaria a inventar:
Como leitor, sempre fui seduzido por autores de ficção que conseguiam fazer com que pessoas comuns parecessem extraordinárias. De um ninguém eles conseguiam criar um memorável alguém.
Bartleby & Me se estrutura em variações sobre esse tema. Em 1965, ao estrear na Esquire, revista que foi sua principal tribuna, Talese propôs ao editor, Harold Hayes, uma pauta melvilliana. Com o prestígio das estrelas ascendentes, o novo contratado se propunha a transformar em “alguém” um “ninguém” por definição: Alden Whitman, editor de obituários do New York Times. A magia aconteceu e, ao morrer, em 1990, Whitman há muito deixara para trás o anonimato da redação.
Mas Hayes precisava de um “Alguém” com maiúscula para incrementar as vendas da revista. E, na época, ninguém mais “alguém” do que Frank Sinatra. Talese, como Bartleby, preferia não fazê-lo, pelo óbvio motivo que era a periferia, e não o centro, o que mais o interessava. O resto é história: o repórter jamais teve acesso a seu personagem e, a partir de mais de uma centena de “ninguéns” que gravitavam em torno dele, escreveu as 14 mil palavras publicadas em abril de 1966 sob o título “Frank Sinatra está resfriado”.
“Posso não ter conseguido a matéria que esperávamos — o Frank Sinatra real”, escreve Talese a Hayes num revelador bilhete que reproduz em Bartleby & Me, “mas talvez por não conseguir, observando os lacaios que me afastavam e vigiavam seus flancos, chegaremos perto da verdade sobre o homem”. A exceção confirmava, portanto, a regra que deveria valer para além dos maneirismos do novo jornalismo: a recusa, como princípio, de valores, hierarquias e lugares sociais dados como indiscutíveis e imutáveis.
Membros da família
A família Bartleby, como é fácil imaginar, está sempre aberta a novos membros. No terço final do livro, Talese nos apresenta a mais um deles, o médico Nicholas Bartha, que preferiu explodir-se com o predinho em que vivia para não dividir a propriedade com a ex-mulher. Resultado de três anos de trabalho, entre apuração e escrita, a reportagem inédita “O brownstone do dr. Bartha” dá a justa densidade de tragédia a uma história que fartou a imprensa sensacionalista como folhetim.
Filho de romenos de ascendência húngara, Bartha cresceu numa família assombrada pela perseguição — a princípio do nazismo, depois do regime comunista. Radicado nos Estados Unidos, dedicou-se tão somente a trabalhar. O casamento com uma holandesa, Cordula, e as duas filhas que tiveram soam como incidentes, a ele desagradáveis, numa espiral de solidão e tristeza. Sua única e indisputável alegria era o brownstone de quatro andares, prédio típico de Nova York, encravado entre um clube e um condomínio de luxo na rua 62 do Upper East Side de Manhattan — a poucos quarteirões de onde vive o próprio Talese.
Ao longo de anos, Cordula e Bartha se enfrentaram no tribunal. O processo é rocambolesco, envolvendo acusações de violência psicológica e antissemitismo. Diante da sentença, inteiramente favorável à mulher, Bartha decidiu: da casa em que investira sua vida só sairia morto. E, numa manhã de segunda-feira, em julho de 2006, abriu os dutos de gás e esperou a explosão. O imóvel, que àquela altura valia 6 milhões dólares, foi reduzido a uma pilha de escombros.
Transformar ninguém em alguém envolve um princípio que deveria ser inegociável no jornalismo: contexto, contexto e contexto
Para contar essa história, Talese fuça documentos e arquivos, lê transcrições de audiências, recorre a arquitetos e urbanistas, entrevista meio mundo em torno de Bartha. A história do médico e de sua relação com os outros personagens é, necessariamente, a história do predinho, da rua, do bairro, da cidade, dos Estados Unidos, da Europa. Pois transformar ninguém em alguém envolve um princípio que deveria ser inegociável no jornalismo: contexto, contexto e contexto.
Por falar nisso, Bartleby & Me é dedicado a Nan A. Talese, a lendária editora literária com quem é casado há 66 anos. E que está no centro de um projeto em que ele garante continuar trabalhando. “Eu chamo de ‘Um casamento de não ficção’”, escreve Talese, “um relato íntimo de nossa longa relação. Nosso casamento naturalmente tem altos e baixos, mas se distingue, acho, por ser ao mesmo tempo íntimo e separado”.
Às voltas com caixas em que arquivou, organizados por décadas, cartas, fotografias e até recibos de jantares, Talese também parte de um diário mantido ao longo dos anos na promessa de escrutinar sua vida como o faz com a dos outros. Haja contexto.
Matéria publicada na edição impressa #77 em novembro de 2023.
Porque você leu Crítica Cultural
O contador de histórias
Morto na terça (30), Paul Auster (1947-2024) lembrou que literatura de qualidade não é incompatível com narrativas bem engendradas
MAIO, 2024