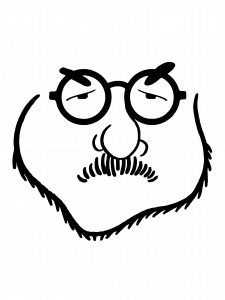Crítica Cultural,
No país da brutalidade
Como os vagabundos que esperam Godot, vivemos na expectativa de um tempo da delicadeza que nunca existiu para todos
25fev2021 | Edição #43O país substantivo, aquele que se impõe e não se pode contornar, bagunçou os adjetivos que poderiam ajudar a descrevê-lo. Nas ruínas da sintaxe do que somos e de como vivemos hoje, os que não se rifaram à extrema direita oscilam entre inferno vivido e paraíso perdido. O tal paraíso aparece aqui e ali em lampejos que um poeta cafona chamaria de “epifania” e um realista amargo definiria como “espasmo”. A cada verso de Caetano, samba de Paulinho ou interpretação de Bethânia, é um tal de invocar, na melancolia e frieza das lives, um “Brasil perdido”, vislumbrar o “Brasil que vale a pena”, declarar abstrusas “saudades do Brasil”. Sendo a música, e não outra arte, o que cimenta esteticamente nossa experiência coletiva, Chico não poderia faltar. E aqui estamos nós, como Vladimir e Estragon, esperando o país da brutalidade entrar num “tempo da delicadeza” que talvez nunca tenha existido para todos.
*
Em viagem a Paris, o protagonista de Memórias sentimentais de João Miramar tem saudade de São Paulo. Quando começou o livro, Oswald de Andrade ainda não descobrira o Brasil “do alto de um atelier da Place Clichy”, como relatou Paulo Prado. Em 1912, embarcou num navio pela primeira vez, como seu personagem, em direção à Europa. Era então, como Miramar, um jornalista aspirante a escritor, um escritor que, a cada dia, tinha as mais altas aspirações. “A esse tempo talvez eu estivesse, sem saber, ao lado de Picasso e Apollinaire no celebrado Lapin Agile da butte Montmartre”, escreveria ele em suas memórias.
Foi justo nas escadarias de Montmartre, epicentro das vanguardas, que um banzo forte pegou Miramar. No capítulo-episódio 52, batizado “Indiferença”, busca “nostalgias brasileiras”, “moscas na sopa de meus itinerários”. Ao fim de uma enumeração de lembranças da terra — “Os portos de meu país são bananas negras/ Sob palmeiras/ Os poetas de meu país são negros/ Sob bananeiras” —, aproxima, a seco, dois substantivos, numa síntese capaz de desidratar muita bibliografia analítica: “brutalidade jardim”.
Haroldo de Campos lembra quanto o livro de 1924 é tributário do futurismo. E é num dos manifestos do grupo italiano que o crítico ajuda a entender as palavras ali plantadas. “É preciso abolir o adjetivo para que o substantivo mantenha sua cor essencial”, transcreve Haroldo, em citação literal dos manifestos. E mais: “Cada substantivo deve ter seu par, isto é, o substantivo deve ser acompanhado, em locução conjuntiva, pelo substantivo ao qual está ligado por analogia”.
Mais Lidas
Quando pensamos jardim, sentimos brutalidade. E nem sempre o inverso é verdadeiro.
*
Torquato Neto e a turma que Hélio Oiticica chamava de “família tropicalista” liam muito Oswald de Andrade. Miramar e Serafim Ponte Grande voltavam então à discussão a partir dos irmãos Campos, também eles interlocutores dos jovens que, depois do modernismo, deram o choque mais decisivo na cultura brasileira. “Geleia geral”, parceria de Torquato com Gilberto Gil, encerrava o lado A do disco-manifesto Tropicália ou Panis et Circencis entupida de referências, algumas diretas, ao autor de O rei da vela: “A alegria é a prova dos nove” está lá, como um lema de otimismo desencantado. Assim como Miramar, Torquato procede a uma enumeração de nosso entulhado imaginário, agora pop e vagabundo, triste como o diabo. Ao final dela, transplanta os dois substantivos:
As relíquias do Brasil:
Doce mulata malvada
Um LP de Sinatra
Maracujá, mês de abril
Santo barroco baiano
Superpoder de paisano
Formiplac e céu de anil
Três destaques da Portela
Carne-seca na janela
Alguém que chora por mim
Um carnaval de verdade
Hospitaleira amizade
Brutalidade jardim
Ouça, uma vez mais, a gravação original, de 1968. E preste atenção na ênfase, entre irônica e agressiva, com que Gilberto Gil proclama: “Brutalidade jardim”.
*
“A frase é uma montagem cubista em que as duas metades se contaminam, mas não se fecham num todo. O jardim e a brutalidade coexistem em justaposição contraditória. A frase de Oswald captura a posição ambivalente dos tropicalistas, que eram fascinados pela mitologia edênica nacional ainda que cientes de suas premissas e usos insidiosos. O regime militar buscou representar o Brasil como um ‘jardim’ pacífico mesmo que tendo suprimido brutalmente sua oposição. A frase paradoxal de Oswald, aludindo à violência no contexto de uma arcádia tropical, encapsula telegraficamente o drama do Brasil no final da década de 1960 tal como visto pelas lentes tropicalistas.” Assim o crítico americano Christopher Dunn lê essas palavras em acesa junção, a ponto de batizar seu importante ensaio sobre aqueles anos de Brutalidade jardim: a Tropicália e o surgimento da contracultura brasileira (Unesp).
*
Em 1977, Jean Genet deflagrou um desconfortável e espinhoso debate ao publicar, na primeira página do Le Monde, “Violência e brutalidade”. Escrito originalmente como prefácio a um volume de cartas dos membros do Baader-Meinhof, o grupo de extrema esquerda que promoveu dezenas de atentados na Alemanha nos anos 1970, o ensaio estabelecia uma separação entre os dois termos, defendendo a legitimidade do uso da violência contra as variadas formas de brutalidade que identificava nas sociedades democráticas e liberais. A violência, observa ele, está em toda irrupção de vida; já a brutalidade é sempre premeditada, é “o gesto ou a gesticulação teatral que acabam com a liberdade, tendo como única justificativa negar ou interromper uma conquista livre”.
Genet não se acanalhara desde que, no final dos anos 1940, foi resgatado da prisão por uma campanha de intelectuais liderada por Jean-Paul Sartre e Jean Cocteau. Jamais se integrou totalmente à “vida literária”, zeloso em manter-se à margem de um lugar que nunca seria efetivamente seu. Foi partidário dos Panteras Negras, da autonomia palestina e das causas tidas como “radicais” — ou seja, que não se furtavam ao enfrentamento essencial, sempre violento, com as estruturas.
O senso comum, argumenta Genet no ensaio, horroriza-se diante da violência, porém não hesita em compactuar com a brutalidade. Muitas vezes, disso bem sabemos, a indignação com atos violentos é salvo-conduto para o comportamento brutal. “A brutalidade assume formas das mais inesperadas, não identificadas imediatamente como brutalidade”, adverte ele, antes de listar exemplos desconcertantes: “A arquitetura das moradias populares, a burocracia, a substituição do nome — próprio ou conhecido — pelo número, a prioridade, no trânsito, da velocidade sobre a lentidão dos pedestres, a autoridade da máquina sobre o homem que a maneja, a codificação de leis prevalecendo sobre o costume, a progressão numérica das penas, o uso do sigilo para interditar uma informação de interesse geral, a inutilidade do espancamento nas delegacias, a rispidez do policial com quem tem a pele escura, […] o Rolls Royce de 40 milhões.”
Atacado à direita e também à esquerda, Genet ficou dois anos em silêncio depois do episódio. O ensaio, que naquele momento de nervos expostos foi visto como uma defesa pura e simples do terrorismo, é muito mais. Traz uma reflexão ainda hoje urgente sobre os sentidos da brutalidade.
*
O avesso da pele (Companhia das Letras) é uma perturbadora carta ao pai. Pedro, o narrador do romance de Jeferson Tenório, está menos preocupado com um acerto de contas do que com a tarefa, tão afetiva quanto política, de contar a história de Henrique, homem comum que, como tantos outros triturados pelo racismo, não teve direito ao protagonismo da própria vida. Professor que prega no deserto de um supletivo de ensino fundamental da periferia de Porto Alegre, Henrique estropiou-se pela consciência, na idade adulta, de que a suposta normalidade de sua vida na capital gaúcha era, na verdade, inaceitável. Em países racistas como o Brasil, exclusão é regra, aberração é rotina.
A crueldade está nas “duras” aleatórias da polícia e na boa intenção protocolar — “Pessoas brancas nunca pensam que um menino negro e pobre possa ter outros problemas além da fome e das drogas”. Está no descaramento do advogado, cidadão de bem, que emprega Henrique com uma ressalva — “Não gosto de negros” — e na acolhida, por definição afetuosa, entre os parentes de uma namorada branca — “Em pouco tempo, você era o negão da família, como também passou a ser uma espécie de para-raios de todas as imagens estereotipadas sobre os negros: pois disseram que você era mais resistente à dor, disseram que a pele negra custa a envelhecer, que você deveria saber sambar, que deveria gostar de pagode, que devia jogar bem futebol, que os negros são bons no atletismo. Você não corre?”.
A desgraça de Henrique, constata o filho, foi ter vivido com a consciência da exclusão. A chamada “normalidade” tem cor. E o preço que se paga por ela é a aceitação incondicional da humilhação como regra e do preconceito como horizonte. O avesso da pele lembra que, entre nós, o pensamento emancipatório é sempre penalizado. E, de 2018 para cá, é marca comum dos inimigos do Estado.
*
A promessa de ordem foi o fundamento primeiro das milícias, que com essa declaração de intenções ganhariam o apoio de moradores de comunidades cariocas subjugadas pelo tráfico. Pouco importava que o preço da paz armada fosse a mudança de mãos da violência e muito menos que esse processo acontecesse à margem da lei — com envolvimento explícito de muitos de seus agentes. A lógica prosperou e, como demonstra Bruno Paes Manso, em A república das milícias: dos esquadrões da morte à era Bolsonaro (Todavia), chegaria a Brasília.
Manso, que é jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, anda pela cidade, entrevista milicianos, estabelece com eles relações. E nos dá um relato didático do que vê ao narrar o encontro, por Zoom, com os fundadores da chamada Liga da Justiça, que já cumpriram pena e hoje vivem em liberdade:
“Aos 71 anos, Jerominho não assustava mais com seu jeito de avô bonachão, uma grande barriga e rosto vermelho. Natalino, aos 64, era o tipo risonho que se calava, respeitoso, quando o irmão mais velho começava a falar. […] Enquanto eu os ouvia, me perguntava como duas personalidades distintas podiam conviver em um único indivíduo? Habitavam o mesmo corpo o médico e o monstro? O matador e o homem cordial? Claro que eu não estava diante de pessoas com dupla personalidade. O carisma e a violência não eram traços opostos, mas complementares na formação dessas autoridades que mandavam nos bairros”.
*
O país da brutalidade tem em Torquato Neto seu poeta laureado. Até hoje, outra de suas parceiras com Gil, “Marginália 2”, segue imbatível no retrato da “Tropical melancolia/ Negra solidão”. Na terra dele, que é a nossa, tem palmeiras onde bate um “vento forte”, vento “Da fome, do medo e muito/ Principalmente da morte”. É país que se homenageia cantando, de mão no peito, o único refrão-exaltação possível:
Aqui é o fim do mundo
Aqui é o fim do mundo
Aqui é o fim do mundo
Matéria publicada na edição impressa #43 em março de 2021.
Porque você leu Crítica Cultural
Elogio da sombra
Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil
JUNHO, 2025