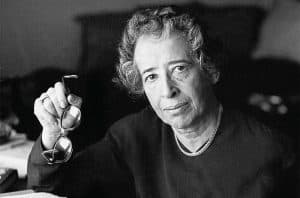Crítica Literária, Filosofia,
A verdade da carne
Uma leitura literária do volume da “História da sexualidade” de Foucault, recém-publicado na França, em diálogo com o novo livro de Rancière
20nov2018 | Edição #11 mai.2018Terminei A vontade de saber, primeiro volume da História da sexualidade, de Michel Foucault, quando tinha vinte anos, durante uma travessia tempestuosa do canal da Mancha. Quatro horas debaixo de chuva, em mar revolto, entre Dieppe e Newhaven. A travessia mais longa era também a mais barata, razão pela qual eu e um amigo de adolescência, instalados em Paris, nas férias, com um orçamento de estudantes, tínhamos optado por aquele percurso e não pelo mais curto e tradicional entre Calais e Dover.
Não sou filósofo nem historiador. Minha leitura da filosofia sempre esteve comprometida por um viés literário, narrativo. Leio filosofia como quem lê ficção. Ambas funcionam para mim como redes de sentido jogadas sobre o mundo. “É sempre isso que está em jogo tanto nas ficções declaradas como nas ficções não declaradas da política, da ciência social ou do jornalismo: construir (…) as formas perceptíveis e pensáveis de um mundo comum, determinando as situações e os atores dessas situações, identificando acontecimentos, estabelecendo entre eles relações de coexistência ou de sucessão e dando a essas relações a modalidade do possível, do real e do necessário”, escreve Jacques Rancière na introdução de um livro recente sobre a ficção: Les Bords de la fiction (As margens da ficção).
Terminei A vontade de saber numa alegria e numa excitação incompatíveis com a borrasca que nos sacudia (suponho que incompatíveis também com uma compreensão mais douta e rigorosa do texto), revigorado por uma surpreendente sensação de poder, um efeito análogo ao do desfecho de um romance policial, como se ao final da leitura eu detivesse um segredo e uma verdade que supostamente nenhum dos passageiros pálidos e mareados à minha volta conhecia.
Nessa mesma ocasião, ao longo do inverno de 1981, frequentei como ouvinte o curso de Michel Foucault no Collège de France. Toda quarta-feira, eu madrugava para chegar a tempo de pegar um lugar no auditório lotado e instalar meu gravador entre dezenas de outros na tribuna de onde o filósofo falava, para um público heterogêneo de estudantes, filósofos, senhoras burguesas e simples turistas como eu, sobre a constituição, pelo cristianismo, de um modelo de comportamento sexual. Àquela altura, cinco anos depois de A vontade de saber (1976), Foucault estava escrevendo o quarto e último volume de sua História da sexualidade, Les Aveux de la chair (As confissões da carne, a ser publicado em 2019 pela Paz e Terra/Record). O texto, entretanto, interrompido pela morte do autor em 1984 (ou talvez abandonado devido à reformulação do projeto), teve de esperar 34 anos para ganhar edição a cargo de Frédéric Gros, dentro do contexto de publicação da totalidade da obra, tanto mais justificada depois do lançamento, em 1994, dos quatro volumes de Ditos e escritos, reunindo toda a produção esparsa do filósofo.
Atribuo ao viés literário e ao diletantismo da minha compreensão da filosofia, aliados ao conhecimento escolar que na época eu tinha do francês, a memória difusa que guardei daquele curso, ao qual assisti em estado de êxtase, como um místico a ver, ouvir e compreender fenômenos distorcidos ou inexistentes. Nunca vou me esquecer de uma aula, para mim completamente insólita, na qual Foucault discorria sobre a vida sexual dos elefantes, que o cristianismo primitivo via como ideal monogâmico, enquanto senhoras recatadas e deslumbradas tomavam notas, atentas, na primeira fila.
O homem do desejo
Entre A vontade de saber e aquele curso no inverno de 1981, o filósofo abandonou o projeto inicial de estudar “o dispositivo biopolítico moderno da sexualidade (entre os séculos 16 e 19)” a favor de uma “genealogia do homem do desejo, desde a Antiguidade clássica até os primeiros séculos do cristianismo”. Em A vontade de saber, Foucault estava interessado na incitação aos discursos (sobre o sexo e o comportamento sexual) que inventaram a “sexualidade” como objeto do saber, reduzindo-nos a “homens vitorianos” — perversos, histéricas etc. —, sob o controle da ciência. Em meio a essa explosão discursiva, “a confissão foi, e continua sendo, a matriz geral que rege a produção do discurso da verdade sobre o sexo”, o que explicaria e justificaria a guinada na investigação do filósofo, o redirecionamento de seu interesse da modernidade para a Antiguidade clássica e a formação do cristianismo, a reconfiguração da sua História da sexualidade como genealogia das matrizes normativas do comportamento no Ocidente.
Foucault queria mostrar como o cuidado de si, o controle sobre os próprios atos e pensamentos acabou servindo à dominação social sob o jugo do cristianismo
Mais Lidas
Foucault queria mostrar como o cuidado de si, o controle sobre os próprios atos e pensamentos, que inicialmente, nas tradições pagãs, entre os gregos e os romanos, consistiu numa “arte de viver”, num caminho para a virtude, para a saúde, o aperfeiçoamento de si e a salvação (temas tratados nos volumes 2 e 3 da História da sexualidade: O uso dos prazeres e O cuidado de si), acabou servindo à dominação social sob o jugo do cristianismo. Preceitos pagãos foram reformulados pelo pensamento cristão no século 2 e difundidos pelo ascetismo monástico até a sistematização proposta por Santo Agostinho no século 4, permitindo o controle da sociedade a partir da jurisdição eclesiástica da vida íntima dos indivíduos. O que no início estava restrito ao âmbito religioso acabou se laicizando e se disseminando por toda a sociedade, convertendo-se em dominação de si e dos outros por meio de discursos formadores da verdade sobre o sujeito em sua relação com o sexo. O principal instrumento dessa dominação foi a confissão.
A incompletude não passa despercebida à leitura de Les Aveux de la chair. O estilo está aquém dos volumes anteriores. Às vezes ficamos com a impressão de estar lendo uma sequência de apontamentos. Desde a morte do filósofo fatos impensáveis aconteceram no mundo. O muro de Berlim caiu, o Brasil se tornou uma democracia, a aids se converteu numa doença crônica e os direitos individuais evoluíram a ponto de permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo em países tão tradicionalmente católicos quanto Portugal, Espanha e Brasil. Ainda assim, graças à ausência ou à precariedade do Estado brasileiro onde ele deveria estar mais presente, graças à injustiça e à desigualdade dessa que é uma das sociedades mais violentas do planeta, estamos mais do que nunca ameaçados pelos desígnios de um projeto de poder pautado pelo cristianismo, neste caso, de cariz pentecostal. A atualidade dessa ameaça faz do último volume da História da sexualidade, a despeito de seu caráter inacabado, uma experiência singular para o leitor brasileiro.
Os pais do cristianismo, responsáveis pelos fundamentos prescritivos da Igreja, apropriaram-se do regime que os pensadores pagãos formularam sobre a temperança, a procriação, a dominação dos desejos pela razão e a desqualificação dos prazeres, situando o matrimônio no núcleo central desse modelo. Com São João Crisóstomo (século 4), considerado o maior orador do cristianismo primitivo por suas célebres homilias (Crisóstomo quer dizer “da boca de ouro” em grego), o casamento deixa de ser simples vetor da procriação, como na cultura helênica, para servir à continência sexual, à monogamia, a uma normatização da vida sexual. O casamento passa a ser um limite imposto ao desejo, uma economia da concupiscência, segundo uma pastoral das relações conjugais. É o início da jurisdição da Igreja sobre a vida privada dos indivíduos, um código de comportamento que permitirá à autoridade eclesiástica se imiscuir no que há de mais íntimo e secreto entre os cônjuges.
Ao separar o casamento da finalidade da procriação, o cristianismo primitivo abre o caminho para a noção de dever e dívida na vida privada, o que justifica a jurisdição eclesiástica da intimidade. Combater a concupiscência já era o objetivo central da vida monástica. Mas, além de um problema para a Igreja interessada em ter controle sobre toda a sociedade e não apenas sobre a vida religiosa, a virgindade, ideal do modelo monástico no combate ao desejo, apontava para uma contradição. Deus havia criado dois gêneros no Paraíso. Se o sexo era pecado, Deus teria criado o ser humano para pecar.
Agostinho dará uma solução ao problema, propondo uma “libidinização do sexo”. Ou seja, haveria sexo — mas não desejo — no Paraíso. O pecado do homem não foi desejar, mas desobedecer a Deus, por mais insignificante que tenha sido essa desobediência — tão insignificante como comer um fruto proibido. O desejo é consequência: é o castigo de Deus, para que o homem sinta na própria pele uma rebeldia semelhante à que Deus sentiu ao ser desobedecido pelo homem. Com o desejo, o homem passa a desobedecer a si mesmo. O desejo é involuntário, ele contraria a razão e a autodeterminação do sujeito, é um rebelde em seu próprio corpo, embora também seja parte constitutiva da sua vontade, o que vai permitir à Igreja julgá-lo, transformá-lo em culpa. A separação entre libido e sexo é a condição definitiva para a Igreja assumir a jurisdição sobre a vida privada, para poder legislar e normatizar o sexo. O sujeito do desejo surge em Santo Agostinho.
Nessa separação, o sexo já não está ligado à corrupção do corpo, ao pecado e à Queda. Assim se resolve o paradoxo da criação dos dois gêneros no Paraíso, mas também se cria a possibilidade de um código para o casamento que já não tem como finalidade apenas a procriação. “A virgindade é superior ao casamento, sem que o casamento seja um mal e a virgindade, uma obrigação: Santo Agostinho recebeu essa tese geral de uma tradição claramente formada antes dele. Ela atravessa toda a sua obra”, escreve Foucault. O ato sexual no casamento, quando não serve à procriação, ainda assim tem o papel de conter o desejo dos parceiros, que poderiam recorrer ao adultério ou a práticas perversas fora do matrimônio. O código do casamento propõe a moderação da libido.
Agostinho lança os fundamentos de uma teoria do desejo e de uma jurisdição dos atos sexuais. Ambas deixarão marcas profundas na moral do Ocidente cristão. O desejo concebido como castigo, não como causa da Queda mas como consequência da desobediência do homem, é indissociável da morte. Na Queda, o homem se expõe à morte ao mesmo tempo que se torna sujeito do desejo. No batismo, ele recebe de herança a culpa do pecado original; o indivíduo se reconhece herdeiro do pecado antes mesmo de cometê-lo ou nomeá-lo. A vida de penitência põe o reconhecimento da culpa no lugar do desejo, como fundamento do sujeito. É a rebeldia, associada ao aspecto involuntário do desejo, que a Igreja quer banir. Confessar compensa a desobediência à lei e à palavra divinas. A verdade passa a ser o reconhecimento da culpa.
É possível imputar à incompletude de Les Aveux a falta de um objetivo claro para tanta erudição. Não chego ao ponto de ver retrospectivamente, à maneira de Borges, uma conclusão embutida no inacabado, uma autoria no acaso, mas ainda assim o viés de leitor de ficção me faz querer reconhecer, nessa “libidinização do sexo” que acaba associando desejo e morte, os sinais de um objetivo apenas anunciado por Foucault, leitor de Borges.
Por um feliz acaso, enquanto lia Les Aveux de la chair descobri o livro de Jacques Rancière publicado meses antes. No mundo da confissão descrito por Foucault, a ficção poderia surgir como resistência, antídoto à verdade cristã. Rancière defende, entretanto, como Lacan, que a própria estrutura da verdade é ficcional. Isso não quer dizer que tudo no mundo seja ficção, longe disso, mas que a verdade se revela por uma estrutura de ficção, em oposição às aparências.
Rancière mostra como, na estrutura clássica da ficção, a verdade precisa de seu oposto para se revelar
Rancière mostra como, na estrutura clássica da ficção, a verdade precisa de seu oposto para se revelar. Ela depende de uma encenação, de um dispositivo de suspense que posterga a revelação para que ela possa ser representada. A verdade depende de uma narrativa que a torne visível por oposição. Ela só pode ser revelação se for vista como o contrário daquilo em que se acreditava. É o esquema de Édipo. Ele não é quem aparenta ser, quem ele acredita que seja. Essa é a estrutura clássica, aristotélica, da verdade. Contrário das aparências ou daquilo em que acreditamos, a verdade só pode ser apreendida por uma representação de oposição. Ela só se dá a ver dentro de um mecanismo narrativo, ficcional, que forja, encena a ignorância para podermos apreendê-la por contraposição. A verdade é uma mentira invertida, uma “identidade de contrários”. É o que a narrativa e as aparências escondem, mas que só pode ser revelada pela narrativa, pela surpresa da descoberta final. A ficção torna a verdade representável.
No mundo da ciência moderna, essa estrutura ficcional da verdade clássica se torna obsoleta. Ela revela antes o artificialismo do dispositivo. A verdade agora é a própria contradição, a coisa e seu contrário, ao mesmo tempo, indissociáveis. A verdade para o cristianismo corresponde à vontade de Deus. A verdade em Freud e Proust vem da consciência do desejo (e de uma associação revisitada e reconfigurada entre desejo e morte). Ela está por trás de uma concepção pagã, trágica, do homem, que o cristianismo inverteu a seu favor.
Em Proust, essa verdade vai tomar uma forma tributária das sensações. Ela é tátil, gustativa. A verdade da carne, do contato do corpo com outros corpos. A verdade em Proust é o involuntário, o contraditório, a parte do real. Ela já não é visível, mas se revela pelas sensações, pela experiência contraditória do corpo mortal no mundo. Verdade e desejo passam a ser sinônimos. E se o desejo é, como queria Santo Agostinho, castigo de Deus, a literatura será a resposta dos homens.
Matéria publicada na edição impressa #11 mai.2018 em junho de 2018.
Porque você leu Crítica Literária | Filosofia
A encruzilhada da verdade em Foucault
Conjunto de textos ajuda a entender a torção teórica e o plano de voo do filósofo francês para uma nova maneira de pensar
JANEIRO, 2025