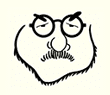
Paulo Roberto Pires
Crítica cultural
A dona da história, enfim
Na primeira biografia dedicada a ela, Elizabeth Hardwick brilha entre a genialidade de seu ensaísmo e as sombras de Robert Lowell
12maio2022 | Edição #58Elizabeth Hardwick viveu dedicada à escrita e a um amor infeliz. Chegou a ser identificada, no crédito de uma resenha, como “esposa de Robert Lowell” antes de ajudar a fundar a New York Review of Books e se tornar uma das mais importantes assinaturas da revista. O casamento com um dos grandes poetas americanos do século passado lhe deu uma filha, incontáveis danos emocionais e sequelas duradouras. Como tantas escritoras e personagens a que dedicou análises respeitadas pelas feministas de quem tanto desconfiou, terminou como uma espécie de coadjuvante da própria história.
Reservada por princípio, sofrida pelas circunstâncias, Lizzie, como era chamada, tem uma posteridade tão discreta quanto sua vida. The Uncollected Essays, que sai nos Estados Unidos neste mês, complementa o volume The Collected Essays, lançado em 2017. Mesmo deixando muita coisa de fora, os dois livros totalizam mil páginas de prosa cristalina e perspicaz com que destrinchou autores e ideias ao longo de setenta dos 91 anos que tinha ao morrer, em 2007. Em novembro passado, a biógrafa Cathy Curtis deu a ela o protagonismo que merecia em A Splendid Intelligence (Norton), traição póstuma e necessária a quem tinha horror a biografias, sobretudo depois que passou a figurar nas que narravam a vida do ex-marido.
Entre os anos 40 e o início dos 2000, Hardwick pontificou na vida intelectual irradiada de Manhattan. Não é pouca coisa. Vinha de uma austera família do Kentucky e a pecha de caipira não era exatamente a melhor credencial para entrar num mundo em que inteligência se confundia com esnobismo. Um Ph.D. na Columbia aproximou-a dos valores e do estilo de vida que ambicionava, mas a ela tampouco atraía uma carreira acadêmica tradicional. Queria escrever sem amarras, ficção e crítica, do jeito que lia na Partisan Review, o principal amplificador dos “intelectuais de Nova York”. No grupo heterogêneo que reunia Alfred Kazin e Dwight McDonald, Philip Rahv e Clement Greenberg, Irving Howe e Delmore Schwartz, todos eram de esquerda, quase todos judeus, quase todos homens e, em sua maioria absoluta, operosos machistas.
Ao lado de Mary McCarthy e Hannah Arendt, Hardwick foi das poucas mulheres a transitar com desenvoltura num circuito de jornais, revistas e editoras em que sobravam álcool, opinião e pretensão. Trocavam-se ideias e amantes, argumentos e cotoveladas numa dinâmica por tudo distante da polidez apática que hoje paralisa a vida intelectual. Ela viveu, no entanto, num tom abaixo do de suas companheiras mais destacadas. Não cultivava um projeto filosófico ambicioso como Arendt, preferindo o tiro curto e livre do ensaio, “território que não é feito para vereditos”. Tampouco fez de sua vida matéria-prima bruta da criação, como McCarthy, melhor amiga e confidente, useira e vezeira em escandalizar seus pares, muitas vezes expondo-os em situações nada confortáveis.
Ainda que Sleepless nights (1979), romance tido como sua obra-prima, seja acentuadamente autobiográfico, Hardwick sempre interpôs reelaborações literárias complexas e sofisticadas entre memória e fabulação para evitar o mero decalque de episódio ou personagem. Nas poucas vezes em que partiu para o memorialismo, o resultado é soberbo. Em “Billie Holiday”, de 1976, Hardwick volta ao tempo em que vivia num hotel barra-pesada e dividia o quarto com um amigo gay que trabalhava como relações-públicas de Lady Day:
“Diante dela, naquelas noites tranquilas, era possível perceber os abismos de sua descrença e, às vezes, sentir a liberdade nefasta e horrível presente numa incontornável suspeita do destino. Ainda assim, o coração sempre resistia ao poder de sua vontade e de seu engajamento com o desastre. Uma tendência alimentada por experiências punitivas levaram-na a viver gregariamente e sem afetos. Seu talento e o brilho de sua inteligência lutavam contra a força do vazio. Nada derrotaria seu genuíno niilismo; por isso é quase um desrespeito imaginar que ela vivia nas letras de suas músicas. Sua mensagem era outra. Era o estilo”.
Outras colunas de
Paulo Roberto Pires
A tentação do confessional, pode-se imaginar com facilidade, não deve ter deixado de rondar os piores momentos da vida com Cal — apelido que Lowell trazia da juventude e fazia referência a Calígula (aquele mesmo, o imperador) e Caliban, criatura meio homem, meio monstro de A tempestade. Quase um ano mais novo do que ela, rico, bonito e brilhante, Lowell viveu numa sucessão destrambelhada de poemas geniais, surtos psiquiátricos seríssimos e infidelidades em série — elementos muitas vezes indiscerníveis entre si. Na primeira das duas viagens que fez ao Brasil, para visitar Elizabeth Bishop, a melhor amiga de Cal, Hardwick foi embora às pressas depois de abandonada no Copacabana Palace. Segundo a biógrafa, o poeta teria passado a noite com Clarice Lispector — informação que atribui a uma carta de Bishop que consta nos arquivos da ensaísta.
Lowell, marido de Hardwick, teria passado uma noite com Clarice Lispector
Lizzie e Cal foram casados oficialmente entre 1949 e 1972, mas a ligação só terminaria cinco anos mais tarde quando ele, aos sessenta anos, morreu num táxi, na porta da casa dela. Foram muitas as vezes em que se reaproximaram num relacionamento de difícil — e inútil — definição.
Golpe
De todas as traições de um casamento feito de laços amorosos e afinidades intelectuais — também impossíveis de separar —, a mais grave veio em forma de livro. Em 1973, já morando em Londres com Caroline Blackwood, ex-mulher de Lucian Freud por quem se apaixonou e com quem teria um filho, Lowell lança The Dolphin, breve livro de poemas que gira em torno do fim de um casamento e do início de outro e em que versos inteiros são transcrições literais de cartas enviadas por Hardwick, publicadas sem autorização. O golpe, duríssimo em qualquer circunstância, seria ainda mais violento por envolver alguém tão cioso de sua privacidade. Bishop não o pouparia: “Não é que não seja ‘gentil’ usar dessa forma cartas pessoais, trágicas e angustiadas. É cruel”, escreveu numa carta que hoje integra uma reunião de toda a correspondência, The Dolphin Letters, 1970-1979: Elizabeth Hardwick, Robert Lowell, and Their Circle. “A arte”, prossegue Bishop, “não vale tudo isso.”
Em 1974, quando The Dolphin ganharia o Pulitzer de poesia, Hardwick publica Seduction and Betrayal, reunindo dez ensaios sobre a condição de mulheres nas peças de Ibsen e nas obras de escritoras como Sylvia Plath, Zelda Fitzgerald e as irmãs Brontë. Jamais se pronunciou ou assumiu que, dessa forma, desse uma resposta a Cal. E seguia, como sempre, reticente em relação às demandas organizadas do feminismo, então em sua segunda onda. “É claro que sou a favor que tudo o que possamos conquistar e que é justo”, limitou-se a dizer numa entrevista.
De um tempo para cá, livros como Tough Enough (algo como “Duronas”, inédito em português), de Deborah Nelson, e Afiadas, de Michelle Dean, reúnem perfis de mulheres que, de inequívoco comportamento feminista, jamais se acomodaram com os movimentos organizados. Mary McCarthy, Hannah Arendt, Joan Didion e Susan Sontag são comuns aos dois livros. Elizabeth Hardwick não figura neles, talvez por sua reiterada recusa das literalidades, talvez porque jamais pôde justificar como sua “esplêndida inteligência” sempre foi empanada pela melancolia dos inescrutáveis caminhos de viver junto. As pistas estão, no entanto, por toda parte. Em Sleepless nights, encontrei esta aqui: “Eros tem milhares de amigos”.
Matéria publicada na edição impressa #58 em fevereiro de 2022.
Porque você leu Crítica Cultural
O contador de histórias
Morto na terça (30), Paul Auster (1947-2024) lembrou que literatura de qualidade não é incompatível com narrativas bem engendradas
MAIO, 2024







