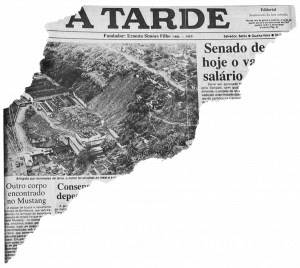Meio ambiente,
O desastre e as palavras
Escritor gaúcho relata o horror gótico das enchentes em Porto Alegre
em busca de narrativas para dar conta dos desafios da crise climática
Na manhã de terça-feira, dia 14 de maio de 2024, abri a transmissão ao vivo da Rádio Gaúcha no celular enquanto passava um café. Ainda faltava água em nosso apartamento, onze dias depois de o defeito em uma bomba do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (dmae) ter interrompido o fornecimento. Estávamos bem, tínhamos passado uns dias na casa dos meus pais na zona sul, mas era bom estar de volta ao nosso lar.
Na rádio, uma repórter falava ao vivo de um barco que percorria o interior da rodoviária de Porto Alegre. O prédio — assim como toda a parte baixa do centro da cidade e outros bairros, comunidades e cidades da região metropolitana — estava submerso desde o dia 3, quando as chuvas que já haviam arrasado centenas de municípios no interior alcançaram o delta do Jacuí e o lago Guaíba.
Embasbacada, ela tentava descrever o que via: comida e animais mortos boiando, um cheiro horrível. O barco saiu da rodoviária e se aproximou do viaduto da Conceição, movimentada via de acesso à cidade, que naquela manhã sumia dentro das águas marrons e plácidas de uma nova geografia. As pistas vazias e o silêncio chamaram a atenção da repórter, que comentou (parafraseio de memória): “Vendo isso, a gente torce para que os engarrafamentos possam voltar logo.”
Peguei a bicicleta e pedalei até o centro. O dia estava seco e ensolarado. Nas ruas e calçadas sossegadas imperava uma quietude estranha, cortada aqui e ali por motores a combustão, papagaios em polvorosa nas copas das árvores, sirenes e, é claro, helicópteros, figurantes indefectíveis daquilo que nem sempre se resiste em descrever como “um cenário de guerra”. No caminho, a fala da repórter não saía da minha cabeça.
Contemplei o arquipélago de edifícios combalidos que abrangia a rodoviária. Barcos singravam a rua Voluntários da Pátria
Mais Lidas
Entendemos, com boa-fé, o que ela quis dizer: os moradores de Porto Alegre querem que o problema vá embora e possamos voltar à normalidade, da qual fazem parte os congestionamentos. Ao mesmo tempo, era um indício de como, mesmo naquelas circunstâncias, o pensamento da maioria das pessoas reage ao choque da tragédia climática sem dar o passo seguinte, necessário para iniciar ou acelerar transformações urgentes das quais dependem o futuro da humanidade.

Casas destruídas na ilha da Pintada, depois da chuvas em Porto Alegre, em 19 de junho de 2024(Bruno Peres/Agência Brasil)
Afinal, na esteira de uma série de eventos climáticos extremos na região, uma enchente dessa magnitude, que ultrapassava os índices — insuperáveis no imaginário coletivo — da mítica enchente de 1941, não era uma chance para se construir uma cidade mais ecológica, sem tantos engarrafamentos? Em outras palavras: em quais sentidos, mais precisamente, é desejável voltar à normalidade?
Pedalei pela avenida Osvaldo Aranha até o túnel de acesso ao viaduto da Conceição e me vi diante da enchente. Contemplei o arquipélago de edifícios combalidos que abrangia a rodoviária. Barcos singravam a rua Voluntários da Pátria e a avenida Farrapos. O prédio do Tumelero emergia do seu duplo invertido na superfície da inundação. Pelo “corredor humanitário”, uma pista elevada feita às pressas pela prefeitura, passavam equipes de resgate e veículos com mantimentos.
Recordações
Ali perto, a praça da Alfândega debaixo d’água trazia recordações antigas da Feira do Livro de Porto Alegre, uma versão jovem de mim descobrindo livros nos balaios. Estes eram lugares que percorri dúzias, centenas de vezes, que por lenta e inconsciente acreção se tornaram parte importante de quem sou. Nunca pensava neles desse jeito, e agora ali estavam, forçados a se tornar passado, deixando margem para alguma coisa nova que ainda era doloroso tentar imaginar.
Há anos superei o meu bairrismo, mas agora eu via Porto Alegre como uma parente a quem havia negligenciado atenção. Gaúchos que vivem longe me relatavam o recrudescimento da sua identidade local e sofriam à distância, tramando planos mirabolantes de retorno. “É a pior coisa que me aconteceu na vida, sem brincadeira”, me escreveu um amigo porto–alegrense radicado em São Paulo, exasperado por não poder viajar à cidade em plena calamidade.
Eu não estava sozinho no viaduto. Sob o sol que irrompera depois de semanas de chuva pesada e quase incessante, passei por homens solitários com roupas puídas e ar cansado, imigrantes haitianos, uma família alegre passeando com crianças, dois policiais militares sentados sobre as motos, olhando a enchente e fazendo selfies. Ao longe, as águas inchadas do Guaíba, fluindo indiferentes como um animal que desconhece os critérios humanos, me faziam suspeitar de algum rudimento de intenção.
Marco um encontro com a Nanni Rios em uma padaria da Fernando Machado. Ela também acaba de voltar para casa, depois de ficar dias sem água e luz e se hospedar na casa de um amigo. Nanni é proprietária da livraria Baleia, que poucos meses antes havia inaugurado nova sede na rua dos Andradas, pertinho do rio. A enchente milagrosamente não atingiu a livraria, ao contrário do que aconteceu ali perto com a Taverna, na Casa de Cultura Mario Quintana.
Conversamos sobre livros, sobre as eleições municipais deste ano, sobre o acúmulo de denúncias mostrando que a negligência e o negacionismo climático do prefeito e do governador agravaram a tragédia. E falamos sobre o desânimo e a confusão que assolam todos que conhecemos, e que não vem de agora. “Até quem tá bem, tá mal”, diz Nanni.
Antes de voltar para casa, vou até o viaduto da Borges. A ponte dos Açorianos está cercada por um espelho d’água. O elevado desemboca no alagamento em frente ao colégio Pão dos Pobres. Um cheiro ruim revela ser aquilo que parecia: peixes mortos no asfalto. Um homem que pilota um drone me entrega um cartão com qr code dando acesso ao site em que comercializa suas imagens e comenta que é bom que estejamos ali fazendo fotos, porque algo assim nunca mais se repetirá. Digo que não tenho tanta certeza. Ele parece consternado. Se um dia acontecer de novo, a gente se encontra aqui, diz. Sorrindo, respondo: “Tomara que não tenhamos a chance”.
Fluxo de imagens
Venho pensando há anos em como a face estética das tragédias ambientais desafia nossa capacidade para narrar a época que vivemos. Em um ensaio de 2019, analisei o fluxo de imagens digitais em torno de catástrofes como o tsunami de Fukushima e o rompimento da barragem de Brumadinho, e me perguntei como o regime acintoso de visibilidade total de fenômenos desse tipo afeta nossa imaginação em geral e a escrita de ficção em particular. Minha atenção estava mais voltada ao fluxo de imagens digitais, que gerava impasses ao realismo literário. Eu pensava nos efeitos que as catástrofes exerciam à distância.
Quase cinco anos depois, me vejo territorialmente inserido em uma dessas tragédias. Ao testemunho da destruição e do sofrimento se soma uma ferida metafísica: a emergência climática deixa de ser uma convicção baseada em números e abstrações, ou uma alegoria como a sarça ardente ou o caos enunciado pelos lábios de uma raposa, e se torna concreta como o chão e o céu.
Como escreveu McKenzie Wark em um artigo de 2017, intitulado “Sobre a obsolescência do romance burguês no Antropoceno”:
Você pode fazer os cálculos e demonstrar que a mudança climática está realmente acontecendo. Mas isso não muda o que as pessoas sentem a respeito dela, e o que elas sentem depende de quem são, de onde estão e a quais aspectos de seu passado particular podem relacioná-la.

Pátio de veículos próximo a PRF de Porto Alegre totalmente alagado no dia 25 de maio de 2024 (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Reprodução)
Quando a calamidade nos alcança, esses sentimentos particulares, sejam eles individuais ou coletivos, ganham uma nitidez súbita e aterrorizante, porém difícil de expressar.
“Não há palavras que possam descrever”, constava nas legendas de tantas postagens de primeira hora sobre a tragédia. Mas havia imagens. Uma ponte sendo engolida pela enxurrada. Bairros de Lajeado que parecem arrasados por um bombardeio depois das águas baixarem. Centenas de moradores do bairro Mathias Velho, em Canoas, refugiados em cima de um viaduto. Uma égua sendo retirada de guindaste do terceiro andar de um prédio em São Leopoldo.
E imagens de cães que seguiam nadando com as patas dianteiras em solo firme, de olhos vidrados, depois de horas ou dias à deriva nas inundações. Abrigos emergenciais montados por voluntários, repletos de famílias que tinham pouco e perderam tudo. A travessa dos Cataventos convertida em um canal de água barrenta. Estoques de livros desmanchados, pilhas esponjosas de móveis descartados nas calçadas. Espantosas fotos de satélites mostrando o antes e o depois na bacia hidrográfica do rio Jacuí.
O psicanalista Luciano Mattuella escreveu, para o jornal Sul21, sobre o silêncio que encontrou em seu consultório após a enchente. Como fazer o luto de uma cidade, de uma ponte, de um rio? “Quando se trata do traumático, algo sempre fica sem elaboração, restando uma espécie de calcificação da memória, como quando aprendemos a caminhar com um calo no pé para evitar a dor.” A repetição das imagens, diz, tem uma potência elaborativa que antecede as palavras. Estas, opina, vão demorar a chegar e são um privilégio para poucos.
Mas as palavras foram chegando. Às vezes, para narrar o que não se pode exibir. Há relances de horrores que passam ao largo das nossas telas e timelines. “Cobras surgem aos montes nas áreas esvaziadas. Ratos e baratas que o Instagram não mostra. Uma cadeia que se alimenta do caos”, escreveu a poeta porto-alegrense Juliana Blasina.
Horror gótico
Um áudio de um barqueiro em Canoas mencionava corpos humanos boiando na água, entre eles o de um bebê. A Agência Lupa afirmou que o conteúdo era falso, mas seu efeito perdurou em mim. Lembrei das páginas do romance Suttree, que traduzi recentemente, em que Cormac McCarthy descreve uma enchente no rio Tennessee. “O rio […] descia caudaloso das altitudes evisceradas e passava diante de seus olhos salivando murmúrios e borbulhas”, escreve McCarthy. Entre as coisas que a água arrasta estão “o cadáver rosado e intumescido de uma porca e engradados e potes e estruturas de madeira transformadas pela água em rígidos homólogos de vísceras”. E então: “Certo dia um bebê morto passou. Inchado, olhos pastosos e apodrecidos no crânio bulboso, fiapos de carne ondeando como papel higiênico”.
Impressionado por essas linhas, fiz a seguinte anotação durante minha visita ao centro inundado: “O bulbo de um repolho brilha ao sol com uma tonalidade fetal”. O horror gótico não funciona para todo mundo, mas é uma maneira de organizar um pouco o medo da morte, o asco da decomposição.
A escritora Irka Barrios, autora de livros como o ótimo Júpiter Marte Saturno, conhece o poder da literatura de horror e escreve bem sobre a aura sinistra que pode exalar do mundo que gostamos de chamar de inanimado, mas que talvez não o seja tanto assim. Irka mora em Canoas e teve sua casa e seu espaço de trabalho inundados. “De que matéria as pessoas são feitas?”, ela perguntou em um texto na sua newsletter, procurando entender o sofrimento causado pela perda de bens materiais. Observando homens que voltavam aos lares submersos para impedir que alguém roubasse seus bens já completamente destruídos, conclui:
Tem a ver com estarmos enraizados no local em que nos sentimos seguros. Talvez por isso a urgência tão grande em ver minha casa, saber que suas estruturas se mantiveram, que nenhum buraco a engoliu, e que a água, assim que secasse, me devolveria o que penso ser meu.
Gosto, nessa frase, da estranha agência subentendida no buraco que engole, na água que devolve, e da dúvida implantada na noção de que algo nos pertence. De tais sutilezas na linguagem surge uma compreensão que importa. Não se trata de antropomorfizar o não humano, e sim de ter como premissa um ponto de encontro no meio do caminho entre nós e o resto do mundo.
Outra escritora gaúcha que teve que fugir às pressas do lar inundado, Julia Dantas também abordou em sua newsletter as surpresas que um acontecimento como esse reserva para a imaginação.
A primeira surpresa é o quanto tudo fica fora de lugar. Existem muito mais coisas flutuantes dentro de uma casa do que eu supunha. […] Imagino nossas coisas navegando lá dentro ao longo dos dias, uma triste sopa de objetos contaminados por lama e esgoto.
Julia também olha para o cenário maior: “Eu nunca imaginei que veria tão de perto a destruição absoluta pela água, a escassez de necessidades básicas, um corredor humanitário”. E lembra que muita gente “já sabe até se preparar para enchente, seca ou deslizamento de tanto que acontece”.
Aqui, lembramos também que os efeitos da mudança climática afetam com mais violência os já vulneráveis e despossuídos. Gráficos elaborados pelo Observatório das Metrópoles com base no censo de 2010 mostram como as populações negra e de baixa renda em Porto Alegre foram muito mais atingidas. As ruas e casas dos bairros Humaitá e Sarandi permaneceram quase um mês inundadas e seguem obstruídas por verdadeiras montanhas de lixo, enquanto áreas mais abastadas foram drenadas e limpas bem antes. Comunidades guarani e kaingang, vivendo em áreas que aguardam demarcação há anos, permanecem em aldeias alagadas por medo de perder seu território.
Bairros que parecem arrasados por um bombardeio. Uma égua sendo retirada de guindaste do terceiro andar
A importância de conseguirmos narrar o que é vivido e criar saberes numa era de desastres é um dos vários assuntos abordados por Carola Saavedra em seu livro O mundo desdobrável: ensaios para depois do fim. Gosto muito dos capítulos em que Carola reflete sobre o poder da repetição na escrita.
“Com a pandemia, tive que repensar minha forma de escrever, os assuntos que me interessavam e até mesmo minhas (im)possibilidades”, ela nos conta, e então nos apresenta um de seus “poemas caminhados”, inspirados em um costume de alguns grupos aborígenes da Austrália. Caminhando de manhã com um gravador em mãos e improvisando com as palavras como num sonho, Carola explora a técnica da repetição para estruturar seus poemas.
Mais adiante, em um exercício rotulado de “A construção do oráculo”, a autora explica que o sucesso de um oráculo está justamente na pergunta.
A arte de perguntar é muito antiga e complexa, exige longo treinamento, perseverança, mas não desista, com o tempo você vai percebendo que as perguntas vão ficando cada vez melhores, cada vez mais exatas. Quando elas se tornarem perfeitas você não precisará mais das respostas.
Essas duas ideias, a repetição e o aperfeiçoamento insistente das perguntas, me parecem valiosas para pensar em narrativas que busquem dar conta dos desafios políticos, sensoriais, estéticos e morais da crise climática, ela mesma interligada a muitas outras crises, entre elas — para citar duas que me saltam aos olhos em tudo — a do reducionismo econômico e a da separação entre cultura e natureza.
A repetição opera como uma espiral, ensina Carola, acrescentando matizes e camadas ao que é reiterado. E perguntas fabulosas e extravagantes, às vezes impensáveis em outras esferas de discurso e pensamento, podem conter elas mesmas as respostas que faltam para solucionarmos impasses atuais. A ciência, a filosofia e a religião perguntam e respondem há milênios: que pessoas, criaturas e coisas merecem nossa consideração? Se mudamos a pergunta para “Como podemos dar a devida consideração a cada pessoa, criatura e coisa?”, a premissa muda radicalmente. E a partir daí podemos repetir e aperfeiçoar.
Crise anunciada
Junto à questão do que podemos expressar vem outra ainda mais lacerante: o que fazer? O trauma das enchentes de maio no Rio Grande do Sul será suficiente para acarretar práticas efetivas e abrangentes de mitigação das mudanças climáticas? Este é um desafio que, evidentemente, ultrapassa a imaginação.
Estiagens, tempestades, enchentes, ondas de calor recorde e desequilíbrios em ecossistemas vêm se intensificando há décadas, exatamente como avisavam os cientistas. A meta de aquecimento global de 1,5 ºC acima dos níveis pré-industriais já está perdida. A crise foi descrita e anunciada por gerações passadas, e uma possível reversão parcial de seus efeitos será um projeto para muitas gerações futuras.
Quando escrevi sobre a enchente em minha newsletter, um leitor respondeu intrigado diante do meu clamor por uma “revolta política e cognitiva” a partir dessa e de outras tragédias. Eu não era um pessimista? Respondi que, no gradiente que vai da resignação pessimista à esperança de algum tipo, toda posição ética defensável requer a insistência em espernear e atuar como se a esperança fosse concreta. Qualquer mínima diferença para melhor terá efeitos importantes, seja a curto ou longo prazo.
Negacionismo climático
Em Porto Alegre, parte da esquerda denuncia há muito tempo o negacionismo climático e as injustiças sociais agravadas pelas políticas liberais vigentes. As pautas incluem a criação de corredores verdes, mais investimento e planejamento na prevenção contra desastres, promoção da agricultura familiar e sustentável.
O governador Eduardo Leite não titubeou em afirmar que os riscos de uma tragédia climática eram conhecidos por sua gestão, mas foram ignorados porque o estado tinha outras prioridades, como o ajuste fiscal. As prefeituras de Sebastião Melo e Nelson Marchezan sucatearam a olhos vistos os órgãos públicos responsáveis pelo sistema de defesa contra enchentes.
Toda posição ética defensável requer a insistência em espernear e atuar como se a esperança fosse concreta
Informações e alertas existiam. Mesmo depois de uma sequência de eventos climáticos extremos no ano anterior, incluindo uma enchente já muito grave em setembro, a maioria das bombas hidráulicas que podiam minimizar inundações na capital estava desativada ou sem manutenção.
Uma das áreas mais atingidas pelos alagamentos, o chamado “quarto distrito”, era aposta da prefeitura para o desenvolvimento de uma cidade que almejava o posto de “capital da inovação”. A ironia é amarga e os prejuízos sofridos por pequenos e médios empresários são trágicos. Mas a enchente porto-alegrense deveria ser a morte definitiva da figura do “gestor” e suas “governanças”, da sua cruel noção de eficiência.
Dias atrás, após pressão de vereadores da esquerda e dos efeitos da chuva, a justiça suspendeu uma lei do governo Melo que alterava o Plano Diretor de Porto Alegre para permitir a construção de um condomínio na Fazenda do Arado, uma área preservada na zona sul que funciona como barreira natural contra enchentes, e que de fato cumpriu esse papel agora em maio. Sabemos o que fazer. Reforçar leis ambientais e fiscalizar sua efetivação, abandonar fontes de energia baseadas em carbono e investir em energia mais limpa, promover uma urbanização mais justa e ecológica.
Utopia? Em seu blog, o jornalista Diego Viana refletiu sobre a tragédia e afirmou:
Talvez tenha chegado a hora de falar em fim das distopias, como antes falamos em fim das utopias. De que adianta amplificar e dar corpo aos perigos de uma deriva do mundo real se as cenas do nosso storyboard estão ocorrendo logo ao nosso lado?
Ao mesmo tempo, leio a escritora Carol Bensimon comentando, em sua newsletter, um livro de Rebecca Solnit que trata do senso de comunidade que nasce em meio a desastres: “A resposta civil a uma catástrofe seria uma espécie de janela para a utopia, uma oportunidade de dar um restart na máquina social”. Carol acrescenta: “Confesso que fazia anos que eu não via a palavra utopia”.
Não basta falar somente em reconstruir. É fundamental perguntar: reconstruir como? Para quem? Por quê?
Quando penso no que é possível fazer, penso no romance de ficção científica de Kim Stanley Robinson, The Ministry for the Future [O ministério do futuro], que gira em torno da criação de um órgão internacional secreto que, após uma onda de calor que mata um milhão de pessoas na Índia, tem a missão de proteger gerações futuras de um apocalipse climático. Spoiler forte: a humanidade consegue, mais ou menos. Mas não antes de décadas de intriga internacional, projetos mirabolantes de geoengenharia, ecoterrorismo e intermináveis negociações com os bancos centrais dos países ricos. É um realismo especulativo enraizado em fatos e dados, mas ao final eu não saberia responder se é um livro otimista ou pessimista, utópico ou distópico.
Quando penso no que é possível fazer, penso que a tragédia das chuvas sul-rio-grandenses também suscitou novos debates sobre o local e o global. Julgar responsável em alguma medida o negacionismo do governo estadual ou municipal não significa mascarar a verdade mais profunda de que a crise climática resulta das operações vastas de um capitalismo global. O local não é anulado pelo planetário. O problema é fractal.
Política terrestre
Em Onde aterrar?, Bruno Latour propõe que o Local e o Global não existem mais. Ele defende um terceiro recorte, o Terrestre, que herda do Local a materialidade do solo e nossos vínculos com ele, e do Global os múltiplos modos de existência de um mundo sem fronteiras. Gosto dessa ideia, e acredito que a arte, não só a literatura, tem papel crucial em nossos esforços para formular ou reconhecer as manifestações de uma política terrestre, não importa a escala.
Quando penso no que é possível fazer, penso que não basta falar somente em reconstruir. É fundamental perguntar: reconstruir como? Para quem? Por quê? Quando falam em “cidades temporárias” para desabrigados, penso que já temos uma cidade, temos várias, e que elas possuem espaços desocupados para essas pessoas. Penso que elas precisam estar entre os abrigados nessa hora, que precisamos nos ver mutuamente. Na preciosa formulação de Donna Haraway, precisamos saber “ficar com o problema”.
Quando penso no que é possível fazer, penso na solidariedade de todos e todas que estenderam a mão, de perto ou de longe, dos gestos de cuidado com o próximo que salvam ou tornam mais suportável a vida de milhares durante essa tragédia ainda em curso. Penso que há muitas pessoas já fazendo coisas. Temos de ouvi-las, ajudá-las. Votar nelas.
E penso nas histórias que podemos contar, repetindo, perguntando cada vez melhor, para que não terminemos ofuscados por uma sensação de inevitabilidade enquanto rumamos para o abismo sem compreender suficientemente as forças, incluindo as exercidas por nós mesmos, que nos arrastam em direção a ele.
Matéria publicada na edição impressa #83 em julho de 2024.
Peraí. Esquecemos de perguntar o seu nome.
Crie a sua conta gratuita na Quatro Cinco Um ou faça log-in para continuar a ler este e outros textos.
Ou então assine, ganhe acesso integral ao site e ao Clube de Benefícios 451 e contribua com o jornalismo de livros independente e sem fins lucrativos.
Porque você leu Meio ambiente
O arquipélago de matas
História visual da exploração da Mata Atlântica registra ação humana e espécimes sobreviventes, alertando para dimensão ética da preservação
MAIO, 2025