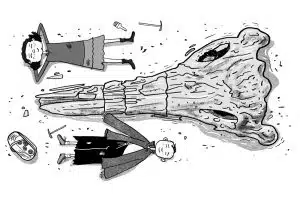Divulgação Científica,
As subjetividades dos cães
Três livros exploram a história da nossa coabitação com cachorros e primatas e o que as emoções dos animais revelam sobre nós
26jul2021 | Edição #48Em um artigo influente, publicado em 1974, com o título “Como é ser um morcego?”, o filósofo Thomas Nagel argumentou que a lacuna explicativa entre as descrições físicas dos processos mentais e a experiência subjetiva está longe de ser preenchida. Se um organismo tem consciência, diz Nagel, existe algo que é ser como aquele organismo. É difícil rejeitar essa noção sem colocar em xeque nossa própria experiência interior. Não adianta muito capturar imagens da atividade neural ou projetar nossa própria imaginação nos outros animais para decidir quais compartilham conosco o dom da vida interna, das emoções e dos sentimentos. Apesar disso, questões éticas importantes dependem justamente de juízos desse tipo.
Na filosofia, na ciência e na arte, avançam visões em que homens e animais — e por que não plantas, fungos e além — são atores interdependentes em ecossistemas ameaçados. O respaldo científico para pressupor subjetividades em outras criaturas se acumula, e a coabitação sustentável do planeta certamente dependerá do cultivo dessa perspectiva. Vale, portanto, o benefício da dúvida. O acesso à subjetividade das outras formas de vida pode estar vedado, mas estamos, nós e elas, enredados pela biologia e pela história. Enquanto permanece a lacuna, precisamos ter cuidado com nossos modos de prestar atenção.

Podemos, por exemplo, observar a visita do primatólogo Jan van Hooff à chimpanzé Mama, 59 anos, que repousa no ninho de palha de sua jaula noturna. (Você pode procurar no YouTube.) É um leito de morte: ela está muito debilitada. Os dois se conhecem há mais de quarenta anos. Mama demora para reconhecer Jan, mas logo exibe as gengivas num sorriso, solta grunhidos de alegria e tamborila com os dedos atrás da cabeça do humano, gesto que as mães usam para acalmar seus bebês.
A cena, de 2016, é o ponto de partida de O último abraço da matriarca, do também primatólogo holandês Frans de Waal. Em livros como A era da empatia, De Waal confrontou consensos da área ao propor que os grandes primatas não humanos compartilham emoções conosco, agem com empatia e buscam reconciliações. Aqui, ele defende que levemos também em conta as emoções e a senciência de criaturas como elefantes e ratos. O que estamos vendo na cena? Será que, como defendem pesquisadores criticados por De Waal, Mama é uma “máquina de estímulo-resposta impulsionada pelo instinto e pelo aprendizado simples”? Isso vale também para o visitante humano? Ou será que vemos uma interação específica entre duas criaturas diferentes com uma história em comum, feita de um trânsito de emoções e sentimentos genuínos?
O senso de equidade, tido como algo cultural e exclusivo dos humanos, manifesta-se em muitas espécies de animais sociais
Ainda na introdução, o autor enfatiza que sugerir a existência de sentimentos correlatos entre humanos e animais é um “salto de fé” e que “quem afirma saber o que os animais sentem não tem a ciência ao seu lado”. Não podemos acessar, na formulação de Nagel, o “como é ser uma chimpanzé” de Mama. Mas De Waal critica o legado mecanicista do behaviorismo, que observa somente comportamentos objetivos e desdenha da introspecção e das emoções, e defende estudos científicos mais sintonizados com as propriedades mentais e sociais dos animais, unindo as descobertas de laboratório às de campo.
O último abraço da matriarca é uma leitura deliciosa, e suponho que isso seja verdadeiro mesmo para leitores que discordem de algumas posições do autor. O motivo é que De Waal é um exímio narrador. Sua voz é cativante e os capítulos fluem com um encadeamento harmonioso de anedotas, experimentos, dados, reflexões e observações pessoais. No primeiro capítulo, por exemplo, somos apresentados aos complexos jogos de sexo e poder na colônia de chimpanzés do zoológico de Burgers, em que Mama foi uma fêmea alfa. De Waal destaca a presença dos mesmos jogos na comunidade de jovens cientistas em que iniciou sua carreira, evoca a aparição de uma fêmea alfa humana em um show de Bruce Springsteen e compara casos de diversos animais reagindo a cadáveres de seus semelhantes e manifestando luto, especulando sobre seu senso de finitude.
Antroponegação
Mais Lidas
Um termo importante surge no segundo capítulo: antropomorfismo. A tendência de projetarmos emoções e experiências em outros animais costuma ser rejeitada por cientistas. Reconhecendo a inadequação dos excessos do antropomorfismo, De Waal alerta para o risco de incorrermos no seu oposto, a “antroponegação”. Ele sustenta que, nas ciências naturais de hoje, o ônus da prova deve estar com quem ainda insiste na excepcionalidade humana. Ao longo do livro, ele tenta — e de modo geral consegue — manter o equilíbrio nessa corda bamba.
Nas passagens em que discute as emoções, relatos de diversos experimentos com animais e humanos revelam por que podemos admitir algum território comum nesse caso, ao contrário do que acontece com a experiência subjetiva. A leitura inconsciente de expressões faciais, por exemplo, parece ser crucial para a empatia em símios e humanos. Ratos se expõem a carinhos na barriga e soltam risadas inaudíveis para nós. Há evidências científicas fortes para emoções análogas em humanos, mamíferos, aves e muitas criaturas às quais tendemos a conceder somente uma cognição rudimentar, baseada em instintos egoístas e determinismo genético.
O livro oferece boas definições de instinto, emoção e sentimento. Os instintos são “rígidos e semelhantes a reflexos”; já as emoções “concentram a mente e preparam o corpo, enquanto deixam espaço para experimentar e julgar”. Elas são “flexíveis” e “estão na interface de três coisas: mente, corpo e ambiente”. Os sentimentos nascem quando tomamos consciência das emoções. Para o autor, experimentos nos permitem induzir que macacos possuem sentimentos, embora eles permaneçam inacessíveis a nós. Suas observações sobre empatia também merecem destaque ao enfatizar a importância do corpo. “A empatia salta de corpo para corpo”, permitindo que um animal torne suas as reações, expressões corporais e posturas de um semelhante.
No capítulo sobre inteligência emocional, De Waal recorre ao neurocientista português António Damasio, referência de pesquisas sobre consciência corporificada, para argumentar que as emoções são parte integrante, e não antagonistas, do intelecto e da razão. De quebra, critica a metáfora do computador para o cérebro, afirmando que a mente representa o corpo inteiro e não pode ser dele dissociada. Repete-se por todo o livro a ideia de que emoções precisam ser compreendidas na sua dimensão social. Experimentos em que macacos-pregos testados lado a lado recebem recompensas diferentes pelas mesmas tarefas mostram como o senso de equidade, exemplo de comportamento tido como cultural e exclusivo dos humanos, está enraizado em emoções como a inveja e se manifesta em muitas espécies de animais sociais.
O livro encerra com um forte capítulo sobre a senciência animal. Para o autor, metáforas mecanicistas e a importância excessiva dada à linguagem tornaram a ciência cega para manifestações de consciência, emoção e dor que compartilhamos com animais. Evidências de memória e experiências de dor em crustáceos, por exemplo, bastariam para presumir as mesmas capacidades em toda criatura com sistema nervoso central.
A questão de como lidar com as complexas relações entre múltiplas espécies não é assunto central em O último abraço da matriarca, embora o autor traga relatos sobre bichos de estimação e de laboratório e teça comentários sobre a ética da alimentação e do bem-estar animal. Mas uma riquíssima abordagem do tema pode ser encontrada no Manifesto das espécies companheiras: cachorros, pessoas e alteridade significativa, de Donna Haraway, ensaio de 2003 que chega pela primeira vez às nossas livrarias em edição caprichada da Bazar do Tempo.
Pensadora muito original, autora de uma obra que transita entre a biologia, a filosofia e os estudos feministas da ciência e da tecnologia, Haraway é mais conhecida por outro ensaio, também intitulado como manifesto. O Manifesto ciborgue (1985) explora, sob as óticas feminista e marxista, as novas formas de poder e subjetividade em tempos de cibernética e “tecnobiopoder”. O manifesto das espécies companheiras se apresenta como um desdobramento do anterior. Em uma esclarecedora entrevista concedida em 2006, e incluída nesta edição, a autora fala do momento em que teve que “aceitar que a biologia era uma prática cultural-material” que como tal deveria ser localizada “em sua interseção com muitas outras comunidades de prática, feitas de emaranhados de humanos e outros, vivos ou não”.
Curiosidade radical
Em tempos de “máquinas vivazes” e humanos enredados com seus artefatos, a noção das espécies companheiras surge como alternativa a um pós-humanismo que se enamorou das fantasias (predominantemente masculinas) de escapar da mortalidade e transcender a bagunça planetária na garupa dos computadores. Haraway prega uma forma de curiosidade radical, na qual não basta estar atento ao outro. Também é preciso saber “habitar” histórias — as que herdamos do passado e praticamos no presente — e forjar novas possibilidades para criar mundos cada vez mais “vivíveis”.
Mas o que isso significa exatamente? O leitor que procurar essa exatidão poderá se frustrar. Haraway cria conceitos e molda palavras unindo o rigor do conhecimento com a liberdade de uma ficcionista. A noção de “história sendo contada” não é apenas uma prática e uma filosofia, mas também um estilo. “A ficção”, diz, “está em processo e ainda em jogo, inacabada, ainda propensa a entrar em conflito com os fatos, mas também sujeita a nos mostrar algo que ainda não sabemos ser verdade, mas que saberemos.” Essa é, portanto, uma escrita em si mesma curiosa e exploratória, que não se compromete com prescrições, e que corre o risco de ser ocasionalmente obscura e errática. Mas as premissas e conceitos ficam mais instigantes à medida que se expandem e repetem no texto, e não há parágrafo que não guarde recompensa. A edição conta com posfácio e revisão técnica do filósofo Fernando Silva e Silva, que contextualiza a obra da autora e esclarece termos-chave.
Um dos conceitos que podem servir de eixo para a leitura é natureza-cultura, substantivo composto que Haraway emprega como se a separação entre o natural e o cultural já tivesse sido implodida. “Em camadas de história, de biologia e de naturezas-culturas, o nome do jogo é complexidade.” Não há criatura sem história. Como também está dito no título, trata-se de um livro sobre pessoas e cachorros. A necessidade de habitar nossas relações de alteridade significativa é desenvolvida a partir de parcerias entre homem e cão em geral. Mas o estudo de caso que domina as páginas é a relação específica da autora com sua cadela
Cayenne Pepper, a pastora-australiana que “coloniza todas as suas células”.
Haraway e Cayenne formam um time nas competições de agility (modalidade esportiva em que um humano conduz seu cão em circuitos de obstáculos). O entrosamento entre humana e cadela nessa atividade é descrito como uma “dança conjunta que cria respeito e resposta na carne, na corrida, no percurso”. A autora quer que sejamos capazes de “viver dessa maneira em qualquer nível, com qualquer parceiro”. Mas a relação com um cão também é feita de história, economia, ecologia. Atravessa as guerras, o colonialismo e as competições de raça. Haraway estuda o cão de montanha dos Pireneus e o pastor-australiano, reconstituindo as circunstâncias materiais e culturais em que evoluíram no trajeto da Europa até as fazendas da Costa Oeste norte-americana. Espécies companheiras herdam histórias, muitas vezes violentas.
O trabalho e o adestramento são práticas em que humanos e cães têm a oportunidade de remodelar uns aos outros. Haraway rejeita visões romantizadas dos cães, “filhos peludos” merecedores de amor incondicional. Comentando os métodos de duas adestradoras famosas, Susan Garrett e Vicki Hearne, defende que respeito e confiança mútuos são mais importantes do que o mero alívio de sofrimento e projeções antropomórficas. “Aprender a obedecer a seu cachorro é, honestamente, a tarefa mais difícil que o dono tem.”
A insistência em ver sempre todos os lados possíveis da situação evita que o pensamento de Haraway coagule em torno de um punhado de premissas e conclusões. A defesa dos abrigos para cães de rua em Porto Rico não a impede de criticar práticas de esterilização obrigatória e controle reprodutivo. A noção de que um cachorro só é adequado quando estéril “nos conduz com toda força ao mundo do biopoder e seu aparato técnico-cultural, presentes na metrópole e nas colônias”. Mas desdobrar a complexidade irredutível da coevolução e da convivência entre espécies parece ser justamente a proposta da autora. O uso do termo “manifesto” é levemente irônico, pois se trata mais de estabelecer uma sensibilidade que precede a ação responsável. Um olhar propício a forjar mundos inclusivos e não deterministas, livre de categorias que ainda tratam natureza e cultura como opostos.
Se Thomas Nagel e Frans de Waal estão certos ao afirmar que não podemos ter acesso à subjetividade dos animais, Haraway nos diz que ainda assim é preciso “perguntar a todo o tempo quem e o que emerge dentro e a partir do relacionamento”. Ela compara essa postura ao “conhecimento negativo” dos teólogos que negaram que um Deus infinito pudesse ser conhecido a partir da projeção de nossa subjetividade finita. Esse conhecimento negativo, sugere Haraway, se chama amor.
Franco sentimentalismo
O amor pelos cães e por sua história também está por trás de A história do mundo em cinquenta cachorros, de Mackenzi Lee. Norte-americana e autora de livros infantojuvenis que mesclam fantasia e história, Lee começou a reunir narrativas de cães históricos depois de adotar “uma bolinha peluda de seis quilos da raça são-bernardo”. Em contraste com as investigações científicas e filosóficas de Haraway e De Waal, os relatos de Lee são descontraídos e acessíveis. A romantização dos cachorros, as projeções antropomórficas e um franco sentimentalismo transitam livremente nas páginas. Mas a motivação autodeclarada de Lee — “a máxima de que devemos escrever sobre o que conhecemos” — pode ser entendida, também, como formulação do senso comum para o emaranhado de heranças e histórias que Haraway nos estimula a reconhecer.
Às histórias, então. A primeira delas é sobre as origens da domesticação canina. A autora enumera diversas teorias e pesquisas genômicas para concluir que nada sabemos sobre o assunto. É para ser engraçado, mas ela tem razão, e um exercício interessante é comparar esse primeiro capítulo aos trechos que tratam do mesmo assunto no manifesto de Haraway. A história da nossa coabitação com os cães parece ser irredutível a teorias, e a leveza do olhar de Lee também lhe traz um encanto oportuno. A partir daí, os capítulos avançam em ordem cronológica, mesclando relatos míticos, duvidosos e verídicos. No rodapé de alguns textos há “Cãoplementos” com curiosidades e informações adicionais. Algumas histórias são famosas, como a de Argos da Odisseia ou a de Laika, a cadela enviada ao espaço pelos russos em 1957 — episódio ao qual Lee agrega riqueza de informações citando, por exemplo, o cientista que levou Laika para brincar com os filhos em casa na véspera da missão, para que tivesse bons momentos antes da viagem fatal. Ela reconhece que “o legado de experimentos científicos em animais é complexo e confuso”, mas termina dizendo: “Mesmo assim, cachorros viajaram ao espaço. Laikrou”.
A relação com um cão é feita de história, economia, ecologia: atravessa as guerras, o colonialismo e as competições de raça
A boa fruição do livro dependerá da receptividade do leitor a essa mistura de histórias bem pesquisadas e descontraídas com uma propensão a trocadilhos e piadinhas fofas. O discurso da fofura, que parece muitas vezes pertencer a postagens sobre bichos de estimação em redes sociais, não seria tanto um problema se não se chocasse com a violência e outras implicações incômodas do material narrado.
A autora salienta na introdução que o passado de humanos e cães nem sempre é benevolente. Histórias da participação de cães em guerras e atrocidades — os cães de Hitler, os mastins usados pelos espanhóis para aterrorizar povos originais durante a colonização, a incrível história do vira-lata Satan na Batalha de Verdun durante a Primeira Guerra etc. — estão entre as melhores. Mas Lee insiste em nos dizer que os cães são puros e os homens, malvados. Não há dúvida de que o tratamento que damos aos animais foi e ainda é extremamente cruel em muitos casos. As categorias da pureza e da maldade, no entanto, não permitem que vejamos nada novo em histórias cheias de detalhes pitorescos e potencial para a reflexão.
Como anedotário, o livro é bastante rico. Do xógum Tsunayoshi decretando que os cães deveriam ser reverenciados no Japão feudal até “o primeiro cachorro beatlemaníaco” (a pastora inglesa de Paul McCartney, Martha), A história do mundo em cinquenta cachorros cativa pela variedade enorme das nossas alianças com os cães ao longo da história. O painel que emerge do livro diverte e informa e nos leva, em seu conjunto, a nos espantarmos com o prodigioso enredamento de natureza-cultura que habitamos com nossos companheiros caninos.
Matéria publicada na edição impressa #48 em junho de 2021.
Porque você leu Divulgação Científica
Plantas de poder
Sidarta Ribeiro investiga as ligações ancestrais entre humanidade e cannabis, enquanto aponta o racismo como marca das políticas proibicionistas
NOVEMBRO, 2023