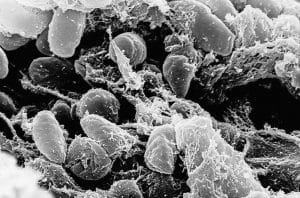Divulgação Científica, Medicina,
A descoberta do autismo
Jornalistas revelam como o transtorno custou a ser diagnosticado e a luta dos pais cansados de verem seus filhos marginalizados
09nov2018 | Edição #4 ago.2017O capítulo “Autismo”, do livro Longe da árvore, de Andrew Solomon, já tinha cumprido com brilho a missão de compor um panorama sobre o assunto. Mas tão cedo não deverá aparecer nada tão abrangente quanto Outra sintonia, de John Donvan e Caren Zucker. O subtítulo com artigo definido (A história do autismo) se justifica.
Para um pai de pessoa com autismo, é difícil avaliar o quanto uma obra minuciosa como essa pode interessar a quem não vive o tema no dia a dia. A favor do interesse há o fato de que a dupla de autores segue a tradição do melhor jornalismo norte-americano: combina rigor e leveza, carradas de informações com narrativa literária, painéis amplos com casos específicos.
E há o fascínio que algo misterioso como o autismo exerce. É um transtorno de fundo genético, mas ainda não se podem isolar os genes, tantos são eles e as associações entre eles. Há características comuns entre as pessoas que têm o diagnóstico (dificuldades na comunicação, na socialização e comportamentos repetitivos), mas também há enormes diferenças. O arco vai daquelas que comem fezes aos gênios da computação.
Donvan e Zucker têm casos nas suas famílias, mas não deixam que isso transpareça. Eles fazem reportagens sobre autismo desde 2000 e dizem já ter realizado mais de 200 entrevistas. A matéria-prima do livro é o muito que conhecem, não a experiência pessoal. Logo no prefácio, assumem quem são os protagonistas dessa história que conta oito décadas: “Mães e pais tomando a defesa dos filhos, às vezes movidos pelo desespero, às vezes pela raiva e sempre pelo amor”.
Registradas em detalhes, as batalhas fratricidas entre associações de pais, cada uma defendendo as próprias hipóteses e enxovalhando as das outras, trouxeram prejuízos à causa. Mas como condenar quem está correndo contra o relógio para salvar os filhos de algo que nem sabe bem o que é? O livro não condena.
Mas há vilões, sim. E também há personagens controversos, como é a quase totalidade da nossa espécie. Um deles é Leo Kanner. Alemão que emigrou em 1924, ele já era na década seguinte o mais respeitado psiquiatra infantil dos Estados Unidos. Em 1938, interessou-se pelo relato de um casal a respeito do filho, então com cinco anos. Donald Triplett ficaria conhecido na história do autismo como Caso 1.
Mais Lidas
Ele, Donald, aparece em vários momentos do livro, sobretudo no início e no final, servindo a uma bela narrativa circular, que indica como um menino sem saída chegou feliz aos 80 anos.
Em 1943, após acompanhar dez outras crianças além de Donald, Kanner publicou um artigo em que falava de “distúrbio afetivo do contato autista”. Era o nascimento de um diagnóstico.
O psiquiatra contribuiu para a crença — e não há outra palavra para definir isso — de que as mães transformavam seus filhos em autistas por não saber amá-los. Em 1948, escreveu que essas crianças “ficavam simplesmente guardadas em uma geladeira que não descongelava”. Daí surgiu a nefastamente famosa expressão “mãe geladeira”. Kanner fez o mea-culpa na década de 1960, reconhecendo a base genética do transtorno. E, como Donvan e Zucker registram com um toque sarcástico, consagrou a mudança de posição de forma solene, numa palestra de 1969: “De modo que eu os absolvo como pais”.
Bruno Bettelheim nunca recuou. Morreu em 1990 sem assumir o crime cometido contra gerações de mães. Chegou a traçar paralelos entre elas e os carcereiros de campos de concentração — e ele passara 11 meses em um. Comerciante de madeiras austríaco com doutorado em história da arte, transformou-se no mais famoso psicólogo infantil dos EUA em seu tempo. Sua obsessão por culpar as mães, tonitruada pela imprensa, teve apenas um efeito positivo: a mobilização das famílias, a partir da década de 1960, para destruir esse mito e buscar o que de fato era melhor para suas crianças.
Como se percebe, Bettelheim é um vilão em Outra sintonia. Mas os “heróis” que o enfrentaram não deixaram de ser questionados tempos depois. O psicólogo Bernard Rimland foi o primeiro a demonstrar, em 1964, que a tese da “mãe geladeira” não tinha qualquer respaldo científico ou estatístico. Ele foi aos números e aos estudos, coisa que os pediatras não faziam, preferindo culpar os pais e dar os filhos destes como imprestáveis.
O livro é impecável porque desmonta as falsas verdades que os pais de pessoas com autismo, até por desespero, repetem como se fossem críveis
Rimland, porém, endossou além do razoável as práticas do psicólogo Ole Ivar Lovaas, nascido na Noruega e radicado nos EUA. Lovaas dava choques em crianças deficientes para corrigir comportamentos tidos como inadequados. Chegou a usar nelas um agulhão de gado concebido para animais de novecentos quilos. Uma reportagem elogiosa da revista Life, de 1965, mostrava um assistente esbofeteando um menino de três anos, que também costumava ser estapeado por Lovaas.
Donvan e Zucker são tão corretos, do ponto de vista jornalístico, que apontam como algumas crianças realmente melhoraram seus comportamentos. Afinal, quem toma um choque ou um tabefe logo descobre o que fazer para não tomar outro. Mas a rejeição de pais e profissionais aos “estudos de punição” foi crescente.
Ainda assim, Lovaas se manteve forte nas décadas seguintes graças a um método que ele não criou, mas ajudou a disseminar: ABA (applied behavior analysis, análise comportamental aplicada). Seguindo a linha comportamentalista, é um programa intenso (20 a 60 horas semanais) destinado a ensinar, com prêmios e privações, o que é certo ou errado fazer. Foi tão exaltado na década de 1990 que pais acorreram em massa à Justiça para exigir que o poder público financiasse as terapias. Nos últimos anos vem sofrendo contestações, mas continua largamente adotado.
O livro ainda mostra a fragilidade de um estudo de Lovaas, feito com 19 crianças, das quais nove (47%) teriam atingido “funcionamento normal”. Entre outras razões, Outra sintonia é impecável porque desmonta as falsas verdades que os pais de pessoas com autismo, até por desespero, repetem como se fossem críveis. Mas os autores fazem isso não sem antes mostrar que os responsáveis pelas falsas verdades não são meros picaretas. Em muitos casos, tentaram mesmo dar boas contribuições.
Uma exceção é o gastroenterologista britânico Andrew Wakefield. Em 1998, ele publicou um artigo na revista científica Lancet apontando uma causalidade entre vacina tríplice e autismo. Os argumentos não se sustentavam, mas a imprensa e pais assustados — sempre esperançosos de que o transtorno tenha apenas uma origem — semearam o pânico.
Transcorreram 12 anos até que Wakefield fosse completamente desmascarado e perdesse a licença para exercer a profissão. O repórter Brian Deer descobriu que o médico registrara a patente de uma vacina alternativa e, ainda, que se associara a um advogado interessado em processar os fabricantes da tríplice. Até não haver dúvidas sobre a farsa, milhões de dólares foram gastos em pesquisas, processos e pressões sobre políticos.
O livro disseca essa trama em quase 40 páginas. E leva 25 para perfilar o pediatra austríaco Hans Asperger. Em função dos estudos que realizou nos anos 1930 e 1940, ele passaria, na década de 1980, a dar nome a uma síndrome. Quem a batizou foi a psiquiatra inglesa Lorna Wing, exatamente a criadora da ideia hoje prevalente do “espectro do autismo”, um amplo campo em que os diagnósticos se movem sem limites arbitrários.
Por identificar pessoas muito capazes em determinadas áreas, sem tantos prejuízos provocados por suas características autistas, a síndrome de Asperger agradou muitos pais. Chegou a entrar na moda, como se fosse chique ser uma espécie de gênio estranho. Na verdade, ela está no espectro, ainda que na ponta de cima.
Os jornalistas se esmeram em narrar de que forma se chegou ao passado nazista de Asperger. Médico na Áustria anexada por Hitler, seria difícil ter tantos meios para pesquisas se não fosse, no mínimo, simpatizante. O historiador Herwig Czech provou que ele foi bem mais do que isso.
Deixando claro que não olham só para o quintal do vizinho, os autores recordam as manifestações de eugenia nos Estados Unidos das décadas de 1920 e 1930, quando havia clamores pelo assassinato dos “defeituosos”, dos “erros da natureza”. Por décadas, a regra era internar essas pessoas. O livro apresenta casos como o de Archie Casto, abandonado pelos pais em 1919, aos cinco anos, e que passou quase todos os seus 83 em instituições. Estas, chamadas eufemisticamente de escolas ou hospitais, eram “depósitos humanos” — lugares sem higiene, sem lazer e repletos de maus-tratos.
Se falar em 1919 causa estranheza, já que “autismo” como termo psiquiátrico surgiu na década de 1940, vale citar uma ótima afirmação de Leo Kanner: “Eu não descobri o autismo. Ele já existia”. Há exemplos no século 19 e até na Rússia de 1469. As características autistas sempre estiveram espalhadas pela população. Apenas não sabíamos do que se tratava ou não nos interessávamos em saber.
O livro acompanha o processo que levou o autismo a virar, no mínimo, uma palavra conhecida. Foi uma caminhada iniciada pelos pais, cansados de sentir vergonha e de verem marginalizados aqueles que mais amam. “Deixem seus filhos ser fotografados”, pediu um ativista em 1972. “O público só pode se importar com os nossos filhos se souber que eles existem.”
Os autores marcam esse processo com balizas, como o sucesso do filme Rain man e a fama da norte-americana Temple Grandin, que tinha prejuízos severos na infância e se tornou profissionalmente brilhante e socialmente capaz. Também contam a batalha pela inclusão escolar de pessoas com deficiência, vitoriosa nos EUA da década de 1970, mas ainda em curso no Brasil, apesar da lei de 2013 que a impõe.
E mostram que a história evoluiu a tal ponto que, a partir dos anos 1990, as próprias pessoas com autismo se tornaram ativistas. O movimento da neurodiversidade, defensor de que o autismo é um jeito de ser, e não um mal a ser combatido, é obviamente liderado por gente muito funcional, não pelos casos graves, que são a maioria. Embora sejam polêmicos, até agressivos, eles representam um avanço.
O transtorno do espectro autista — este é o nome oficial hoje — não tem nada de simples, mas não deve ser motivo de vergonha nem de culpa. Ao esmiuçar os acontecimentos dessa jornada, Donvan e Zucker prestam um serviço histórico não só a quem está envolvido diretamente com o tema, mas a todos que queiram encarar com tolerância as diferenças humanas.
Há muito mais inteligência no silêncio do autismo do que costumamos supor, e há formas de se romper barreiras do transtorno que não são convencionais
Sem as mudanças ocorridas nas três últimas décadas, da ampliação de possibilidades terapêuticas às maiores chances de as pessoas com autismo terem suas peculiaridades reconhecidas, dificilmente existiria um livro como Vida animada: uma história sobre amizade, heróis e autismo. A obra deu origem a um documentário que concorreu ao Oscar de 2017.
O jornalista norte-americano Ron Suskind conta como os desenhos animados, sobretudo os da Disney, foram transformados em ferramenta para que um de seus filhos, Owen, conseguisse se comunicar e socializar.
Trata-se de uma história rara, daí a necessidade de contá-la. É bastante improvável que se reproduza em outras famílias. Mas serve como alerta: há muito mais inteligência no silêncio do autismo do que costumamos supor, e há formas de se romper as barreiras do transtorno que não são convencionais, distante das receitas conhecidas e amparadas na sensibilidade dos pais. Como Suskind é um bom escritor, a leitura é fácil e, em alguns momentos, comovente.
O menino feito de blocos também é narrado por um pai que encontra um meio não convencional de se relacionar com o filho. É um game, o Minecraft, que abre brechas para que o menino Sam se torne sociável. Com isso, o pai ganha forças para mudar o rumo da própria vida.
A diferença para Suskind é que Keith Stuart, embora também jornalista, preferiu adaptar sua história pessoal para um romance. A opção pela ficção lhe dá mais liberdades narrativas. Mas disfarçar o lado confessional não deixa de ser um pouco frustrante para o leitor que quer saber mais de experiências como a dele. Ainda assim, é outro livro bem escrito e que deposita um olhar esperançoso sobre o autismo.
Matéria publicada na edição impressa #4 ago.2017 em junho de 2018.
Porque você leu Divulgação Científica | Medicina
A morte como ela é
Médico-legista especializado em ferimentos por balas derruba mitos criados por Hollywood e sustenta que Van Gogh não se suicidou
NOVEMBRO, 2018