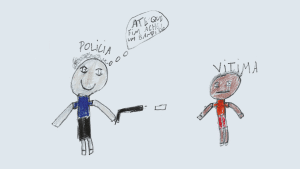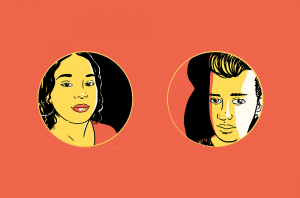Literatura,
O que é que a Nina tem?
Mais do que na cozinha, a explicação do que tornava Nina Horta tão respeitada e querida talvez esteja nos seus textos
01set2020 | Edição #37 set.2020Quando Nina Horta morreu, em 6 de outubro de 2019, o mundo da gastronomia ficou comovido. Ela mantivera um serviço de bufê por vinte e tantos anos e fazia mais de trinta que escrevia sobre comidas: assinou colunas em jornais e revistas e publicou três livros de crônicas.
Que Nina era uma pessoa adorável e competente, não há dúvida, mas o que Nina tinha que a tornava respeitada e querida por todo mundo? O que a fazia ocupar o papel raro de unanimidade em um mundo recheado de vaidade, inveja, competição, egos exacerbados à flor da pele e caldeirões de fofocas?
Mais do que nas panelas, a explicação talvez esteja nos textos, nas suas crônicas peculiares, incomuns para os leitores que esperam, de uma cozinheira, textos objetivos e diretos com dicas de culinária e receitas ágeis que possam ser reproduzidas no jantar do mesmo dia. Acontece que, para Nina, comer não se resumia às refeições: era algo que implicava relações das mais diversas ordens, gestos e circunstâncias, atravessava passado e presente, tinha muito mais profundidade e substância do que o que se coloca num prato.
Seu primeiro livro, Não é sopa, saiu originalmente em 1995 e acaba de ser republicado, em versão que contém anotações à mão da cozinheira e cronista: ela acrescenta, sobretudo, observações curiosas, atualizações de abordagens e informações. Logo no início da nova edição, há o orgulho justificado que, décadas depois, a releitura do próprio livro trouxe à Nina e uma advertência ao leitor: “Credo, que livro bom! Bom mesmo. Leia puladinho para não se cansar. Não saberia fazê-lo outra vez”.
Não é sopa reúne parte da colaboração para a Folha de S.Paulo e traz receitas entremeadas às crônicas. Na apresentação original, ressalta: o jornal a deixava “falar sobre o que quisesse: (…) o último livro, um filme, a empregada nova, o torresmo”. Em seguida, provoca: “Num programa de entrevistas aparecem médicos que não simulam uma operação de fígado, economistas que não fazem contas, cantores que não dão palhinha […]. Mas cozinheiro, não. Na TV, rádio, revistas, tem que estar atento, frigideira na mão, flambando bananas. Um horror”. A ironia prossegue por mais algumas linhas, em que ela constata que do cozinheiro só se espera superficialidade e nenhuma opinião sobre questões que se afastem dois ou três metros da pia e do fogão.
O recado dado em 1995 é reforçado pela anotação que acompanha o sumário da reedição: “Cuidado, não é um livro de receitas. É de pessoas, lugares, manias, modas, costumes”. As crônicas falam da vida em geral, desmistificam o isolamento térmico da cozinha e o (falso) glamour de um universo que começava, nos anos 1990, a subir os degraus da insuportável gourmetização — a mesma que nos habituou, uma década depois, a ouvir falar de harmonizações, a tratar chefs de cozinha pelo prenome e a encarar, no lugar do filé com fritas e da macarronada, temíveis espumas e afetadas “esferificações”.
Mero apêndice
Mais Lidas
Vinte anos depois de Não é sopa, Nina lançou outra coletânea: O frango ensopado da minha mãe (Companhia das Letras). Entre as duas publicações, ela assinou Vamos comer (MEC, 2002), que acompanha a viagem de merendeiras pelo país e inclui receitas, correspondência e crônicas. Em Não é sopa e O frango ensopado de minha mãe encontramos a incrível variedade de temas e interesses que a moviam. Estão lá os filmes e o torresmo, e também estão viagens, relações pessoais, jardins e cidades, gentes e festas, cachorros e galinhas, um pouco de história da gastronomia, uma dose de ficção, comentários literários e muitas, muitas memórias. As receitas incluídas nos volumes são mero apêndice, quase uma concessão: só aparecem porque ajudam a desenvolver uma ideia mais ampla ou a ilustrar um relato exemplar.
Embora à primeira vista as crônicas possam parecer semelhantes entre si, elas variam bastante no estilo. Por vezes assumem o jeito de uma carta ou conversa com os leitores — prosaísmo puro, intimidade, confidência, lirismo combinado com onomatopeias e citações disfarçadas. Em outras prevalecem um tom quase didático e a disposição de instruir; por exemplo, quando ela aborda pequenos rituais cotidianos à mesa ou no serviço, indicando caminhos da etiqueta — não as regras persistentes apenas em função de costumes que já se tornaram arcaicos, mas aquilo que a etiqueta é na origem, a pequena ética, uma regulação da vida social e das formas de respeito e reciprocidade que estruturam as relações. Ou seja, Nina não quer ensinar a usar os inócuos talheres de peixe, mas trata longamente das relações entre patrões e empregados, território que em um país de tradição escravista é com frequência marcado por hierarquia mais social que funcional.
Justamente por isso, o gênero escolhido é a crônica, que já na etimologia se refere à percepção aguda do tempo. Crônica: gênero peregrino que implica um olhar subjetivo e pessoal, porém jamais desvinculado do contexto cognitivo geral — aquilo que podemos ou conseguimos apre(e)nder dos episódios que vivemos — e nunca ensimesmado.
O cotidiano pode ser pessoal, mas seu sentido é coletivo. Se a viagem com o marido e os filhos for capaz de expressar uma experiência que não se limita àquelas três ou quatro pessoas, vira coluna no jornal. Uma evocação da infância, com sabores e aromas próprios, ultrapassa o espaço do indivíduo e torna-se familiar a uma ou mais gerações. Nina faz a travessia do privado ao público com a sutileza e a argúcia de quem consegue captar e expressar a perspectiva alheia — e o leitor nota, de forma consciente ou não, que foi incluído no texto, que não é passivo ou estranho ao episódio narrado.
As estratégias, recorrentes em suas crônicas, de fragmentar a narrativa — cada parágrafo ganhando relativa autonomia — e de dar ritmo e fluência ao texto por meio da enumeração de quatro ou cinco elementos em polissíndeto contribuem para abrir essas brechas para o leitor: ele respira um pouco naquele espaço e lá inclui sua própria lembrança, um termo ou uma metáfora a mais. Sente-se também autor e, mais importante, participante da vida que se relata. A coloração intensa do passado, contida na metáfora de uma costelinha de porco ou de um papel de seda amarfanhado, tinge um pouco a nostalgia do presente e a leitura se desloca da comida para alcançar o tempo perdido — não por acaso, Proust é citado na edição de 1995 e agora ganha um adendo à mão: “Não acreditem quando dizem que Proust é chato. É maravilhoso. E há nele um tratado de comer bem”.
Era tudo isso que Nina tinha, é isso que Nina tem. Ela escreveu, como indica uma das notas manuscritas, livros “para quem gosta de lembrar de gestos e de cheiros. Como bombom de cereja e cheiro de folha de tomate pisada”. Livros que, a cada coluna, parecem parodiar Paulinho da Viola e nos ensinar que as comidas estão no mundo, só que é preciso aprender — e para aprender devemos enxergar o mundo de forma ampla, complexa e, sobretudo, generosa.
Matéria publicada na edição impressa #37 set.2020 em julho de 2020.