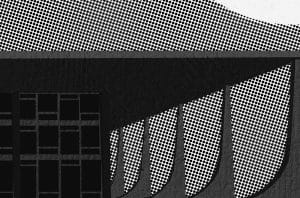Laut, Liberdade e Autoritarismo,
Que tiro foi esse?
Para professora de Harvard, a relação entre policiais e cidadãos indica o tipo de democracia na qual se vive
01mar2022 | Edição #55A relação entre desigualdades, polícias, violência estatal e cidadania em sociedades democráticas é o tema de estudo da professora Yanilda María González, da Escola de Governo da Universidade Harvard. Em seu mais recente livro, Authoritarian Police in Democracy (Polícias autoritárias em democracias, ainda sem tradução para o português), ela argumenta que a persistência de práticas policiais autoritárias não é apenas um legado das ditaduras militares, mas ocorre em razão das próprias dinâmicas políticas das democracias em sociedades profundamente desiguais.
Em entrevista à Quatro Cinco Um, ela fala sobre suas pesquisas de campo em Buenos Aires, Bogotá e São Paulo e discorre sobre o quadro atual da discussão sobre reforma policial no Brasil e no mundo.
Qual é o papel da polícia em uma sociedade democrática?
A polícia é uma das bases de qualquer sociedade democrática. Quando pensamos nas origens do Estado, um dos requisitos para a sociedade existir é a garantia da ordem social: não ter medo de que um vizinho vá roubar a sua casa, de que vá te matar, te estuprar. Tudo isso é fundamental para que a gente possa viver em sociedade, sem medo. A polícia, obviamente, como a entidade na qual o Estado deposita o monopólio da violência, é fundamental para criar as condições que possibilitam uma vida sem medo. E uma sociedade que vive sem medo é uma sociedade que consegue exercer outros direitos: econômicos, políticos, sociais, culturais.
Isso é o oposto do que observei, por exemplo, em reuniões comunitárias em São Paulo, Bogotá e Buenos Aires, onde pessoas diziam ter tanto medo que fecharam seus negócios, que não conseguiam sair na rua à noite, que não conseguiam se organizar com os vizinhos para fazer festas comunitárias. Por isso eu digo que a polícia tem um papel fundamental na estruturação do que são os direitos da cidadania em uma democracia. Além disso, ela é também a face visível do Estado. A forma como a polícia se relaciona com os cidadãos indica ainda o tipo de democracia na qual vivemos.
‘Uma sociedade que vive sem medo é uma sociedade que consegue exercer outros direitos: econômicos, políticos, sociais, culturais’
É possível que uma sociedade nominalmente democrática tenha uma polícia autoritária?
Uma das principais contribuições teóricas do meu livro é pensar em como separar os tipos de regime dos tipos de polícia. Quando comecei a estudar as polícias de regimes autoritários, percebi que suas características não eram tão diferentes daquelas de muitos países democráticos. Autores que escrevem sobre o governo chinês e outros regimes autoritários na Ásia, ou sobre o caso da Rússia, falam de uma polícia que age a serviço do governante, do ditador. Nesses casos, o Estado de direito não exerce nenhum limite na atuação da polícia e inexiste qualquer tipo de controle externo. Elas respondem somente aos governantes.
No caso da Argentina, do Brasil e da Colômbia, e também dos Estados Unidos e de outras democracias, a teoria da democracia nos indica que a polícia deveria trabalhar em prol da segurança da sociedade, da cidadania, cuja atuação é estritamente limitada pelo Estado de direito. Mas a realidade é muito diferente, pois as polícias desses países democráticos agem de forma mais parecida com a das polícias autoritárias. O nome do livro é precisamente para tentar deixar bem clara essa tensão.
Mais Lidas
Você diz que, nesses países, tais padrões estão firmemente enraizados na própria política democrática.
Um aspecto central é entender como chegamos a ter polícias autoritárias em democracias. A literatura mostra que em países como o Brasil e a Argentina esse legado autoritário de ditaduras militares é a causa de termos polícias extremamente violentas, que operam com impunidade, sem nenhum tipo de controle externo em relação à cidadania em uma sociedade democrática.
No caso do Brasil e da Argentina, a maioria dos estudiosos afirma que no momento de transição para a democracia as pessoas estavam mais preocupadas em fazer a reforma das Forças Armadas, e por isso as polícias permaneceram exatamente como eram no período autoritário. Mas o que eu achei na minha pesquisa é que, na verdade, houve uma decisão política de não reformar as polícias.
No Brasil, durante a Constituinte, houve bastante debate sobre a reforma da polícia, mas as instituições policiais exerceram uma forte pressão política para evitar essa reforma, para não sofrer nenhum tipo de mudança estrutural. Também olhando para a polícia de São Paulo, analisei o governo Montoro, depois o caso do massacre do Carandiru e o da favela Naval, e em cada um desses momentos houve realmente um debate político sobre o que deveria ser feito com a polícia — e em todas as vezes a decisão foi de não reformar. Por isso digo que essa decisão não é só um legado do período autoritário.
Sempre há uma parte da população que realmente quer ver uma polícia violenta, uma polícia que não tem que respeitar limites à sua autoridade, que não deveria ter limites no uso da força letal, que a ideia de limitar essa autoridade da polícia geraria mais crime e mais insegurança na sociedade. O caso mais recente no Brasil foi a eleição do Bolsonaro, que fez campanha dizendo abertamente que o policial que não mata não é policial. Observamos campanhas parecidas no caso de um ex-governador do Rio de Janeiro e do atual governador de São Paulo, insistindo que a polícia que vai proteger a população é a que tem mais autoridade para matar.
É por isso que a minha conclusão no livro é exatamente esta: a existência de polícias autoritárias na democracia não se dá apesar de processos democráticos, mas é o resultado de processos democráticos.
Você apresenta um paradoxo: os políticos têm ganhos eleitorais ao prometer uma polícia mais violenta e autoritária; por outro lado, pesquisas de opinião consistentemente mostram que as pessoas em geral não confiam na polícia. Como explicar essa aparente contradição?
Essa realidade existe não só na América Latina, mas em muitos outros países. Parte da resposta começa com a desigualdade social. Em sociedades desiguais como as nossas, o exercício da cidadania funciona de forma parecida, como o conceito hobbesiano de “todos contra todos”: o meu inimigo é o outro cidadão, e preciso ter medo de quem tem aquelas características que nós já conhecemos — populações empobrecidas, racializadas, minorias religiosas etc. Uma parte da população entende que a única opção é uma polícia violenta, truculenta, que sai na rua sem nenhum tipo de controle externo. Então o medo gerado pela desigualdade social e as segregações de grupos raciais e de classe ajudam a sociedade a acreditar que a única forma de proteção contra essas ameaças é com a polícia violenta.
A outra parte da resposta tem muito a ver com as opções de políticas públicas que são oferecidas nas nossas democracias em relação à segurança pública. Em todos os países que eu pesquisei, raramente vemos alternativas de políticas sociais, de políticas urbanas, de outros tipos de resposta ao problema da insegurança que não seja por meio da polícia. Então o cidadão que tem pouco contato com outras instituições do Estado, que somente vê a polícia no bairro dele, vai dizer: “Bom, a única opção que eu tenho para não ser agredido, para não sofrer violência, para não roubarem o meu carro é a polícia mesmo”. Daí essa contradição de que, mesmo que você não confie tanto na polícia, ela é a única opção.
Assim, a desigualdade social que contribui para a divisão da população entre ameaças e ameaçados, de um lado, e a falta de opções de políticas públicas para responder a essa problemática, de outro, gera essa tensão para que grande parte da população desconfie da polícia, mas ao mesmo tempo ache que ela deva poder agir de forma violenta e sem controle externo.
Nos últimos anos, vários analistas levantaram a hipótese de que os governadores poderiam perder o controle das polícias militares, que passariam a atender aos interesses pretorianos do governo federal. Você acha que esse medo é plausível? Ou, por outro lado, essa situação pode ser um catalisador de reformas por parte dos governos locais?
As polícias controlam o uso da força, portanto sempre há a possibilidade de que sejam cooptadas para fins políticos. Sempre existe o risco de que um líder com tendências autoritárias queira usar a instituição que tem o monopólio do uso da força para se manter no poder. Na verdade, essa é a característica clássica de uma polícia autoritária.
‘A atuação de familiares de vítimas tem sido fundamental para mudar a narrativa, porque em geral os casos são veiculados a partir da versão policial’
Essa aproximação entre Bolsonaro e as polícias estaduais serve apenas para aumentar o poder estrutural da polícia de resistir à autoridade dos governadores que queiram reformar a polícia para diminuir a violência. Eu tenho a preocupação de que, nas próximas eleições, Bolsonaro volte a reivindicar o uso da violência policial como elemento da campanha para tentar manter o apoio das polícias. Pois estamos falando de uma entidade com 100 mil membros, no caso de São Paulo — e, em outros estados, 10, 20, 40 mil…
Além disso, há o processo de acomodação entre as autoridades políticas e a polícia, em que os políticos acenam com mais autonomia e poder de atuação em troca de colaboração. E tem também o caso das bancadas da bala, em que ex-policiais atuam diretamente na política. Todos esses fatores vão se misturar e gerar uma situação bastante preocupante no ano que vem. As perspectivas de reforma serão pequenas.
Você diz que o fracasso das propostas de reforma das polícias no Brasil tem relação com os cálculos eleitorais da classe política. Mas o que dizer das autoridades não eleitas, como o Ministério Público, que possuem um amplo histórico de omissão e leniência diante do cotidiano de arbitrariedades policiais?
Essa é uma contradição que surge em muitos países. No caso do Ministério Público, que é a entidade que tem a competência para punir policiais que cometem atos de violência extrajudicial, a questão é mais estrutural do que outra coisa. Pois o Ministério Público depende estruturalmente da polícia na investigação dos crimes. Então eles têm uma função de colegas, basicamente. Fica difícil para o promotor dizer: “Eu preciso da colaboração da polícia, mas agora eu vou também investigar um caso de violência policial contra essa mesma pessoa ou os colegas dela”.
É uma coisa que vemos muito em outros países, por exemplo nos Estados Unidos, em que muitos promotores não querem investigar casos de violência policial. Isso leva a uma falta de efetividade na investigação e ao fato de que a maioria desses casos de violência e de letalidade policial é arquivada. Conversei inúmeras vezes com familiares de vítimas que relatam a dificuldade de incentivar e de motivar os promotores para realmente investigar os casos de seus filhos mortos pela polícia. Eles têm quase certeza de que esses casos serão arquivados.
De que maneira as milícias, como organizações que tem policiais e ex-policiais convivendo com operações no mercado ilegal, compõem o quadro mais amplo do que você define como “coerção autoritária”?
Essa é uma pergunta importantíssima, porque as milícias são grupos armados e organizados que operam tanto no marco ilegal como no legal. Eu me lembro de uma frase do [cientista político] Guaracy Mingardi, que disse que “o Estado paralelo não existe, em algum momento eles se cruzam”. As milícias têm muito essa característica paraestatal. As polícias não somente convivem com essas organizações, muitas vezes elas são parte delas. Então, a gente poderia pensar nessas milícias como uma certa terceirização do uso da força pelo Estado. Uma força terceirizada autoritária.
E não apenas no Rio de Janeiro. Se a gente pensar nas chacinas que ocorrem em São Paulo e em outros locais após a morte de um policial, trata-se de outra versão dessa coerção autoritária terceirizada, que é um uso informal da força do Estado. Mas o Estado geralmente não investiga esses casos; há pouco interesse das instituições em eliminar esse tipo de organização. Ou seja, não são entidades paralelas ao Estado. Realmente estão atravessadas por muitos agentes públicos e que têm com eles uma certa convivência explícita ou implícita.
Neste ano a pm de São Paulo instalou câmeras nos uniformes de boa parte de seus batalhões e houve uma queda brusca nos homicídios cometidos por policiais, a ponto de uma unidade como a Rota ter passado vários meses sem nenhuma morte em operação. Procedimentos como esse podem servir como ponto de partida para uma reforma estrutural das polícias?
Uma reforma operacional pode ter impacto importante, por exemplo, na letalidade policial ou até na efetividade da polícia. Todas as evidências até agora indicam que o uso de câmeras na farda dos policiais tem contribuído para diminuir o número da letalidade policial. O problema de uma reforma operacional, como o uso de câmeras, é que é inerentemente instável, pois a mesma polícia pode decidir amanhã que vai voltar atrás. É mais difícil desfazer uma reforma estrutural ou a implementação de controle externo.
As pesquisas sobre câmeras corporais, em particular, indicam que não é só o uso das câmeras que resulta em uma queda na violência policial. Mais importantes são as regras que governam esse uso. Por exemplo, quando a câmera é usada, se é o policial que determina se vai ligar ou deixar desligada, o que vai acontecer com o vídeo, para qual finalidade será usado. As pesquisas mostram que o impacto é limitado se essas regras forem decididas apenas pela polícia.
Quais são os atores sociais que têm tentado pressionar as instituições para pautar o problema da violência policial no Brasil, para trazer o debate da reforma das polícias para um patamar mais estrutural?
É importante falar da sociedade civil, da imprensa e também de entidades como as ouvidorias, que recolhem e compilam informações para divulgar para o público em geral. Temos que falar no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que publica dados utilizados pela imprensa e pela sociedade civil para chamar a atenção sobre o problema. Por outro lado, a atuação de familiares de vítimas tem sido fundamental para mudar a narrativa, porque em geral os casos de violência policial são reportados na imprensa a partir da versão da polícia. Os movimentos de familiares saem às ruas para tentar reclamar essa representação das vítimas na imprensa e dizer: “Olha, meu filho não estava ameaçando o policial”, dizer que realmente não foi uma troca de tiros, que não são todos “bandidos”.
Finalmente, o papel da imprensa é importantíssimo porque a grande maioria de casos de violência policial nunca sai na mídia. O fato de haver jornalistas que se especializam nessas questões tem sido fundamental para que se tenha uma compreensão maior do que é a violência policial, e também forçar as instituições a oferecer respostas concretas a isso.
Editoria especial em parceria com o Laut

O LAUT – Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo realiza desde 2020, em parceria com a Quatro Cinco Um, uma cobertura especial de livros sobre ameaças à democracia e aos direitos humanos.
Matéria publicada na edição impressa #55 em outubro de 2021.
Porque você leu Laut | Liberdade e Autoritarismo
Desradicalizar e democratizar
É preciso entender e enfrentar o crescente extremismo político no país para proteger a democracia brasileira
MAIO, 2024