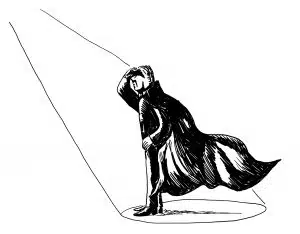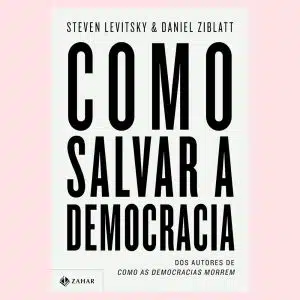

Laut,
O elefante na sala
Partido Republicano e legislação eleitoral são as grandes ameaças à democracia dos Estados Unidos, alertam Levitsky e Ziblatt em novo livro
01dez2023 | Edição #76A democracia está sob ameaça. Não na América Latina. Os Estados Unidos são a bola da vez. Esse é o alerta feito por Steven Levitsky e Daniel Ziblatt em Como salvar a democracia. O novo livro dos cientistas políticos não é propriamente uma sequência de Como as democracias morrem, publicado em 2018. O foco agora são os Estados Unidos, isto é, a democracia a ser salva, a que está a morrer, é a norte-americana. Nesses termos, ao diluir ou deixar em segundo plano o objeto do livro, o título adotado em português tem algo de enganoso. Quem ameaça a democracia norte-americana é a minoria branca e religiosa. Para evitar leituras apressadas, vale ressaltar que minoria está no singular. Para dar nome aos bois, ou melhor, ao elefante que passeia pela sala, a minoria tirânica a que o título em inglês se refere é aquela representada pelo Partido Republicano.

Em Como salvar a democracia, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt analisam a superposição entre gurpos étnicos e a inclinação partidária
Por duas vezes, em pleno século 21, o candidato que recebeu a maioria do voto popular não ocupou a Casa Branca. Bush Junior, em 2000, e Donald Trump, em 2016, obtiveram a maioria dos votos no colégio eleitoral e, por isso, foram empossados. Mas os dois perderam no voto popular. Não por acaso, em ambas as ocasiões, o Partido Republicano foi o favorecido. A conclusão é óbvia: há algo de podre no reino do “grande irmão do Norte”. Podre e absurdo.
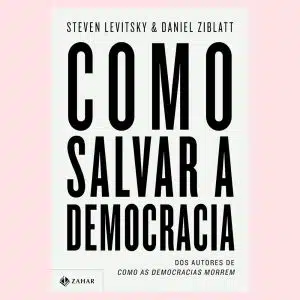
Não há a menor chance de que algo similar ocorra em qualquer outro país do mundo. Leva a presidência quem recebe o maior número de votos — essa é a lógica, isso é o que se espera em um regime democrático: a vontade da maioria deve prevalecer. Os Estados Unidos, contudo, não elegem o presidente pelo voto popular, e sim pelo colégio eleitoral, uma improvisação de última hora dos “pais fundadores”, que, tendo rejeitado a possibilidade de uma eleição popular, não tinham a menor ideia de como proceder. A invenção, à época, poderia fazer sentido, mas logo mostrou seus defeitos, gerando crises como nas eleições de 1800 e 1824. A despeito das falhas gritantes do colégio eleitoral, não há sinal de que ele venha a ser abandonado tão já. A possibilidade de que o perdedor da eleição popular venha a ocupar a Casa Branca continua aí.
Também não faltaram tentativas de abolir o mecanismo. Todas fracassaram e, sempre, como mostra Alexander Keyssar em Why Do We Still Have the Electoral College? (Harvard University Press, 2020), pela mesma razão, a saber, em função da questão racial. Por muito tempo, os sulistas, da região onde imperou um regime de verdadeiro apartheid entre o fim da guerra civil (1861-1865) e os anos 60 do século 20, vetaram qualquer reforma que alterasse o método pelo qual o presidente norte-americano é eleito. Vetaram porque a mera possibilidade de uma eleição presidencial popular teria como consequência a necessidade de regular o direito ao voto, o que implicaria em sua extensão aos afrodescendentes residentes ali. Os Estados Unidos são o único país do mundo em que não há uma legislação eleitoral única. Cada estado decide como conduz suas eleições, incluindo as presidenciais. Como notam Levitsky e Ziblatt, a Constituição dos Estados Unidos garante o direito dos norte-americanos de portar armas, mas não de votar. No país do Marlboro, a liberdade de ter armas e usá-las está protegida pela segunda emenda.
Distorção-aberração
Para ser claro, a deturpação gerada pelo colégio eleitoral não se deve apenas ao fato de se tratar de uma eleição indireta, em que pessoas eleitas votam no presidente. A distorção maior ocorre porque cada estado define e regula a eleição dos eleitores presidenciais que compõem o colegiado — não existe propriamente um colégio eleitoral. Os eleitores votam em seu estado, que envia os votos ao Senado. É neste que os votos são somados e o resultado oficial é proclamado. Na última eleição, em 2020, essa cerimônia ocorreu em 6 de janeiro de 2021, data em que os apoiadores de Trump invadiram o Capitólio para impedir o anúncio do resultado oficial.
A Constituição dos Estados Unidos estipula que as assembleias legislativas estaduais têm a prerrogativa para definir o método pelo qual os eleitores são escolhidos. Nova York, por exemplo, não precisa seguir a mesma regra que o Maine. Tampouco é necessário que a eleição seja popular. Nada impede que a Assembleia Legislativa da Flórida decida escolher os eleitores do estado que comporão o colégio eleitoral — possibilidade que foi considerada em 2000, quando a recontagem dos votos indicava que Al Gore obteria os votos do estado. Ou seja, apesar de ser uma eleição nacional, o que ocorre de fato são 51 eleições independentes, cada uma regida pelas próprias normas.
Mais Lidas
Como seria de se esperar, a maioria em cada estado tem os olhos voltados para sua contribuição no resultado, isto é, escolhe a maneira como eleger seus eleitores de modo a maximizar os votos a serem dados ao candidato do seu partido. Na maior parte dos estados, quem tiver mais votos leva tudo, ou seja, todos os votos do colégio eleitoral que cabem àquele Estado. Não importam a margem de vitória ou a proporção de votos obtidos; quem vence na Geórgia, para citar um estado decisivo na última eleição, leva consigo todos os votos da Geórgia. Assim, não há correspondência entre a votação popular obtida e a do colégio eleitoral. A soma da votação popular é destituída de sentido. Se é certo que um dos partidos vai vencer em um estado, a oposição não tem incentivos para mobilizar eleitores. Enquanto o Sul foi controlado pelo Partido Democrata e os afrodescendentes impedidos de votar, os candidatos republicanos sequer faziam campanha na região.
A chance de descompasso entre o voto popular e o do colégio eleitoral está dada desde a criação dos EUA
Ao longo dos anos 50 e 60 do século 20, os estados sulistas foram derrotados e os direitos civis estendidos aos afrodescendentes, provocando um realinhamento partidário. Os brancos do Sul abandonaram o Partido Democrata e abraçaram o Republicano, gerando a superposição entre grupos étnicos e a inclinação partidária analisada por Levitsky e Ziblatt.
Além disso, deve-se levar em conta que o número de votos no colégio eleitoral não é proporcional à população, e sim à representação nas duas casas congressuais, isto é, à soma das bancadas estaduais da Câmara, que é proporcional à população, e do Senado, que é fixa, com dois senadores por estado. Logo, os estados menos populosos são sobrerrepresentados no colégio eleitoral.
Eleger o presidente desse modo, não há outra forma de colocar, é uma verdadeira aberração, uma violação tão clara quanto absurda das regras básicas da democracia. Os votos das minorias em cada estado são desconsiderados. A possibilidade de descompasso entre o voto popular e o do colégio eleitoral está dada desde a criação dos Estados Unidos. De fato, Bush Junior não foi o primeiro presidente a tomar posse a despeito de não ter obtido a maioria dos votos populares. Entretanto, e este é o argumento central de Levitsky e Ziblatt, o que era um evento raro pode se tornar a norma, em razão da combinação entre as transformações demográficas do país e a estratégia eleitoral adotada pelo Partido Republicano. Os dados do censo mostram que a população branca está em vias de se tornar minoritária. Como afirmam os autores, os Estados Unidos são hoje uma sociedade multiétnica.
Em vez de se adaptar a essa nova realidade demográfica, o Partido Republicano apostou em reforçar sua relação com a base, isto é, eleitores brancos. Reforçar significa se negar a procurar votos entre afrodescendentes e latinos. Em outras palavras, o Partido Republicano é um partido da minoria e que se recusa a apelar à maioria. Em qualquer democracia do mundo, atrelar-se exclusivamente a um grupo minoritário é o mesmo que cometer um suicídio político; é saber de antemão que o partido não tem chances de chegar ao poder. Não, porém, nos Estados Unidos, pois a eleição pelo colégio eleitoral permite que o candidato menos votado seja eleito.
Poder de veto
Mas não é apenas a eleição para a presidência que importa. Levitsky e Ziblatt chamam a atenção para o poder de veto que o regimento do Senado confere às minorias. Para que uma matéria seja votada, é preciso que 60% dos senadores concordem com o encerramento dos debates. Assim, quem antecipa que será derrotado estende a deliberação. Em resumo, maioria simples não é suficiente para aprovar uma matéria. O quórum no Senado é sempre qualificado, uma arma poderosíssima nas mãos da minoria interessada em defender os próprios privilégios e impedir mudanças.
Os senadores sulistas usaram e abusaram dessa estratégia — chamada de filibuster no jargão do Senado — para obstruir a aprovação das propostas que visavam garantir cidadania plena aos afrodescendentes. O filibuster é um entre outros tantos mecanismos presentes nas instituições norte-americanas para conferir poder de veto à minoria. Há outros, como a prerrogativa conferida à Suprema Corte para declarar leis inconstitucionais.
Levitsky e Ziblatt demonstram que o Partido Republicano representa a minoria branca que se sente ameaçada pelas transformações pelas quais vem passando a sociedade norte-americana. A resistência dos senadores sulistas indica que o problema tem raízes profundas, que o reacionarismo do partido atual só pode ser compreendido quando se considera a herança do escravismo e, mais especificamente, o racismo que permeia a sociedade do país. Pesquisas de opinião mostram que uma parcela considerável dos brancos norte-americanos acredita que os afrodescendentes são responsáveis pelo próprio fracasso, que lhes faltam a vontade e a iniciativa para vencer na vida. Proteção social ou políticas de reparação não passariam de prêmio à indolência. Essa é a bandeira abraçada pelo Partido Republicano desde, pelo menos, Ronald Reagan.
A Constituição do país garante o direito dos norte-americanos de portar armas, mas não de votar
O interessante é que a minoria branca religiosa, parte dela pobre, acaba desprotegida e prejudicada, mas prefere isso a beneficiar quem, a seus olhos, não merece. Essa postura se estende a toda e qualquer política estatal, e não é por acaso que os investimentos em infraestrutura caem no país. Entre dividir e não ter, a minoria branca prefere a segunda opção.
O Partido Republicano, alertam Levitsky e Ziblatt, por ser aberta e deliberadamente o partido da minoria, tornou-se antidemocrático. Não à toa, portanto, Donald Trump se recusou a aceitar a derrota nas urnas, alegando, sem qualquer fundamento, que as eleições teriam sido fraudadas. Como documentam os autores, a quase totalidade dos deputados e senadores do partido endossou as alegações sem pés nem cabeça do político.
O elefante, portanto, caminha desimpedido pela sala, pisando no que encontra pela frente sem a menor cerimônia. Boa parte do problema decorre da veneração dos norte-americanos à Constituição, lida e interpretada como um texto sagrado, não obstante as aberrações que contém, como o colégio eleitoral. A ausência de uma legislação eleitoral nacional é um anacronismo de que os republicanos têm se valido para excluir afrodescendentes e latinos do processo eleitoral. Desse modo, no caso dos Estados Unidos, a ameaça não parte de autocratas dispostos a desrespeitar a Constituição. Pelo contrário. Para salvar a democracia é preciso alterar a Constituição. Enquanto o presidente não for eleito pelo voto popular direto, o elefante vai continuar seu passeio antidemocrático.
Editoria especial em parceria com o Laut
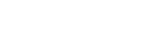
O LAUT – Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo realiza desde 2020, em parceria com a Quatro Cinco Um, uma cobertura especial de livros sobre ameaças à democracia e aos direitos humanos.
Matéria publicada na edição impressa #76 em novembro de 2023.