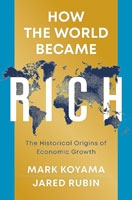Desigualdades,
O problema da riqueza das nações
Dois livros recentes reexaminam a pergunta fundamental da economia: por que há países ricos e pobres?
30set2023 | Edição #74Robert Solow, um dos maiores economistas do século 20, laureado com o prêmio Nobel em 1987, tomou, quando jovem, a decisão de abandonar a faculdade. Concluiu subitamente, mas com plena convicção, que parar de estudar era a melhor coisa que podia fazer naquele momento, enquanto assistia a uma aula particularmente tediosa e, a seu ver, irrelevante.
Não desistiu do curso porque lhe faltasse vocação acadêmica, como sua trajetória profissional posterior tornaria evidente. Aluno no ensino médio de uma excelente escola pública do Brooklyn, em Nova York, e filho de uma família de “classe média média”, segundo a sua própria descrição, Solow havia sido aceito em Harvard aos dezesseis anos, no início da década de 40. Deixava os bancos escolares — temporariamente, esperava — porque lhe parecia impensável não tomar parte na “coisa mais importante” que iria acontecer em toda a sua vida: a Segunda Guerra Mundial e, nela, a luta contra Hitler, na Europa.
Solow relata ter continuado a tomar notas diligentemente naquele dia, porque era isso o que sempre fazia, mesmo nos cursos mais enfadonhos. Quando o professor afinal anunciou o fim da lição, ele se levantou, guardou os cadernos, caminhou até a estação de metrô mais próxima e, de lá, tomou o trem para o centro de Boston, onde havia um posto de recrutamento do Exército. Algumas semanas mais tarde, embarcava para a Itália.
O relato talvez contribua para que se tenha uma ideia da clareza de julgamento — moral e intelectual — característica desse senhor que no ano que vem completa cem anos de idade. Há um outro exemplo, mais recente. Em meados dos anos 80, quando quase todos os seus colegas, nas principais faculdades de economia dos Estados Unidos, deliberadamente ignoravam estruturas de poder e circunstâncias históricas em suas análises, Solow achou por bem dizer que estava todo mundo errado: não faziam sentido, segundo ele, análises econômicas apartadas dos contextos sociais que informavam e constrangiam as escolhas dos agentes.
Assim como anos antes havia decidido arriscar a vida no front europeu — simplesmente porque era a coisa certa a se fazer —, agora Solow, que ainda não havia recebido o prêmio Nobel, arriscava algo do seu prestígio e talvez a boa convivência com os pares ao escrever um texto demolidoramente crítico — simplesmente porque, a seu ver, aquelas ideias eram verdadeiras e precisavam ser enunciadas.
Robert Solow criticou a busca dos economistas por um saber análogo ao das verdades da física
No artigo “História econômica e economia”, publicado em 1985, Robert Solow criticou a busca dos economistas por um saber que tivesse um grau de certeza e generalidade análogo ao das verdades da física, aspirando ao tipo de conhecimento proporcionado pelas ciências duras, com as quais supunham compartilhar pelo menos a forma de expressão: equações de validade potencialmente universal. “Minha impressão é a de que os melhores e os mais brilhantes em nossa profissão se comportam como se a economia fosse a física da sociedade”, escreveu.
Mais Lidas
Há [para eles] apenas um único modelo universalmente válido para a realidade. E basta aplicá-lo. Se você mandasse um economista em uma máquina do tempo […] para qualquer lugar, em qualquer tempo, acompanhado de seu computador pessoal, ele ou ela poderia começar a trabalhar sem se preocupar em saber em que lugar ou em que época estavam.
Ignorar as circunstâncias sociais e históricas era um erro grave, na opinião do formulador da moderna teoria do crescimento. Solow pedia modéstia, abandono das ambições universalizantes e atenção ao “contexto institucional”. O resultado de uma boa análise econômica, ele dizia, “provavelmente seria uma coleção de modelos dependentes das circunstâncias sociais — do contexto histórico, pode-se dizer — e não um único modelo monolítico atemporal”.
Hoje, quase quarenta anos depois, o estado da arte na pesquisa em economia é bastante diferente daquele constatado por Solow em meados dos anos 80 — e bem mais próximo do tipo de abordagem que ele então propugnava. Não há economista bem formado que não dê atenção ao “contexto institucional” em que as escolhas econômicas são feitas, aos efeitos dos desequilíbrios de poder sobre as interações nos diferentes mercados ou ao impacto das diversas instituições políticas ao longo da história sobre as possibilidades de crescimento econômico. Trata-se de uma mudança que se consolidou apenas nas últimas duas ou três décadas, contudo — e não deixa de ser impressionante a presciência de Robert Solow.
Enigma da divergência
Dois livros recentes servem como exemplo dessa importância destacada que a história econômica passou a ter nos últimos anos — para economistas, especificamente, mas também para cientistas sociais, de modo geral. How The World Became Rich: The Historical Origins of Economic Growth [Como o mundo ficou rico: as origens históricas do crescimento econômico], de Mark Koyama e Jared Rubin, e A jornada da humanidade, de Oded Galor, voltam a um velho tema de pesquisa — na verdade, ao Santo Graal das ciências sociais. As duas obras reexaminam a pergunta fundamental da economia, expressa com clareza no título do livro mais famoso de Adam Smith, Uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações.


How The World Became Rich: The Historical Origins of Economic Growth [Como o mundo ficou rico: as origens históricas do crescimento econômico], de Mark Koyama e Jared Rubin, e A jornada da humanidade, de Oded Galor, voltam ao Santo Graal das ciências sociais
“Por que afinal alguns países são ricos e outros são pobres?” é a pergunta de bilhões. Por que suíços e alemães têm vidas materiais tão confortáveis enquanto ainda há gente, na África, na Ásia e na América Latina, sem água potável e que passa fome? Galor e a dupla Koyama-Rubin tratam do problema em chave histórica, como recomendava Solow, analisando dezenas de milhares de anos de mudanças e de persistências em nossas formações sociais, dos grupos de caçadores coletores ao mundo pós-industrial, aí incluídas as preocupações recentes da crise climática. Não só usam a história para tentar responder à pergunta de Smith como apresentam ao leitor pesquisas recentes — tanto de economistas quanto de historiadores econômicos — que fazem uso de mudanças sociais e institucionais ao longo do tempo para tentar esclarecer o enigma da divergência de riqueza e renda entre os países. A história, antes praticamente ignorada, é agora não só objeto de interesse dos economistas (a finalidade, o objeto da pesquisa), mas também instrumento (parte do método) para testar a validade de suas hipóteses.
O problema da riqueza das nações é formulado de maneira semelhante por Galor e pela dupla Koyama e Rubin. A rigor, há duas perguntas distintas, porém relacionadas, que são mobilizadas para organizar a exposição de ideias em ambos os textos. A primeira pergunta contrasta duas épocas distintas: na maior parte da história, desde que o homem é homo sapiens até o século 19, as sociedades humanas tiveram, para a maior parte da população, padrões de renda per capita baixos — próximos ao mínimo necessário para sobreviver. Mal e mal as pessoas comiam, se vestiam, tinham um teto. A partir do século 19, depois da Revolução Industrial e de mudanças demográficas importantes, diversas sociedades começaram a enriquecer. A população global, em sua maioria, já não vive sob condições de subsistência. Ao contrário, quase todos os países do mundo hoje — com exceção de um punhado de nações africanas — tem renda per capita mais alta do que a da Inglaterra em 1800, que era então o país mais rico do mundo. Como e por que isso aconteceu? Essa é a primeira pergunta.
A segunda questão tem a ver com as divergências de renda. Embora todo mundo tenha enriquecido, alguns países enriqueceram muito mais do que outros desde o século 19 — e o mundo é hoje bem mais desigual do que era dois séculos atrás. Por quê? Qualquer pessoa que tenha interesse por questões sociais já se fez essas perguntas. Nos dois livros, os autores descrevem e avaliam algumas das melhores respostas formuladas em décadas recentes para esses problemas — em um debate que sempre ocupou historiadores e sociólogos, mas que tem atraído a participação crescente de economistas, além de mobilizar uma quantidade de dados e de técnicas quantitativas de que não dispúnhamos antes da democratização do uso de computadores, de um lado, e de inovações metodológicas radicais, de outro — ambas realizadas apenas no fim do século 20. Embora organizem as suas perguntas de maneira semelhante, How The World Became Rich e A jornada da humanidade dão respostas bastante diferentes para as duas questões gerais que estão em suas páginas: o problema da riqueza das nações — e do enriquecimento global nos últimos dois séculos — e o problema da desigualdade entre os países.
Raposa e porco-espinho
Na célebre classificação proposta pelo teórico social Isaiah Berlin, a partir de uma história inventada pelo poeta grego Arquíloco, Koyama e Rubin são a raposa, que sabe muitas coisas, e Oded Galor é o porco-espinho, um bichinho meio obsessivo, que conhece em profundidade uma única coisa grande e importante. How The World Became Rich, o livro da dupla que dá aulas nas universidades George Mason e Chapman, nos Estados Unidos, é quase um manual de apresentação do que vem sendo produzido de mais relevante em história econômica nas últimas duas ou três décadas. Se Robert Solow tivesse decidido tirar férias ao se aposentar do mit em 1995 e desde então estivesse completamente alienado do que vem sendo feito em história econômica (não é verdade, mas vamos supor que sim), esse livro seria perfeito para ele tomar pé de um campo de pesquisa que não para de crescer.
Koyama e Rubin dividem os capítulos da obra segundo as causas mais importantes geralmente mobilizadas para dar conta da riqueza e da desigualdade entre as nações, todas cuidadosamente apresentadas e desenvolvidas: efeitos geográficos (climas distintos, obstáculos naturais ao comércio, doenças endêmicas etc.), diferenças culturais, variações demográficas e institucionais. Embora todos esses fatores sejam relevantes e interajam, é justo dizer que as instituições têm recebido atenção privilegiada dos historiadores econômicos nas últimas décadas. Ao falar em instituições, os cientistas sociais se referem, por exemplo, às Constituições, que organizam como se exerce o poder político, e, a partir delas, ao funcionamento da Justiça (capaz de proteger melhor ou pior a propriedade privada e de criar incentivos para investimentos) ou aos diferentes mecanismos de proteção social. Todas as “regras do jogo” que balizam a interação entre indivíduos, nas diferentes sociedades, têm sido destacadas como fatores cruciais para um maior ou menor potencial de crescimento econômico, e essa ênfase aparece refletida no livro.
A história, antes praticamente ignorada, é agora objeto de interesse dos economistas
Tomemos um caso exemplar do impacto das instituições sobre o desenvolvimento econômico. A Inglaterra foi o primeiro país a ter um parlamento forte o suficiente para controlar os gastos do rei e da rainha de turno, bem como os empréstimos feitos pelos monarcas. Sem a aprovação dos representantes eleitos do povo (e por povo, em 1700, queremos dizer uma meia dúzia de proprietários de terra em cada condado inglês), a Coroa não podia gastar mais do que era arrecadado e, sobretudo, não podia dar calote (porque a conta do calote iria recair mais tarde, direta ou indiretamente, sobre o “povo”, aquele lá).
O governo parlamentar, com poderes ampliados, ganhou legitimidade frente aos pagadores de impostos e passou a dar menos calote. Isso teve duas consequências. De um lado, diminuíram os juros cobrados de um governo que era bom pagador. Aos poucos, isso acabou ajudando a liberar recursos e a caírem os juros também para a iniciativa privada. Por outro lado, foi possível cobrar mais impostos, aumentar a carga tributária — porque quem pagava participava, direta ou indiretamente, das decisões de receita e despesa do governo. Com mais recursos, o governo se tornou mais eficaz para promover melhorias de infraestrutura, por exemplo. Canais e estradas para carruagens construídos entre os séculos 17 e 18 ajudaram a integrar mercados de diferentes regiões do país. Mercados maiores (nacionalmente integrados) e juros mais baixos criaram incentivos para os negócios e o crescimento econômico. Um parlamento mais forte, com mais voz para os contribuintes, gerou ganhos materiais, maior renda per capita. Discussões sobre esse tipo de mecanismo — apresentado no livro de maneira menos esquemática do que aqui — aparecem na obra de Koyama e Rubin.
Demografia
Galor, por sua vez, está mais interessado em defender uma causa específica — fundamental, a seu ver — que ele próprio tem destacado, em artigos recentes, para explicar as variações históricas e internacionais de crescimento econômico e de renda per capita: a demografia. Até o início do século 19, observa, aumentos de produtividade tendiam a não se traduzir em maior renda per capita: os ganhos de produção e de bem-estar iniciais acabavam por se ver diluídos em uma população maior, com o aumento do número de filhos em cada família e a diminuição das taxas de mortalidade que acompanhavam o avanço tecnológico e a sensação de maior riqueza inicial.
No final, em vez de uma população de mesmo tamanho com todo mundo um pouquinho mais rico, o que se tinha era uma população maior com todos mantendo a mesma renda inicial, a que já prevalecia antes do ganho de produtividade. Foi isso o que mudou no século 19. A produtividade deu um salto depois da Revolução Industrial, e as pessoas começaram a se comportar de uma maneira diferente: em vez de terem muitos filhos, agora que a vida tinha melhorado e as condições materiais permitiam, passaram a reduzir o tamanho das próprias proles e de suas famílias. Em vez da população crescer no ritmo do aumento de produtividade, foi a renda que passou a acompanhar os ganhos de eficácia econômica. Galor está interessado em explicar essa mudança em particular.
Explicações monocausais do tipo proposto por Galor são, de toda forma, sempre sedutoras
Ao dar tamanho peso para um único fator explicativo, Oded Galor talvez se aproxime perigosamente dos modelos “monolíticos” criticados por Robert Solow — mas a meu ver o seu esquema ainda incorpora e tenta dar conta de variabilidades históricas e institucionais suficientes para representar um avanço em relação às formulações econômicas de meio século atrás. Explicações monocausais (ou quase) do tipo proposto por Galor são, de toda forma, sempre sedutoras — e a história do pensamento não deixa de ser uma sucessão de grandes explicações que a princípio seduziram muita gente para serem mais tarde abatidas em pleno voo. Estão para a ponderação sensata de fatores diversos (o que Rubin e Koyama fazem em seu livro) como a paixão para a amizade, e a poesia para a prosa.
Sabemos quem ocupa um lugar privilegiado nesse tipo de dicotomia. Mas o que importa destacar, agora, é menos o contraste entre as duas obras do que o fato de que tanto os interesses da raposa quanto do porco-espinho, tanto a prosa quanto a poesia, são, nesse caso, obras de historiadores — e não de físicos.
Matéria publicada na edição impressa #74 em setembro de 2023.