50 anos da Revolução dos Cravos, Memória,
O ano da viração
Sebastião Salgado relembra como se firmou na carreira ao documentar a longa trajetória portuguesa rumo à democracia
01abr2024 • Atualizado em: 01ago2024 | Edição #80Nós fomos de carro para Portugal. Na época as passagens aéreas eram caras e não tínhamos dinheiro para ir de outro jeito. E nosso carro era um carrinho que gastava pouca gasolina, o menor Renault que existia. Os três cabíamos direitinho lá dentro: Lelinha, eu e o Juliano.
Fomos morar na pensão do seu Fernando, uma “pensão familiar”. Nós estávamos passando e vimos a placa “Pensão Familiar”. Entramos e conhecemos o dono, que arrumou um quarto para nós e ficamos.
Nessa época, em 1974, eu estava na Sygma. O Juliano estava aprendendo a falar. E da pensão do seu Fernando a gente ia naqueles comícios todos em Lisboa e em Portugal inteiro, eu ia cobrindo as manifestações.
Em 25 de abril de 1974, logo quando começou o golpe militar que derrubou a ditadura salazarista em Portugal, Sebastião Salgado foi enviado pela agência Sygma para cobrir o movimento chamado de Revolução dos Cravos, pois os soldados simbolicamente levavam essa flor na ponta dos fuzis. Exilado desde 1969, Salgado tinha deixado havia um ano o emprego na Organização Internacional do Café, em Londres, para abraçar o sonho da fotografia. Naquele mesmo ano, nasceu o filho Juliano. E a família se mudou de mala, cuia e Renault 4 para Lisboa. Era mais barato morar uma temporada do que ir e vir e se hospedar em hotéis.
Poucos analistas políticos puderam prever que cairia tão facilmente a ditadura mais antiga da Europa — mais longeva do que o regime fascista de Mussolini, na Itália, que lhe serviu de inspiração, e do que o nazismo de Hitler, na Alemanha. O governo iniciado por António Salazar, em 1932, sobreviveu à morte do fundador (em 1970), substituído por Marcelo Caetano, mas não resistiu à revolta dos escalões mais baixos do oficialato diante de uma guerra colonial impossível de ser vencida. E a todos surpreendeu a politização das Forças Armadas manifestada depois do 25 de abril.
‘Fomos de carro para Portugal. As passagens aéreas eram caras e não tínhamos dinheiro’
Em 1961, quando surgiram os primeiros movimentos armados pró-independência em Angola, Salazar enfrentou a oposição do generalato contrário a uma guerra aberta. Uma tentativa de golpe chamado Abrilada de 1961 foi derrotada. O ditador demitiu a cúpula do Exército e promoveu uma geração que permaneceu fiel ao regime até os anos 70. Mas quem enfrentava as guerrilhas eram os soldados e os oficiais de baixa patente. Ao longo da década de 60, esses segmentos se politizaram, se associaram em grupos clandestinos e, em 1974, derrubaram o regime num raro golpe militar democrático.
Mais Lidas
A ditadura caiu ao som da música “Grândola, Vila Morena”, cuja emissão no rádio foi usada como senha pelos oficiais rebeldes na manhã do 25 de Abril. Foi deposta sem nenhuma manifestação pública de apoio. O presidente Américo Tomás, sucessor de Salazar, e o primeiro–ministro Marcelo Caetano seguiram para o exílio no Brasil. Como um castelo de cartas, em seguida caiu o domínio colonial com o reconhecimento da independência de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Timor Leste, um ano e meio depois.
Todo esse processo que durou quase dois anos, Salgado documentou, primeiro por alguns meses, morando na pensão; depois, indo e voltando entre Paris, Lisboa, Luanda e Maputo. Mais tarde, vivendo num apartamento alugado na capital portuguesa. Foi sua primeira cobertura de reconhecimento internacional, a que deu a primeira capa numa revista de prestígio mundial, a Newsweek, e garantiu um emprego com salário melhor na agência Gamma.
Angola
Nesse período em Lisboa, eu conheci um angolano, Gusmão Coelho, que ficou muito nosso amigo. E a Sygma me pediu para ir a Angola documentar o crescimento do movimento de guerrilha da Unita, financiado pela direita portuguesa como um contraponto ao MPLA [Movimento Popular de Libertação de Angola], apoiado pela União Soviética. O Coelho falava inglês e trabalhava na torre de controle do aeroporto de Luanda. Então, fui para Angola e fiquei hospedado na casa dele.
Em Luanda, procurei o Exército português, que me levou para o leste do país em um avião militar. Lá, um helicóptero me levou para ver o líder da Unita, Jonas Savimbi. Fiz fotos dele, com as armas. Ele tinha umas metralhadoras tchecas todas descompostas. Cada soldado tinha uma arma diferente.
A independência das colônias não foi consensual e nem imediata: no início, os líderes do movimento militar propunham a manutenção da união das “províncias ultramarinas” com Portugal num regime federativo. Por isso, a guerra nas colônias continuou mesmo depois do 25 de Abril.
Ao mesmo tempo, Portugal vivia um processo político conturbado. Os jovens oficiais que haviam comandado o golpe, liderados pelo capitão Otelo Saraiva de Carvalho, um homem de esquerda, tinham indicado o general António de Spínola, um conservador, como presidente da República, e o general Costa Gomes, que havia sido demitido do cargo de comandante das Forças Armadas poucos dias antes do golpe, era o segundo em comando. Diante do esquerdismo explícito de Saraiva e do oficialato, Spínola renunciou em setembro de 1974. Costa Gomes assumiu a presidência, que manteve até as eleições democráticas de 1976. Mas a instabilidade continuou: alegando que a “maioria silenciosa” do país estava descontente com o esquerdismo do Movimento das Forças Armadas, liderado por Saraiva de Carvalho, Spínola participou de uma tentativa fracassada de golpe conservador em 11 de março de 1975. Derrotado, o general fugiu para o Brasil.
Lisboa-Paris-Moçambique
Depois de cobrir a Unita, em Angola, voltei para Lisboa e, de lá, voltamos para Paris. E dali a alguns dias a Sygma me mandou para Moçambique porque estavam ocorrendo muitas invasões de propriedades rurais de fazendeiros brancos, muitos assassinatos. Uma desestabilização total do norte do país. Eu fui para uma cidade chamada Nampula.
Chegando lá, encontrei dois repórteres que tinham ido na minha frente. Tinha um da Gamma e outro da Sipa, que era uma agência de um turco que era uma pessoa fabulosa [o fotógrafo Gökşin Sipahioğlu]. Ficamos no mesmo hotel. Como eu falava a língua, tinha contatos melhores que os deles, os brasileiros eram queridos pelos moçambicanos. Acabei conseguindo uma carona com o Exército português para a base de Moeda, onde desci em um comboio militar. E eles, infelizmente, ficavam no hotel.
Chegou uma hora que eu decidi voltar para Paris e eles ficaram por lá, porque tinham certeza de que alguma coisa iria acontecer. Eles queriam ir para Maputo [então Lourenço Marques]. Eu peguei um voo à tarde para Lisboa e no dia seguinte consegui um para Paris: às onze horas da manhã eu estava em casa. Cheguei, encontrei a Lelia, almoçamos e logo depois tocou o telefone. Era o Hubert Henrotte, que era o proprietário e diretor da Sygma. “Sebastião, você vai me desculpar, você acabou de chegar, mas houve um golpe de Estado em Maputo hoje de manhã e você é a única pessoa nossa para voltar para lá”.
Eu mal tinha chegado e de noite já estava em um avião voltando para cobrir o golpe de Estado da extrema direita, que tentou tomar o poder dos militares portugueses para se instalar e evitar a passagem para a Frelimo [Frente de Libertação de Moçambique].
Saí de casa logo em seguida e fui para Lisboa, para voltar a Moçambique. Chega em Lisboa, não tinha avião para Maputo, por causa do golpe de Estado. Só tinha voo para Beira, no centro de Moçambique, era a segunda maior cidade do país. Eu pensei: “Vou para Beira, o importante é estar em Moçambique, qualquer coisa que acontecer estou lá”.
‘As pessoas na rua davam a mão aos soldados. Eles chegando e eu fazendo fotos. Fiz cada foto genial’
Lembro que ainda aconteceu um acidente: quando o avião estava decolando se escutou uma batida na fuselagem, depois outra e numa terceira quebrou o vidro do avião. Tivemos que voltar, aterrissar… A equipe do aeroporto tinha esquecido um equipamento de terra preso por fora do avião e aquilo ficou balançando e batendo na fuselagem e na janela. Tivemos que trocar de aeronave e então embarcamos.
Chegamos à Beira no outro dia, tarde, após umas dez horas de voo. Fui conversar com o gerente do hotel: “Eu preciso ir para Maputo, mas está tudo bloqueado”. Ele me disse: “Tem um general português que chegou hoje de lá e veio em um voo fretado, que vai voltar. O piloto está aqui no quarto número tal…” Fui lá no quarto dele, bati e expliquei: “Sou brasileiro, preciso ir para Maputo”. E o piloto disse: “Vem comigo, estou sozinho no voo para Maputo.”
O processo de descolonização de Moçambique foi marcado pela tensão entre o movimento de guerrilha Frelimo e o governo instalado pela Revolução dos Cravos. O general Spínola tinha sido o comandante do Exército português em Guiné-Bissau e era acusado de ter tramado a morte, em 1973, de Amílcar Cabral, o líder do principal movimento armado que lutava pela independência do país. Samora Machel, líder da Frelimo, logo sinalizou que Moçambique não aceitaria jamais a proposta de perpetuação do vínculo entre os países, como a federação proposta por Spínola. A Frelimo não aceitou o cessar fogo proposto pelos novos governantes e manteve a guerrilha ativa. Uma das suas ações era a invasão das propriedades rurais, que provocou a morte de fazendeiros brancos.

Em setembro de 1974, cinco meses depois da Revolução dos Cravos, eclodiu em Lourenço Marques o movimento que ficou conhecido como Revolta do Rádio Clube, uma tentativa de tomada do poder por grupos que se opunham à independência de Moçambique e defendiam a manutenção de laços formais com Portugal, incluindo representantes de colonos brancos. Os rebelados ocuparam a principal emissora de rádio e anunciaram a independência do país, soltaram os membros da PIDE, a polícia política salazarista, e obtiveram o apoio de tropas do Exército português.
A revolta durou apenas quatro dias, até que o governo português, ainda liderado pelo general Spínola, determinou ao Exército que ocupasse o Rádio Clube e controlasse a cidade contra os golpistas. Em seguida, Portugal aceitou assinar os chamados “Acordos de Lusaka” (assinados na capital de Zâmbia), dando a independência incondicional a Moçambique nos termos reivindicados pela Frelimo. A data da independência ficou marcada para 25 de junho de 1975, mas imediatamente foi instalado um governo de transição, com ministros apontados por Portugal e pela Frelimo, sob a liderança de um primeiro-ministro do movimento, Joaquim Chissano.
Maputo
De manhã cedinho eu estava voando para Maputo. Logo quando aterrissamos, o comandante recebeu ordem para não demorar na pista, sair rápido, porque estavam chegando dois aviões da East African Airways, a grande linha aérea do leste africano, que pertencia aos governos de Quênia, Uganda e Tanzânia. Os aviões estavam chegando com tropas da Frelimo para ocupar a cidade junto com o Exército português, que iam passar o poder para o grupo.
Ali no aeroporto eu já corri fazendo fotos dos homens descendo dos aviões, embarcando nos caminhões que iam levá-los para os musseques, as favelas onde morava o povo mesmo de Moçambique, porque no centro da cidade só moravam os brancos. Os caminhões iam e as pessoas nas ruas davam a mão para os soldados, recebendo a Frelimo. Era a chegada dos heróis dos sonhos de independência, que iam libertar o país do jugo dos portugueses. Eles chegando e eu fazendo fotos, fiz cada foto genial…
Quando terminou aquela atividade toda, fui para o hotel Polana, uma espécie de Copacabana Palace da África. Me registrei e fui andar na frente do hotel, onde tinha a piscina… Olho lá, meus dois colegas fotógrafos tomando sol. Eu os cumprimentei e eles disseram: “Pensamos que você estava em Paris”. Eu disse: “Voltei. E cheguei com a tropa da Frelimo”. Saíram correndo para fazer as fotos, mas não conseguiram…
Em seguida, veio a posse do governo de transição liderado pela Frelimo. Fiz a cobertura completa da posse, em setembro de 1974. Tenho uma foto do momento da instalação do Joaquim Chissano como primeiro-ministro. Havia muita tensão na cidade e não estava claro se havia condições de segurança para o Samora Machel vir para a capital. Ele ficou na Tanzânia, liderando a Frelimo do exílio, enquanto Chissano implantou o governo.
‘Em Angola, cobri uma luta fratricida. Acabei levando um estilhaço de morteiro, quase me mataram’
Ao lado do Chissano estava meu amigo Aquino de Bragança, um jornalista que trabalhava na Afrique Asie, uma revista que trabalhava muito com a África, de Paris. Ele era um indiano, de Goa, que se tornou membro do governo, e morreu no avião com o Samora Machel, em 1986, quando voltavam de Zâmbia. Eles estavam em um avião russo Ilyushin, voando em uma noite de chuva forte. O piloto, que era russo, cometeu uma série de erros: primeiro errou de aeroporto e em vez de aterrissar em Maputo, foi para Joanesburgo, na África do Sul; ao voltar, errou a pista e matou quase todo mundo que estava a bordo. Samora era um grande líder, uma pessoa querida.
*
Em 25 de junho de 1975, formalizada a independência do país, Samora Machel se tornou presidente da República e Joaquim Chissano seu ministro das Relações Exteriores e homem forte do governo. Com a posse, foi promulgada a Constituição do país, com a Frelimo como partido único. Machel era um líder popular. Em um tempo de Guerra Fria, a Frelimo governava com forte apoio da União Soviética, que supria bens e preenchia lacunas deixadas pelo perverso colonialismo português, do qual a falta de universidades é um exemplo cristalino. O país tinha relações tensas com a vizinha África do Sul, com fronteiras a poucos quilômetros de Maputo, e seu regime de apartheid racial em pleno vigor.
Depois de doze anos de governo, Machel morreu em um acidente aéreo. O jornalista Aquino de Bragança se tornou um homem de confiança de Machel no processo de transição para a independência. Depois da independência, assumiu um cargo de direção na primeira universidade do país, cargo que exercia ao morrer no acidente. Chissano assumiu a presidência e governou o país até 2005, com uma gestão marcada pela estabilidade política e recuperação econômica. Graça Machel, a viúva do presidente, veio a se casar com Nelson Mandela, tornando-se primeira-dama da África do Sul pós-apartheid.
De volta a Angola
Depois da independência de Moçambique veio a de Angola, em novembro de 1975. Eu saí da Sygma e entrei na Gamma por causa de Angola. Tinha um fotógrafo francês chamado Jean-Claude Francolon, que era o profissional de referência da Gamma naquela época. A agência foi fundada pelo Raymond Depardon com três outros fotógrafos. E tinha havido uma cisão, da qual surgiu a Sygma. Em um certo momento, o Depardon foi para o Tibesti [região do Chade, na África] e ficou lá por mais de seis meses.
Enquanto isso, o grande fotógrafo que ficou por aqui era o Francolon, mas ele foi mandado para cobrir o final da guerra do Vietnã e foi ferido, em 1975, por tiros de metralhadora. Estava tudo pronto para ele ir para Angola. Eu tinha estado com ele no norte de Moçambique, ele pela Gamma e eu pela Sygma, e ficamos muito amigos. E ele me indicou à Gamma para substituí-lo e fazer as fotografias em Angola, disse que eu era o fotógrafo ideal para a cobertura.

Crianças em Luanda, Angola, durante as comemorações da independência do governo português (1975) [Sebastião Salgado]
Fui ao escritório da Gamma pegar os filmes. Eu tinha uma maneira de carregar meus filmes: tinha as caixinhas usadas para guardar slides onde cabiam quatro filmes, eles ficavam protegidos e ocupavam menos espaço. Então tirei tudo da caixa lá mesmo, joguei no lixo, embalei nas caixinhas de slides e levei para casa. Eu ia viajar dali a dois dias…
Daí caiu a intensidade dos conflitos na Angola. O editor da Gamma, Floris de Sonneville, me ligou: “Salgado, não vai dar mais para você ir porque diminuiu a intensidade dos conflitos. Então, você devolve os filmes”. Eu disse: “Olha, Floris, eu posso devolver os filmes, mas não têm mais caixa, você viu o que eu fiz…” “Ih, nenhum fotógrafo vai querer esses filmes, vou ter que jogar fora”, ele respondeu. Aí pensou e disse: “Então, nesse caso, você vai!” Era mais barato me mandar do que não mandar, de tão caros que eram os filmes. Em Angola eu fiz um punhado de coisas, estava em plena guerra civil.
*
Primeira colônia a registrar movimentos de guerrilha contra o regime colonial português, em 1961 — com ataques promovidos pelos movimentos FNLA, liderado por Holden Roberto (1923-2007), e MPLA, de Agostinho Neto (1922-1979) —, Angola viveu momentos de guerra civil entre a Revolução dos Cravos, em 1974, e a independência formal em 11 de novembro do ano seguinte.
Além dos dois pioneiros movimentos armados, em 1966 havia surgido a Unita, de Jonas Savimbi (1934-2002), com apoio do regime racista da África do Sul e do serviço secreto português. Os três grupos entram em colisão na tentativa de controlar Luanda, à medida em que se aproximava o fim da presença portuguesa. O MPLA tem mais sucesso, domina a capital e assume o poder formal, obtendo reconhecimento internacional.
Mas logo em seguida tem início uma guerra civil que duraria até 2002. Com a derrota militar da FNLA em 1976, a Unita passa a ser a força de oposição até o fim da guerra civil, quando Jonas Savimbi foi morto numa emboscada e seu movimento se desintegrou.
Luanda
Em Angola, eu cobri uma luta fratricida, antes de o MPLA tomar o poder. Quando o grupo chegou em Luanda, houve um acordo de paz com a Unita, que a essa altura já era uma força, e o FNLA, que era apoiado pelos Estados Unidos e pela África do Sul, que durou uns dez dias. Aí o pau quebrou de novo e eles começaram a se matar entre eles. No meio daquela bagunça, acabei levando um estilhaço de morteiro, quase me mataram.
Teve um momento em que havia um ataque à Fortaleza de São Pedro da Barra, tinha lá um grupo do FNLA e eu estava com um grupo do MPLA. O assalto ia ser de madrugada. Eu lá de noite, não podia usar flash porque denunciava. De tardinha, no meio do mato, a gente se instalou numa clareira que tinha duas casinhas abandonadas. Ficamos ali, com uns trinta soldados bem armados, com Kalashnikov — eles eram equipados pela Rússia. Eles acharam uma bolinha de pano, encostaram as armas e começaram a jogar uma pelada. Lá do forte, os caras escutaram e começaram a bombardear. A primeira granada que caiu matou um soldado, a segunda feriu outro. E eles fugiram, correram e eu também ia fugir. Mas [ouvi] esse coitado gritando no chão: “Não me deixa, pá, não me deixa, pá, eles vão me matar”. Aí eu voltei com mais um soldado, que era menor, eu era mais forte, ele meteu a mão na Kalashnikov e eu joguei o ferido nas costas, com aquela perna que estava presa só na pele, eu cheio de sangue. Nós fomos embora com ele nas costas. Só paramos quando chegamos perto da linha do MPLA, já de noitinha. Eu ainda tinha medo de que eles achassem que era algum assalto dos inimigos e atirassem na gente. Quando chegamos, quem estava lá? O David Lerer [médico, militante e político de esquerda brasileiro, exilado durante a ditadura, participou como médico das guerras de independência de Moçambique e Angola]. Ele trabalhava no hospital Saint-Louis, em Paris, era muito nosso amigo. E naquele momento estava trabalhando pelo MPLA…
Lerer achou que eu estava ferido, quis me examinar e viu que tinha um estilhaço no meu peito. Ele disse: “Salgado, você tem muita sorte, se esse estilhaço tivesse avançado um pouco mais, tinha entrado na área do coração, você tinha morrido”.
A partir da Revolução dos Cravos, Portugal viveu quase dois anos de agudo processo revolucionário, uma intensa politização da população e das Forças Armadas e tentativas de golpe à direita e à esquerda. Depois de um ano da queda da ditadura, em 25 de abril de 1975, uma assembleia foi eleita com a missão de redigir uma nova Constituição para o país.
‘Ouvi esse coitado gritando: ‘Não me deixa, pá, eles vão me matar’. Voltei e joguei o ferido nas costas’
A maioria dos votos coube aos moderados Partido Socialista, de Mário Soares (com 35% dos votos), e PPD, de Francisco de Sá Carneiro (com 25%). Os partidos mais radicais do espectro político tiveram votações menores: o Partido Comunista, pouco mais de 10%, e o CDS, herdeiro da ditadura, 8%.
O período da redação da nova Carta foi marcado por instabilidade e disputa de poder, especialmente pelo desconforto no Movimento das Forças Armadas por seu alijamento institucional e pela tentativa dos setores radicalizados, sem expressão do voto, para ampliar seu poder na nova ordem. O período foi chamado de “Verão Quente” de 1975, com sinais de que uma guerra civil era iminente. Um golpe de Estado de setores de esquerda foi frustrado em novembro daquele ano.
Ao final, a Carta constitucional aprovada em abril de 1976 manteve o regime parlamentarista e convocou eleições presidenciais para junho seguinte. Saiu vencedor com 62% dos votos o general Ramalho Eanes, independente que concorreu com apoio de partidos de centro-esquerda, como o Socialista, e centro-direita, como o Social-Democrata. O líder militar da Revolução dos Cravos, Otelo Saraiva, com apoio de grupos de esquerda, teve 16% dos votos.
Portugal iniciava a longa trajetória democrática da qual não saiu mais.
Lisboa
Depois de Angola, voltei para Paris e aí Portugal pegou fogo. A Europa inteira se interessava por essa revolução, todas as esquerdas foram para lá ajudar a portuguesa; e todas as direitas foram para lá lutar contra o comunismo, porque era inadmissível haver um país no sul da Europa ligado à União Soviética. Naquele momento, a Rússia já tinha tomado Angola, porque a independência ia ser em 11 de novembro de 1975, mas o MPLA já mandava. Eu ficava entre Lisboa e Luanda, tinha boa relação com o Exército de Portugal e pegava carona nos voos que iam abastecer as tropas que ainda estavam em Angola.
Em Lisboa, tinha manifestação todos os dias. Um dia me pediram para cobrir um comício à noite, havia uma encomenda da Newsweek, e corri numa loja para comprar um flash. Achei um Metz, alemão, que todos os profissionais usavam. Comprei, mas não sabia usar. Umas fotos davam certo, outras davam errado, mas o resultado final foi que uma delas deu a capa da Newsweek. Além da Newsweek, publiquei na Paris Match, Stern, London Sunday Times, trabalhava para esses jornais todos. Passei a ser o grande fotógrafo da Gamma. Até o momento em que senti que queria fazer uma coisa de mais profundidade e passei para a Magnum, em 1979, e ali passei quinze anos.
Fui aprendendo a técnica assim, na marra, enquanto ficamos vivendo aquele processo em Portugal. Um dia, a Lelia e eu quase caímos para trás de ver uma das primeiras coisas que o Juliano falou: ele estava sentadinho no ombro da Lelia e eu estava fotografando uma manifestação. Todo mundo cantava assim: “Venceremos, venceremos, com as armas que temos na mão. Venceremos, venceremos, a batalha da terra e do pão”. E o Juliano ficava com a mãozinha levantada, o punho fechado e dizia: “Venceremos”…
Especial 50 anos da Revolução dos Cravos
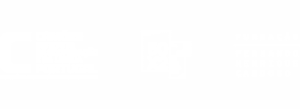
Especial 50 anos da Revolução dos Cravos realizado com o apoio do Camões Instituto da Cooperação e da Língua e da Fundação Fernando Henrique Cardoso
Matéria publicada na edição impressa #80 em abril de 2024.
Porque você leu 50 anos da Revolução dos Cravos | Memória
Sebastião Salgado depois daquele instante decisivo
Em capítulo de livro inédito, o jornalista Leão Serva examina os conceitos que nortearam o trabalho do fotógrafo, morto em maio
JUNHO, 2025








