50 anos da Revolução dos Cravos, Entrevista,
O correspondente acidental
Ruy Castro morava em Lisboa quando foi surpreendido com a revolução que derrubou a ditadura mais longeva da Europa: ‘Tive a sorte de estar lá’
01abr2024 • Atualizado em: 01ago2024O jornalista e escritor Ruy Castro, 76, assistiu desde o primeiro momento à surpreendente Revolução dos Cravos. Tão surpreendente que, na noite de 24 de abril de 1974, ao passar em frente à sede da Pide, a polícia política do regime salazarista, ele se resignou pensando que ela continuaria oprimindo a sociedade por muitas décadas. No dia seguinte, acordou com as rádios tocando marchas militares e a cidade ocupada por tanques e coberta por um tsunami de cravos vermelhos representando a alegria da população diante da manchete: “Caiu a ditadura”.
Por uma desses acasos da sorte, que beneficiam os bons goleiros e repórteres, Ruy morava em Portugal havia pouco mais de um ano quando os jovens oficiais decidiram derrubar a ditadura mais longeva da Europa.
Dividido entre a finalização de um livro de crônicas (O ouvidor do Brasil), que trata o compositor Tom Jobim como uma espécie de ombudsman da alma brasileira, e a pesquisa para mais uma de suas obras de fôlego, sobre a Segunda Guerra Mundial no Rio, Ruy falou à Quatro Cinco Um sobre um episódio fundamental de sua trajetória, apagado pelo tempo na memória dos leitores.
Como você foi parar em Portugal no 25 de abril de 1974?
Eu era um jornalista brasileiro que já morava em Portugal antes do 25 de abril de 74. Aliás, era o único brasileiro presente lá, com pouquíssimos correspondentes estrangeiros, porque aparentemente não acontecia muita coisa em Lisboa. Tive a sorte de já estar lá.
Mais Lidas
O que você fazia?
Fui contratado em janeiro de 73 para ser o editor executivo da edição brasileira do Seleções Reader’s Digest. A revista era feita em Portugal, desde 1969, por jornalistas brasileiros, e os exemplares eram mandados para o Brasil de navio. Deixei a função de redator da Manchete, no Rio, e fui. Era um trabalho muito bom, eu fazia o serviço em quinze dias e tinha tempo de sobra para andar a pé por Lisboa, como gosto de fazer. Quando aconteceu o 25 de Abril, as Seleções jamais poderiam tratar desse assunto, por ser uma revista mensal feita com enorme antecedência, e as coisas começaram a se precipitar em Lisboa, todo dia ocorria algo importante.
‘Propus à Manchete mandar reportagens sobre a revolução em Portugal, mas sem assinar’
Além disso, por ser uma revista estrangeira, no caso norte-americana e brasileira, eu não podia escrever nada que botasse em risco a permanência da Seleções em Lisboa. Tinha deixado amigos na Manchete, então propus mandar reportagens sobre a revolução em Portugal, mas sem assinar. As matérias eram creditadas “Da sucursal de Lisboa”, que não existia. Na primeira Manchete sobre a revolução, depois do 25 de Abril, a matéria principal era minha; e passei a mandar textos todas as semanas. Até que, depois de um ano, o Adolpho Bloch [dono da Manchete] descobriu que a revolução estava fazendo mal aos negócios dele em Portugal e obrigou a revista a tomar uma postura absolutamente contra o Movimento das Forças Armadas (MFA). Aí, naturalmente, parei de escrever.
Naquele ano de 1973, em que você viveu lá, era visível que a ditadura estava para cair?
Não, absolutamente. Eu fui para lá em janeiro de 73, entre outros motivos, porque a situação no Brasil era muito sufocante. A gente vivia sob o general Médici, a pior época da ditadura, com muita perseguição, morte, tortura e censura. Não era uma época agradável para viver no Brasil. Eu sabia que estava indo para uma ditadura igual à nossa, só que com mais de quarenta anos. Mas pensei: “Isso não é meu país, a ditadura em Portugal não me afeta em nada, vou ganhar dinheiro e poder viajar”. Chegando lá, rapidamente vi como era viver sob uma ditadura mais fechada do que a do Brasil.
Uma das últimas matérias que eu fiz na Manchete antes de embarcar para Lisboa foi sobre O último tango em Paris, que tinha acabado de estrear na Europa e era proibido em vários países. Fizemos uma matéria de capa com o Marlon Brando e a Maria Schneider pelados e doze páginas contando tudo sobre o filme, para o leitor que não ia poder ver. Pois bem, na minha primeira semana em Lisboa, comentei com alguém a respeito de O último tango em Paris e a pessoa não sabia da existência do filme.
A censura era muito eficiente…
É. Aqui tínhamos o cinema censurado, mas podíamos escrever sobre o filme e dizer que o leitor não ia vê-lo. Lá não se podia nem dizer que o filme existia. Você imagina o grau de fechamento dessa censura. Agora multiplica isso por quarenta anos… Comecei a sentir esse sufoco na primeira semana. Disse à minha mulher: “Acho que foi um erro ter vindo, estou me sentindo enterrado vivo nesse lugar”. Mas, no fim de 1973, começaram rumores de insurreições entre os militares portugueses, de que o general Spínola, que tinha acabado de voltar da África, ia fazer uma oposição ao governo do Marcelo Caetano, que alguma coisa podia estar acontecendo.
No dia 10 de março, ocorreu uma tentativa de golpe por militares partindo de um lugar chamado Caldas da Rainha. Eles iam marchar para Lisboa, mas foram barrados na estrada e o golpe foi abortado. Foram todos presos. Eu pensei: agora que não vai ter mais nada. Eles estão já há 48 anos nessa ditadura e vai durar mais 48 anos. Aconteceu até uma coisa engraçada: na véspera do 25 de Abril, eu passei por acaso na porta da Pide, a polícia política, e comentei com a minha mulher: “Esse troço vai ficar aí mais 48 anos”.
Fomos para casa dormir e, às seis horas da manhã, me ligou uma amiga brasileira: “Ruy, liga o rádio imediatamente. Aconteceu alguma coisa, só está tocando marcha militar”. Liguei o rádio e só tinha marcha militar realmente. Sem saber o que estava acontecendo, tomei café da manhã e saí para trabalhar às 8 horas. Na rua não tinha táxis. Fui andando e, de repente, um tanque passou por mim. Cheguei ao escritório, estava fechado. Fui para a praça Marquês de Pombal e tinha uma aglomeração de gente, todos sabiam que estava ocorrendo um golpe de estado, mas não sabiam de onde vinha: podia ser um golpe de esquerda, democrata ou de extrema direita, para arrochar mais ainda.
Nas primeiras horas o Movimento das Forças Armadas não disse a que vinha?
Não. A partir lá das 9 ou 10 horas, as emissoras de rádio anunciaram o que eles estavam fazendo: tinham ocupado essa repartição, tomado o ministério disso ou daquilo e marchavam em direção à Pide. O presidente Américo Tomás e o primeiro-ministro Marcelo Caetano estavam refugiados no Palácio de São Bento. Então, eu sabia que era para derrubar a ditadura.
‘No meio daquela multidão alguém me espetou um cravo vermelho na lapela, e logo todos tinham cravos’
No meio daquela multidão na Marquês de Pombal alguém me espetou um cravo vermelho na lapela, e logo todo mundo tinha cravos vermelhos. Dali a pouco, foi distribuído de graça na praça o jornal República, de um velho jornalista chamado Raul Rego, que era muito perseguido e censurado, já com a manchete “Caiu a ditadura”. Em todos os jornais havia um quadradinho obrigatório que dizia que a edição fora visada pela censura. E o República colocou: “Este jornal não foi visado pela censura”.
De súbito houve um clima de apreensão ou carnavalesco?
Não, nada soturno; house só festa, alegria. Antes não se via jovens na rua. Eu tinha 26 anos e não via ninguém da minha idade. Os únicos jovens nas ruas de Lisboa eram rapazes fardados com uma perna ou um braço a menos, retornados da guerra. De repente, já no dia 25 de abril, apareceu uma quantidade enorme de jovens.
Foi uma revolução, um movimento armado, de soldados, capitães, majores, com tanques na rua. Você imagina aquelas ruas estreitas de Lisboa, com tanques enormes passando, e as pessoas jogando flores para os soldados, botando flor na boca do fuzil, no canhão. Um movimento sem nenhuma reação do poder. Exceto quando se deu a tomada da sede da Pide, que resistiu a tiros e houve uma única morte. O único sangue derramado foi na tomada da sede da polícia política.
Não houve oposição?
Houve uma série de exageros, como ocupação de casas de milionários, muita gente levou o dinheiro todo embora. Dizia-se que, depois do MFA (Movimento das Forças Armadas) havia o MFB, o “movimento de fuga para o Brasil”. Muita gente veio para o Rio. O Marcelo Caetano e o Américo Tomás vieram exilados para cá. Ali começou uma má vontade contra o Brasil.
Enquanto isso, os grandes líderes políticos que estavam no exílio voltavam. Logo de início, os dois principais, o Mário Soares, socialista, e o Álvaro Cunhal, comunista, que estavam no exílio. Logo que teve o 25 de Abril, o Mário Soares pegou um trem em direção a Lisboa. Só que chegou à fronteira e teve que esperar abrir. Então, uma quantidade enorme de socialistas foi lá para recebê-lo e entrar triunfalmente em Portugal, o que só aconteceu no dia 28. Com a chegada deles, o Partido Socialista e o Partido Comunista, já na legalidade e com milhares de adeptos, começam as articulações para o 1º de Maio, que até então era proibido em Portugal. O 1º de Maio foi ainda mais extraordinário do que o 25 de Abril, porque já era festa total. Jornalistas de todo o mundo foram para lá.
Você é muito atento à música: quais marcaram a revolução?
As marchas militares que tocavam o dia inteiro se tornaram a trilha sonora da revolução. Mas, já nos primeiros dias, botavam letras nessas músicas, coisas como “o povo é que mais ordena, o povo é quem mais trabalha”. Entre as canções populares, a mais famosa foi “Grândola, Vila Morena”, considerada a senha da revolução. Os insurgentes sabiam que, à meia-noite do dia 24 de abril, a rádio ia tocar a música chamada “E depois do adeus”, cantada por Paulo de Carvalho, que era um cantor popular, o Roberto Carlos português. E assim que terminasse, se entrasse “Grândola, Vila Morena”, era para pegar as armas e sair em direção a Lisboa. Era uma canção de um compositor e cantor chamado José Afonso, uma espécie de Chico Buarque local.
Você continuou em Lisboa até quando?
Passei todo o ano de 1974 e uma parte de 1975. Havia um processo de radicalização permanente. Quando os jovens militares tomaram o poder no 25 de Abril, entregaram esse poder aos almirantes, brigadeiros e generais, oficiais mais graduados liderados pelo general Spínola, que deveriam botar o país em ordem. Mas aí começaram a ver que eles iam restaurar o status quo. Em setembro, eles foram derrubados e entrou o Vasco Gonçalves, um coronel ligado ao Partido Comunista. Então, começou certa radicalização.
‘O governo proibiu a remessa de dinheiro para o exterior. Desembarquei no Galeão totalmente duro’
Em setembro de 1975, pedi demissão, peguei minha mulher, minhas duas filhas e voltei para o Rio, achando que ia ter economias. Eu ganhava bem, não gastava muito, então eu tinha um bom dinheiro guardado. Fui ao banco em Portugal e disse: “Como vou transferir esse dinheiro para o Brasil?”. E o gerente respondeu: “Não se preocupe, faço a transferência na segunda-feira; na terça-feira você vai à sede do banco e o seu dinheiro vai estar depositado na mesma conta”. Tomei o avião e, enquanto isso, o governo do Vasco Gonçalves proibiu a remessa de dinheiro para o exterior. Desembarquei no Galeão totalmente duro. Fui para a casa de uma tia, pensando que logo resolveria o problema, mas só consegui receber o dinheiro três anos depois.
A revolução em Portugal te deu inspiração para algum livro?
Não. Eu estava lá, fui testemunha e tudo que eu tinha que escrever a respeito já escrevi. Mas teve uma coisa muito boa que aconteceu lá e teve uma repercussão na minha vida profissional. Como a revista Seleções era muito fácil de fazer e em quinze dias eu estava liberado, passava o dia no centro de Lisboa ou ficava na redação lendo. Nessa época, eu estava interessado no humor norte-americano e anotava todas as frases interessantes que lia, sem saber se um dia faria algo com isso. E depois eu escrevi O melhor do mau humor, título dado pelo editor Luiz Schwarcz (Companhia das Letras). Foi feito todo com as frases que eu recolhi lá em Portugal. Ou seja: todo aquele ócio de Lisboa foi fundamental para o começo da minha vida em livros.
E quando você voltou a Portugal?
Em 1984, voltei pela primeira vez, e senti que era um país muito melhor do que aquele que havia conhecido. Tinha se tornado outro lugar, com liberdade total. Depois, passei mais algum tempo sem retornar e, quando voltei, foi exatamente no dia que em se completavam os 25 anos do 25 de Abril, em 1999. Nesse tempo já não se falava mais na revolução. Era algo que fazia parte da história, tinha uma geração inteira nascida lá que nunca tinha conhecido a ditadura. Mas os veteranos resolveram sair à rua para comemorar a data e fizeram uma passeata na avenida da Liberdade, à qual eu me juntei. Era uma meia dúzia de veteranos do 25 de Abril de 1974 desfilando, e ninguém dava muita bola para isso.
Especial 50 anos da Revolução dos Cravos
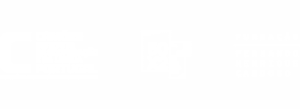
Especial 50 anos da Revolução dos Cravos realizado com o apoio do Camões Instituto da Cooperação e da Língua e da Fundação Fernando Henrique Cardoso
Porque você leu 50 anos da Revolução dos Cravos | Entrevista
O tecer das histórias
Primeiro livro juvenil de Eva Furnari traça um épico mágico sobre a busca pelas próprias origens e o amadurecimento
MARÇO, 2025







