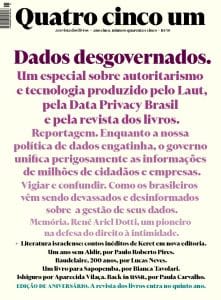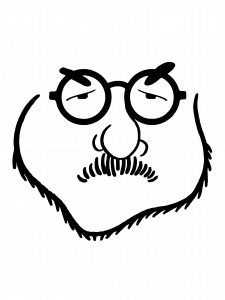Crítica Cultural,
Uma vacina republicana
Na fila da vacina, entre as vítimas da chacina e da pandemia, delírios de que a pátria pudesse ser outra
13maio2021 | Edição #45“Eu achava que isso aqui fosse uma escola”, admira-se a jovem senhora ao descobrir casualmente que ali, no prédio em que estava prestes a entrar, matara-se Getúlio Vargas. Trazia com ela um amigo muito jovem para documentar o momento de receber a primeira dose. Coisa fina, domínio Pfizer, o terroir mais bem pontuado pelo sommelier de vacina, novo e estúpido personagem de nosso tempo.
Noutras eras, o Palácio do Catete não passaria despercebido. Mesmo antes de sediar o governo, o chamado Palácio Nova Friburgo despertava um frisson no banqueiro Santos, que ao vislumbrá-lo esquecia o conforto de Botafogo. A casa confortável em que vivia, pensava, “não estava tão exposta como aqui no Catete, passagem obrigada de toda a gente, que olharia para as grandes janelas, as grandes portas, as grandes águias no alto, de asas abertas”.
Em delírio de grandeza, o pai de Pedro e Paulo, os gêmeos protagonistas de Esaú e Jacó, não poderia “prever os altos destinos que o palácio viria a ter na República”. Mas, afinal, lembra o próprio Machado de Assis, “quem prevê coisa alguma?” Evita-se assim, caro leitor, uma digressão, ainda hoje tão comum, sobre o que há de surpreendente no imprevisível. Não, ninguém poderia prever a Covid-19 porque não nos foi dado o dom da clarividência.
Coisa fina, domínio Pfizer, o terroir mais bem pontuado pelo sommelier de vacina, novo e estúpido personagem de nosso tempo
Graças à combinação de idade discretamente provecta e incontestável comorbidade intelectual — os 27 anos insistindo em dar aulas de jornalismo — coube-me uma primeira e prioritária dose de vacina no Museu da República. O horário e dia aprazados, manhã do 6 de maio, só confirmou a certeza machadiana: ninguém prevê coisa alguma.
Em hora e meia na fila, passei bom tempo em torno da estação Catete do metrô. A dez paradas dali, em Triagem, linha 2, dois passageiros foram baleados na operação policial do Jacarezinho, eufemismo para a chacina mais sangrenta já perpetrada numa favela carioca pelos chamados agentes da ordem. Nas redes sociais, o número de mortos subia rumo aos 28 finalmente computados. Entre pios e fios, emergia a pusilanimidade do ministro da Saúde diante da CPI da pandemia.
Mais Lidas
“Filho de militante, já viu né?”, falava, em altos brados, uma mulher negra, esguia, dreads longos e esbranquiçados, um pouco à minha frente na fila. Lembrava da preocupação com um casal de filhos, com a lesbofobia contra a menina, com os colegas de academia do menino — segundo ela, brucutus preconceituosos. “O racismo no Brasil é o crime perfeito”, dizia. “E esses bolsominions também são culpados”. Olhares constrangidos traíam o que alguns ali tinham feito na primavera de 2018.
Outro país
Dos portões de ferro para dentro do Museu, o país era outro. Funcionários educados orientavam a fila. Grupos eram instalados em cadeiras pelo jardim para a conferência de documentos. Muita paciência com os mais velhos, já na segunda dose. Firmeza e gentileza ao barrar potenciais fura-filas.
No caminho entre o cadastro e a agulha, atravessava-se o suntuoso Salão Ministerial do palácio. A atmosfera um tanto soturna e a mesa gigante, que acomodava o presidente e o comando do país, alimenta a perfeita fantasia de um ambiente impregnado por graves decisões. Numa das paredes está A pátria, impressionante quadro de Pedro Bruno que retrata mulheres e crianças bordando uma imensa bandeira brasileira, a que há pouco nos foi sequestrada pelos fascistas.
Quando da derrubada da monarquia, lembra José Murilo de Carvalho, os revoltosos tinham propósito mas faltavam-lhes símbolos. Sem hino próprio, quebravam o galho com a Marselhesa; descartada a bandeira do Império, precisavam de um emblema dos novos tempos. Depois de considerar vários desenhos, expressões mais ou menos ortodoxas de valores do positivismo, chegou-se à forma que conhecemos, tida como afinada com a orientação de Benjamin Constant — o acervo do museu guarda inclusive uma bandeira bordada por suas filhas, inspiração para a tela de 1919, realizada com o regime já consolidado.
No Brasil viável do SUS, entre as vítimas da chacina e da pandemia, apesar dos que ignoram a História e com o entusiasmo dos que dela se apossam, especulo que A Pátria pudesse ser outra
No quadro de Bruno, observa o historiador em A formação das almas — O imaginário da República no Brasil, não aparece o “ordem e progresso”. “O artista, usando o truque de apresentar uma bandeira incompleta”, escreve ele, “exclui a divisa, embora registre a faixa branca.” A estratégia, que contemporiza um longo debate sobre a inscrição, dá margem para imaginar um pavilhão ainda a ser terminado, que pode ser reformado.
No Brasil viável do SUS, entre as vítimas da chacina e da pandemia, apesar dos que ignoram a História e com o entusiasmo dos que dela se apossam, especulo que A Pátria pudesse ser outra, redesenhada por um Maxwell Alexandre ou um No Martins. No lugar das mulheres brancas e bebês loirinhos, aqueles que são alvos do poder genocida. Em vez de “ordem e progresso”, a divisa do Brasil real, expressão da maioria dos brasileiros, criada por Leandro Vieira em 2019 para a Mangueira. Nela lê-se: “índios, negros e pobres”.
Matéria publicada na edição impressa #45 em maio de 2021.
Porque você leu Crítica Cultural
Elogio da sombra
Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil
JUNHO, 2025