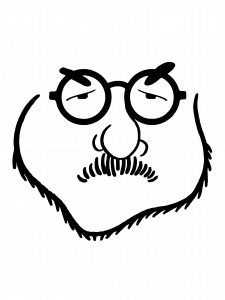Crítica Cultural,
Sob os olhos de Joan
Mergulho nos anos 1960, 'Rastejando até Belém' lembra que jornalismo é profissão de adultos, em que sentimentalismo não deveria ter lugar
24dez2020 | Edição #41 jan.2021Ela era linda. Linda e enigmática. Nos retratos mais conhecidos, interpela a câmera como se fosse uma intrusa. Muitas vezes, escondia-se sob enormes óculos escuros. Parecia apartada do mundo, lugar estranho sobre o qual se debruçava com um misto de interesse e tédio. Nos anos 1960, a poker face de Joan Didion traduzia a época que retratou e a forma como o fez, numa ficção que tinha muito de jornalismo, num jornalismo com jeito de ensaio. Naquele momento de escassas certezas, elegeu a ambiguidade como medida para dar conta de ideias e valores que se desmanchavam entre uma e outra afirmação categórica, entre uma canção do The Doors e um ponto de LSD.
Em maio de 1968, quando Paris se tornou campo de batalha de uma revolução de grandes efeitos e causas pouco definidas, as livrarias americanas recebiam os primeiros exemplares de Rastejando até Belém. Joan Didion deixaria de ser uma romancista obscura para tornar-se jornalista célebre, com direito ao passe para o Clube do Bolinha do new journalism. Seu feito não era pequeno ao flagrar, com a nitidez possível, as difusas reivindicações de liberdade que alimentavam o convulso espírito do tempo. Tudo então era política e a luta se dava em todas as latitudes, em todos os fronts: explodir a família, implodir o capitalismo, expandir a sexualidade, desconstruir a percepção. A utopia era vibrante e palpável e, se não acabou de vez com o mundo dos caretas, mudou-o para sempre.
Didion era, em tese, uma careta. Havia gerações sua família assentara-se em Sacramento, contingência geográfica que ao longo do tempo fundamentou todo um sistema de valores e referências. Ter nascido e crescido numa Califórnia distante dos clichês ensolarados, “mais severa, assombrada pelo Mojave do outro lado das montanhas”, definia para ela o jeito de ver o mundo e de estar nele. “A Califórnia é um lugar onde a mentalidade do boom e um sentimento de perda tchekhoviano se reúnem, formando uma preocupante suspensão”, escreve ela em “Notas de uma nativa”, um dos ensaios do livro. “Uma suspensão em que a mente é perturbada por uma suspeita enterrada, porém indelével, de que as coisas deveriam funcionar melhor aqui porque aqui, sob o céu imenso e descolorido, é onde termina nosso continente.”
Do peso de Sacramento ela jamais se livraria — ou pareceria querer se livrar. Em 1953 mudou-se com seus fantasmas para Berkeley e, de lá, para Nova York, já empregada na Vogue. Vivia uma história surrada, a da jovem escritora que padecia no purgatório do jornalismo para alcançar as alturas da literatura. Nas folgas e nos fins de semana dedicou-se a Run River, romance autobiográfico que, lançado em 1963, passou despercebido. Já casada com John Gregory Dunne, ele também escritor e também torturado pelos deadlines, decidiu trocar Manhattan por um universo mais próximo às suas origens. E mudaram-se para Los Angeles.
Ganha-pão
Foi na cidade que, entre 1965 e 1967, Didion produziu os ensaios e reportagens que resultariam em Rastejando até Belém. É saudável lembrar que a prosaica necessidade de pagar as contas está na origem do livro e de sua relutante carreira de repórter. Por 12 mil dólares, um dinheirão para quem vivia na pindaíba, Didion assinou com a prestigiada Farrar, Strauss & Giroux. O contrato previa um romance e um livro de não ficção sobre a Califórnia lisérgica que, de alguma forma, financiaria a ficção. O romance, Play It as It Lays, só seria publicado em 1970. E o livro do ácido, sugeriu Henry Robbins, o editor, poderia ser uma ampliação da reportagem que foi capa da The Saturday Evening Post em setembro de 1967.
O título “O culto hippie” e, sobretudo, o subtítulo —“Quem são eles, o que querem, por que agem assim” — anunciam o que Didion não entrega completamente. O portrait de um jovem bigodudo, cara pintada, cartola ornada por uma flor, uma pena e um cartão em que se lê “LSD” é também mais comportado do que as outras fotos de Ted Streshinsky, imagens propositalmente superpostas e distorcidas para emular a percepção alterada. A revista não tinha o pedigree da Esquire, diário oficial de Tom Wolfe, Gay Talese e companhia, e Didion não parecia prezar a transgressão programática do novo jornalismo. Ou pelo menos o fazia disfarçadamente: “Da primeira vez que fui a San Francisco, naquele final da fria primavera de 1967, eu nem sequer sabia o que pretendia descobrir, então só passei um tempo por lá e fiz alguns amigos”.
Mais Lidas
Quem quiser que compre a despretensão. “O centro cede”, primeira e conhecida frase do texto, é citação literal de “A segunda vinda”, o cifrado poema de W. B. Yeats do qual também saiu o título, igualmente opaco. Nos versos do poeta irlandês, eivados de misticismo, quem “rasteja até Belém” é uma “besta bruta”, emblema de um tempo que se anuncia mais como danação do que como redenção. Permeáveis a todo tipo de interpretação e também resistentes a elas, as imagens de Yeats são perfeitas para descrever a cidade que se torna a meca de adolescentes fugidos de casa, bandas de rock alternativo, malucos profissionais, policiais desorientados. “San Francisco”, escreve ela, “era o lugar onde as hemorragias sociais estavam dando as caras.”
Tracy Daugherty garante em The Last Love Song, biografia publicada em 2015, que Didion não sabia mesmo o que fazer quando chegou a San Francisco. Essa deriva é o grande trunfo do relato de uma peregrinação entre comunidades alternativas, ensaios do Grateful Dead, conversas com psiquiatras, uma ida à polícia e a admirável proximidade de seus personagens. Didion não simula distanciamento mas tampouco julga as meninas e meninos com que convive. Tudo é permeado por uma nota melancólica, por uma certeza difusa de que tudo ali está próximo do fim e, para muita gente, não ia acabar bem.
Jornalismo pensante
Rastejando até Belém, a reportagem, ganhou o ponto-final premida pelo fechamento da revista. Didion estava esgotada e achava impossível trabalhar ainda mais para transformá-la em livro. Para cumprir o contrato, propôs reunir textos variados, dispersos pela imprensa. A seleção chegou a vinte perfis, reportagens e ensaios, admiráveis pela coerência, e divididos em três blocos — “Estilos de vida na terra do ouro”, “Pessoais” e “Sete lugares da mente”. É um jornalismo pensante que não reproduz epítetos, é rico em metáforas, variado em vocabulário e nunca cede à tentação de preferir o adjetivo ao substantivo. “Minha única vantagem como repórter”, afirma, “é que sou tão pequena fisicamente, meu temperamento é tão discreto e sou tão neuroticamente inarticulada que as pessoas tendem a esquecer que minha presença se opõe aos seus maiores interesses. E sempre se opõe.”
Convicta de que “os escritores estão sempre traindo alguém”, Didion nos lembra que perfil é escrutínio e não elogio. E que pontos de vista — e não necessariamente opiniões — devem ser claros, sem medo de ferir sensibilidades de entrevistados ou leitores. Ou seja, nos lembra que o jornalismo é uma profissão de adultos em que não deveria haver lugar para fofurices cafonas, compadrio ou puro exercício de crueldade.
No perfil de Joan Baez, o carisma da cantora e sua militância, que admira, não a impedem de reparar: “Incentivar Joan Baez a ser ‘política’, realmente, é apenas encorajar Joan Baez a continuar ‘sentindo’ as coisas, pois sua política segue sendo, como ela mesma disse, ‘totalmente vaga’”. Admitindo que “não estava interessada na revolução, mas no revolucionário”, Didion entrevista Michael Laski, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista dos Estados Unidos. E, ao declarar sua simpatia por ele, observa: “Aprecio os sistemas elaborados com que algumas pessoas conseguem preencher o vazio; aprecio todos os opiáceos que as pessoas usam, sejam eles de fácil acesso, como o álcool, a heroína e a promiscuidade, ou difíceis de encontrar, como a fé em Deus e na História”.
Essa escritora extraordinária completou 86 anos em dezembro. Nas fotografias, continua a impressionar, agora pela pele vincada, como se tivesse envelhecido séculos, e pela aparência fragilíssima. A tragédia pessoal de perder Dunne, companheiro por mais de quarenta anos, e Quintana, adotada pelo casal, motivaria um emocionado encontro com o grande público. O ano do pensamento mágico (2005), que narra o luto pelo marido e foi marcado, em seu lançamento, pela morte da filha, tornou-se um best-seller e levou o National Book Award de Não Ficção. Depois de Blue Nights, sobre a morte de Quintana, Didion tem publicado inéditos e dispersos — South and West, de 2017, compila anotações de seus famosos cadernos e, este mês ainda, a Knopf lança Let Me Tell You What I Mean, que reúne parte de sua produção inicial ainda inédita em livro.
A consagração não a transformaria numa ‘personalidade’, a vítima desafortunada do que os outros viam nela, escreviam sobre ela
Pelos caminhos mais improváveis, Didion é hoje um patrimônio nacional. Em 2013 recebeu de Barack Obama a National Humanities Medal e, desde 2019, tem sua obra publicada na Library of America, coleção que é o panteão da grande literatura americana. Convencida pelo sobrinho, o ator Griffin Dunne, deu longos depoimentos para o excelente documentário Joan Didion: The Center Will Not Hold (Netflix). Ano passado, a coletânea Slouching Towards Los Angeles arregimentou 25 autores baseados na cidade que, como indica o subtítulo, vivem e escrevem sob inspiração de Joan Didion.
A consagração, no entanto, não a transformaria numa “personalidade”, que ela tão bem definiu como “a vítima desafortunada do que os outros viam nela, escreviam sobre ela”. Na melhor cena do documentário, entre gestos largos e lentos, Didion não hesita ao revelar o que pensou quando, em Rastejando até Belém, encontra uma menina de cinco anos que usa lsd, dado pela mãe. “Era ouro. Quando está escrevendo uma matéria, você vive para momentos como esse, sejam eles bons ou ruins”, diz ela, que não dedicou uma vida inteira à escrita para expressar os bons sentimentos. De frágil, Joan Didion só tem a aparência.
Matéria publicada na edição impressa #41 jan.2021 em dezembro de 2020.
Porque você leu Crítica Cultural
Elogio da sombra
Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil
JUNHO, 2025