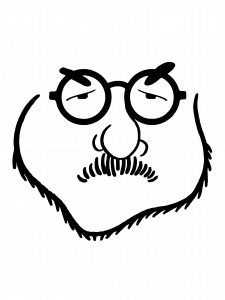Crítica Cultural,
Opiniões fortes
Shakespeare é superestimado, Umberto Eco um farsante e Joan Didion péssima repórter. Calma, são só opiniões
21fev2024 | Edição #79Uma
No tempo em que Shakespeare escreveu, quase todos os europeus estavam ocupados com a agricultura e poucas pessoas frequentavam a universidade; pouquíssimas, aliás, eram alfabetizadas — provavelmente umas dez milhões de pessoas. Em contraste, hoje há mais de um bilhão de pessoas alfabetizadas no mundo ocidental. Quais são as chances de que o maior escritor de todos os tempos tenha nascido em 1564? As probabilidades bayesianas não são muito favoráveis.
Quem defende a tese de que Shakespeare só virou Shakespeare por falta de concorrência é Sam Bankman-Fried. Sim, ele mesmo, o “Michael Jordan das criptomoedas”, nerd que, aos 31 anos, espera no xilindró a sentença da condenação por fraude nos tribunais dos eua. Esta coluna já citou gente melhor, você pode argumentar, talvez com razão. Mas só reproduzo essa inusitada tese aqui depois que David Runciman (o nível já melhorou, viram?) a tomou como ponto de partida para um raciocínio ainda mais provocador e complexo num dos episódios dedicados ao ensaio em Past Present Future, o podcast da London Review of Books que apresenta.
“Parece improvável que o inventor de uma forma continue a ser a melhor do que qualquer outra que veio depois”, concede Runciman, meio a contragosto, comparando Shakespeare a seu contemporâneo Montaigne, também ele um pioneiro que é tido como mestre indisputável do gênero que criou, o ensaio.
Quando você os lê, tem a sensação de que estão representando a condição humana, de que todas as coisas passam por eles. Se você está tentando ser dramaturgo no século 21, e acho que isso também vale para o romance, é completamente improvável ser aquele que representa a condição humana, pois milhares de outras pessoas estão fazendo a mesma coisa. Só se pode ser Shakespeare num momento em que se está mais ou menos cercado pelo silêncio — quando, portanto, essa ambição de tentar representar tudo na escrita não parece ridícula.
Mais Lidas
Se a ideia de um Shakespeare do século 21 é risível, um Montaigne contemporâneo não soa assim tão bizarro ao autor de Como a democracia chega ao fim e Confrontando o Leviatã (Todavia). Na mesma medida em que uma peça ou um romance tentam emular uma “cacofonia de vozes” que de alguma forma represente o mundo — ou partes dele —, o ensaio busca apenas um ponto de vista, que pode ser tão singular hoje quanto o foram em seu tempo as digressões de Montaigne sobre livros, embriaguez ou amizade. O ensaio, compara Runciman, “é um único ser humano seguindo uma linha de pensamento, não necessariamente longa, de A a B. É uma mudança de perspectiva na perspectiva de uma pessoa, que abre um mundo”.
Duas
Com Umberto Eco, as donas de casa de todo o mundo compreenderam que não correm nenhum perigo. O homem é medievalista, semiólogo, professor, versado em lógica, em informática e em filologia. Esse armamento pesado, a serviço do ‘verdadeiro’, poderia assustá-las, coisa que Eco, como um mercenário que muda de lado no meio da batalha, soube evitar graças a seu instinto de conservação, colocando-o a serviço do ‘falso’.
Assim provoca o escritor argentino Juan José Saer referindo-se a O nome da rosa, o romance que marca, em 1980, o início da carreira do crítico italiano como um best-seller planetário. “O conceito de ficção”, este o título do ensaio de Saer, foi publicado, em 1991, na Punto de Vista, revista que, entre 1978 e 2008, foi tribuna de acirrados debates sobre literatura e política na Argentina.
Se a ideia de um Shakespeare do século 21 é risível, um Montaigne contemporâneo não soa assim tão bizarro
Saer, que se radicou na França, em 1968, e lá morreu em 2005, aos 67 anos, não mirava especificamente em Eco. “O conceito de ficção”, texto que mais tarde batizaria o volume reunindo sua produção crítica (publicado, em 2022, pela 7Letras), é uma intricada discussão conceitual sobre as relações entre criação literária e os domínios da verdade e do falso. Mas não se furta, para nutrir seu argumento, em apontar ainda “outra falsificação notória” de Eco, que se empenharia especialmente em sublinhar “o gosto de Proust pelos folhetins”. A informação biográfica, “sem nenhum valor teórico ou literário, tão intranscendente, desse ponto de vista, quanto o fato universalmente conhecido de que Proust gostava de madeleines” serviria a Eco para enobrecer de alguma forma a literatura comercial que fazia.
A manobra, observa o autor de Ninguém nada nunca e O enteado, ombrearia o escritor italiano a “candidatos duvidosos que, para ganhar uma eleição local, simulam ter o apoio do presidente da República”. Sem perder a mão firme da análise literária, Saer não deixa dúvidas de que está se divertindo (cito sempre em tradução de Luís Eduardo Wexell Machado):
Meu objetivo não é fazer um julgamento moral e muito menos condenar, mas, ainda na mais selvagem economia de mercado, o cliente tem o direito de saber o que está comprando. Inclusive a lei, tão distraída em muitas ocasiões, é intratável no que se refere à composição do produto.
Três
“Sempre me perguntei se foi ou não foi feita uma checagem de fatos no ensaio de Joan Didion publicado pela primeira vez na capa da The Saturday Evening Post com o título ‘A geração hippie: rastejando até Belém’”, observa a narradora de The Vulnerables, romance mais recente de Sigrid Nunez, ainda inédito no Brasil. “Estou pensando especialmente na cena perto do final, quando, na sala de uma casa de Haight-Ashbury, Didion é apresentada a uma criança de cinco anos que estaria sob efeito de ácido.”
Assim como em O amigo (Instante), romance que venceu o National Book Award, em 2018, The Vulnerables envolve um animal e uma forte disposição ensaística — sem correlação, acho, de uma coisa com outra. No livro premiado, a narradora tem de se haver com um dogue alemão, herança de um amigo que se suicida. Neste, os “vulneráveis” a que se refere o título são a narradora e um millennial insuportável, que vivem a pandemia confinados num luxuoso apartamento de Manhattan, revezando-se para tomar conta de um papagaio ali abandonado pelos donos.
A cena a que se refere a narradora é das mais célebres na célebre reportagem que Didion faz na São Francisco do “verão do amor”, como ficou conhecida a explosão riponga de 1967. A descrição de Susan, a pequena doidona, virou uma espécie de assinatura do proverbial distanciamento com que a autora de O álbum branco lidava com situações extremas. Nunez, ou seu personagem, nunca comprou a história: segundo ela, Didion, como boa careta que de fato era, teria sido trolada por Otto, seu “contato” no alucinado e então admirável mundo novo das comunidades hippies.
“Aquela geração era famosa por tirar sarro das pessoas — especialmente de gente do establishment, e ainda por cima de gente do establishment que estava escrevendo sobre eles”, diz Nunez, que iguala a repórter à classe média preconceituosa.
A conversa de que os hippies davam lsd aos filhos era uma daquelas histórias assustadoras que circulavam, como a do grupo que tomou ácido e ficou encarando o sol até todos ficarem cegos. Não era muito diferente dos vários mitos sobre doces envenenados de Halloween que se repetem todo ano.
Quatro
Shakespeare é superestimado, Umberto Eco foi um farsante e Joan Didion, péssima repórter. Opiniões fortes, sem dúvida, que podem ser aceitas, reelaboradas ou sumariamente descartadas. O que importa, para ficarmos com David Runciman, é a existência de mais uma possibilidade dentre as que dispomos, mais uma visão de mundo, uma perspectiva pessoal que abre novas perspectivas. Opinião forte não é ofensa, não é crime. A história do ensaísmo é, afinal, a reencarnação sequencial do espírito de porco, e jamais uma sucessão de proclamas do espírito de corpo — este encarnado por professores inflados de autoimportância, intelectuais puristas, jornalistas moderados com fins lucrativos e outros grupos que vivem de certezas compartilhadas.
Não sei vocês, mas desenvolvi uma espécie de masoquismo crítico. Sinto certo prazer quando alguém destrói, com verve e talento, é claro, um autor que estimo. Há tempos, James Wood (com quem não simpatizo, tampouco comungo visões da literatura) demoliu Paul Auster (de quem já gostei mais) numa resenha em que chegava a imitar, na New Yorker, o estilo do autor de A trilogia de Nova York. Continuo, é claro, a ler Auster com imenso prazer, mas Wood, admito, relutante, deu uma tisnada naquela superfície outrora reluzente.
A ‘opinião forte’ não conhece seus melhores dias entre nós. A cada vez que abrimos mão dela, entregamos um pouco mais os pontos
Por mais estridente que pareça, a provocação é gesto sutil, não se confunde com a truculência da lacração. Provocadores até querem botar fogo no parquinho, mas lacradores querem ocupar o play e decidir quem pode ou não brincar. Provocadores nasceram para perder, lacradores vivem de ganhar, mesmo quando a vitória é discutível. Correndo por fora, os camelôs da moderação não querem uma coisa nem outra, muito pelo contrário: o que importa a eles é garantir empregos e favores, acumular influência e pequenos poderes.
A “opinião forte”, como é fácil constatar, não conhece seus melhores dias entre nós. A cada vez que abdicamos dela, isso é certo, somos mais bem recebidos, garantimos espaço em publicações, aumentamos a probabilidade de prêmios, bolsas, convites. E a cada vez que abrimos mão dela, entregamos um pouco mais os pontos. Mas o Deus do ensaísmo, que acabei de inventar, está de olho: Ele ara certo por caminhos tortos.
Matéria publicada na edição impressa #79 em março de 2024.
Porque você leu Crítica Cultural
Elogio da sombra
Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil
JUNHO, 2025