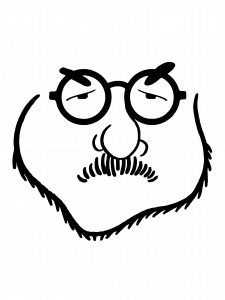Crítica Cultural,
Morre um bar
O Villarino se foi em 2020; o meu bar, esse que se foi, me deu muito, me deu tanto que jamais conseguirei retribuir
10dez2020Bares e amigos são escolhas. Quando digo “meu bar”, não reivindico sobre ele posse ou exclusividade. “Meu bar” é como “meu amigo”, é aquele com quem divido bons e maus momentos. É aquele que escolhi e que retribuiu minha escolha. Amores de bar e de amigo, só os correspondidos.
Bares, como os amigos, morrem – não sei se por sorte ou falta dela, muitas vezes antes de nós. Tornar a vida possível é, dentre outras coisas, não imaginar esse fim. É fazer da convivência uma aposta no impossível, jamais duvidar que os amigos, como os bares, sempre estarão por ali. Viver numa eternidade de botequim.
O Villarino se foi em 2020. Nos obituários, copiosos, era o bar “onde Lúcio Rangel apresentou Vinicius ao Tom” – e onde, em 2006, bebeu-se copiosamente numa festa que comemorou os 50 anos desse encontro. Era a uisqueria, essa categoria em desaparição, que num sábado, dia morto no centro do Rio, abriu suas portas para uma reunião de família, muitíssimo comportada, lembrando os 60 anos de sua fundação.
Frequentei-o quase diariamente entre 2000 e 2002. Trabalhava em frente e não deixava de bater ponto. Ainda que assombrado por fantasmas camaradas, assediado pelos parasitas da memória carioca, o Villarino não vivia de passado.
Mais Lidas
Dominado pelo painel fotográfico que imortalizava uma mesa boemia mitológica – nela estão Vinicius, Lúcio, Paulo Mendes Campos, Fernando Lobo, José Condé e Sérgio Porto –, o salão é forrado por fotografias de frequentadores do dia a dia. Na ideia de elegância do Villarino não cabe a cafonice de uma “galeria da fama”: suas paredes são um gigantesco porta-retratos lembrando os que lhe são próximos.
Os melhores bares são sóbrios, deixam a embriaguez por nossa conta. Por isso o Villarino passou ao largo de uma certa “cultura de botequim” com suas melancólicas eleições do “melhor tira-gosto”, gincanas em busca do chope perfeito e safáris de observação da vida nos subúrbios e seus pé-sujos.
As mesas do Villarino, felizmente, não nasceram para gourmets. Têm o tamanho suficiente para copos, baldinho de gelo, duas ou três garrafas e, no máximo, dois pratos pequenos. Num deles, pão. Noutro, queijo e presunto cru fatiados, meio a meio. Em dias menos frugais, comandava-se, direto da mercearia, que o Villarino também nunca deixou de ser, um vidro de azeitonas verdes recheadas com anchova.
Foi na parede do Villarino que vi em Pedro de Moraes, filho de Vinicius e única criança na famosa foto, o menino que um dia fui. Publiquei, no finado “No Mínimo”, uma coluna que só me deu alegria. Muita, mas muita gente escreveu para dizer que também foi “criança de botequim”, título que dei para aqueles que, sem saber, aprenderam muito da vida entre pais e copos.
Quase vinte anos depois, ainda me pergunto se outras gerações, como as de meus enteados, entenderão o que se ganha sendo criança de botequim. Ou se o assunto só fará mesmo a alegria de seus analistas.
De minha parte, tive sorte. Foi o Villarino que ajudou a me entender melhor. O meu bar, esse que se foi, me deu muito. Me deu tanto que jamais conseguirei retribuir, nem mesmo aqui, dedicando essa coluna à Stella, que comanda o negócio, e ao Ramos, que nunca deixou o gelo derreter.
P.S. – Acena-se com a possibilidade de, melhorando a crise, o Villarino reviver. Mesmo sem acreditar em reencarnação, fico por aqui torcendo. Mas por enquanto, neste mundo precário que aí está e é o que temos, o Villarino é só um buraco enorme na memória.
Porque você leu Crítica Cultural
Elogio da sombra
Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil
JUNHO, 2025