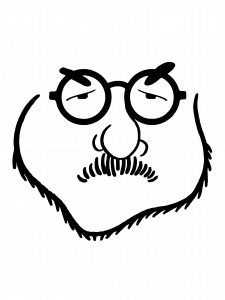Crítica Cultural,
Inútil paisagem
O que me faz reler “Morrer no Rio de Janeiro” é que a dúvida do poema atualiza-se a cada dia de isolamento
16abr2020Abril, garante a melhor poesia inglesa, é o mais cruel dos meses. No Rio de Janeiro, costuma ser glorioso. O calor insuportável já se foi, as chuvas também, e uma luz deslumbrante dá o contraste perfeito entre mar, montanha e mata, cercados de iniquidades por todos os lados – a exuberância da paisagem é inseparável da desigualdade rampante e perversa. Neste 2020, sofro de uma dissonância cognitiva até então inédita: o que vejo é Tom Jobim; o que ouço, T. S. Eliot. Na minha terra devastada particular, torrão daquela outra, global, tristeza não tem fim.
O que está no ar e não se consegue representar é o medo, o que se evita falar é da morte. Um e outra porejam da imagem, publicada pelo New York Times, da Place de la Concorde, em Paris, completamente deserta. A esplanada que separa em perfeita simetria o Jardim das Tulherias do Champs Elyées é, em geral, um fuzuê. No dia 18 de março, quatro motoristas aguardavam, em inútil disciplina, a luz verde de um semáforo sob o título “O grande vazio”.
Esta Paris deserta, fantasmagórica, já aparecera, intrigante, nas imagens de Eugène Atget. “Esses lugares não são solitários, e sim privados de toda a atmosfera”, escreveu Walter Benjamin sobre os flagrantes mais conhecidos do fotógrafo francês. “Nessas imagens, a cidade foi esvaziada, como uma casa que ainda não encontrou moradores”. Benjamin especula ainda, na “Pequena história da fotografia”, que nos flagrantes de Atget subsiste uma suspeita, também ela irrepresentável, ligada à morte. “Não é por acaso que as fotos de Atget foram comparadas ao local de um crime. Mas existe em nossas cidades um só recanto que não seja o local de um crime?”
Do noticiário e do Twitter Venezia Pulita vem o registro de uma Sereníssima fiel como nunca a seu epíteto. Livre das hordas de turistas, ela é hoje cortada por canais cristalinos, frequentados por peixes e famílias de patos. A justiça poética da natureza não dissipa, no entanto, as espessas brumas da indesejada das gentes, que falou mais alto a Goethe, Shelley, Wagner e, é claro, Thomas Mann. “Esses curiosos meios de transporte, que não sofreram nenhuma modificação desde que nos foram legados por uma era romanesca”, observa o narrador de Morte em Veneza sobre as gôndolas, “esses barcos tão caracteristicamente negros como são, entre todos os objetos do mundo, apenas os caixões – eles provocam em nós a associação a aventuras clandestinas e perversas nas águas noturnas, e ainda mais à própria morte, a féretros, a sombrios enterros, ao silêncio da última viagem”.
Mais Lidas
Na cidade em que vivo hoje soa a voz do Ferreira Gullar de “Morrer no Rio de Janeiro”. Lembro perfeitamente quando, assombrado, passei os olhos pela primeira vez no poema, publicado em 1998 como “inédito” no volume dos Cadernos de Literatura Brasileira do IMS dedicado a ele.
“Se for março quando o verão esmerila a grossa luz
nas montanhas do Rio
teu coração estará funcionando normalmente
entre tantas outras coisas que pulsam na manhã
ainda que possam enguiçar.”
A elegia a pequenos prazeres – “as brisas cheirando a maresia” – prepara a primeira estocada:
“Pode ser que de golpe
ao abrires a janela para a esplêndida manhã
te invada o temor:
‘Um dia não mais estarei presente à festa da vida.’”
E a paisagem carioca, musa mimada por gerações de bons e maus poetas, cenário de romancistas hábeis e canhestros, personagem de cronistas líricos e constrangedores, ganha a pitada de finitude que lhe cabe:
“A morte se aproxima e não o sentes
nem pressentes
não tens ouvido para o lento rumor que avança escuro
com as nuvens
sobre o morro Dois Irmãos
e dança nas ondas
derrama-se nas areias do Arpoador.”
E, mais adiante, detalha a ameaça, atemporal:
“sem que o suspeites a morte
desafina no cantarolar da vizinha na janela.”
O que me faz ler e reler “Morrer no Rio de Janeiro” é que a dúvida do poema, metafísica, atualiza-se a cada semana, a cada dia de isolamento, pontuada por números que vão ganhando cara, nome e começam a ocupar lugares em nossa memória, em nossas relações, em nossos afetos. Premido pelo noticiário, o devaneio tangencia as estatísticas e o convite à vida de Gullar ganha sombras de ameaça:
“Teu coração,
esse mínimo pulsar dentro da Via Láctea,
em meio a tempestades solares,
quando se deterá?
Não o sabes porque a natureza ama se ocultar.”
Não há, no entanto, porque escolher entre a beleza, promessa de eternidade, e o fim, o ponto final. O recado está lá, estava lá desde sempre, escondido e tão evidente quanto a carta roubada, na contracapa de Urubu, o álbum que Jobim gravou em Nova York em 1975. O texto, que ele assina simplesmente como “Antonio”, nos lembra:
“Nos vetustos paredões de pedra, esculpidos pela millennia, dorme de perfil um urubu.
A vida era por um momento.
Não era dada. Era emprestada.
Tudo é testamento.”
Porque você leu Crítica Cultural
Elogio da sombra
Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil
JUNHO, 2025