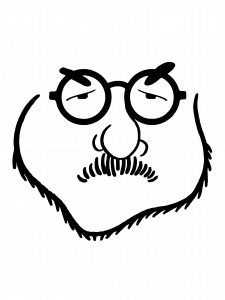Crítica Cultural,
Corpo a corpo com a vida
Com ‘Malagueta, Perus e Bacanaço’, publicado há sessenta anos, João Antônio iniciava um projeto literário radical, hoje relegado a injusto segundo plano
26jan2023 | Edição #66Deve ter sido lá por 1994, 1995. Mesa de bar gigante, daquelas em que se fala muito e se conversa pouco. Por um acaso (mentira, eu forcei a barra) me tocou sentar diante da única pessoa que me interessava: João Antônio. O lugar, logo percebi, não era disputado. Pouca gente, aliás, reparou nele ou mesmo ligava o nome, ainda popular entre jornalistas, ao sujeito de sobrancelhas espessas, mal barbeado, camisa aberta no peito, fumando muito.
Na época, escritor ainda me despertava admiração quase incondicional, era para mim uma espécie de herói discreto. Li Malagueta, Perus e Bacanaço adolescente, na escola. Não me apaixonei, acho, porque não entendi muito a graça das andanças de jogadores de sinuca pela madrugada de uma São Paulo que não conseguia sequer imaginar. Ficou, no entanto, a cisma.
Mais tarde, não só voltei ao livro como passei a comprar tudo o que encontrava de João Antônio em expedições semanais pelos sebos do Centro do Rio de Janeiro, cidade que ele adotaria e que retrataria magistralmente de um jeito que sempre me interessou, a partir de suas margens. A oferta de seus livros era generosa, dado o esquecimento a que ele tinha sido relegado — àquela altura como hoje. Essas edições, principalmente as da Civilização Brasileira, resistem nas minhas estantes, primas pobres das versões elegantes publicadas pela Cosac Naify a partir de 2001.
“Quantos anos você tem?”, perguntou ele, a quem eu tinha sido apresentado por um amigo em comum, responsável, aliás, por sua presença inusitada naquela comemoração em Vila Isabel. “27 (ou 28, não lembro).”
Mais Lidas
“E o que você faz mesmo?”, ele tentava entender qual seria exatamente minha relação com literatura, mencionada por nosso amigo.
“Trabalho no Globo. No Segundo Caderno.”
“Mas que merda, hein?”
Eu até teria ficado constrangido se o autor de Casa de loucos tivesse permitido um silêncio, breve que fosse. Começou ali uma longa, que naquele tempo me pareceu longuíssima, peroração sobre os males do jornalismo. Não o incomodava o jornal em que eu trabalhava e tampouco a editoria. Para ele, o jornalismo de então, assim como a literatura, era medíocre, superficial, afetado, meramente mercantil. Mais do que nunca, jornalismo era, para quem prezava a escrita, sinônimo de destruição da criatividade e do talento.
Pensando bem, não é à toa que alguém chega a um título como Abraçado ao meu rancor. Num texto que ficou inédito até 2012, ele comenta sua escolha para o último livro importante que lançou, em 1986: “o título, ardido como um tangaço”.
*
Pouco mais de um ano antes, eu começara a dar aulas de jornalismo. Numa manhã, João Antônio foi falar na Escola de Comunicação da UFRJ a convite de Muniz Sodré — que anos antes, como professor, recomendara a leitura do contista. Os alunos, assim como eu, estavam um tanto perplexos. Professor novo, ainda atrapalhado, às vezes eu citava uma crônica-reportagem de João Antônio como exemplo de expressividade na descrição de um lugar — não consigo achar agora, na pilha de livros que baixei da estante, essa citação de um amanhecer do boêmio em Copacabana. E ali estávamos nós, professores e alunos, diante do Autor, que se parecia menos com as fantasias que se poderia ter sobre a imagem de um escritor do que com os sujeitos comuns que frequentam as páginas de livros como Dedo-duro ou Leão de chácara. João Antônio era imbatível na arte de ocultar sua sofisticação literária e intelectual.
Ainda que afável, era um poço de ressentimento. Um copo até aqui de mágoa como o fora Afonso Henriques de Lima Barreto, que assim ele definiu na dedicatória de Ô, Copacabana!: “nunca bastante lembrado, pioneiro, captador de bandalheiras e denunciador desconcertante”.
Quis lembrar essa história, dizer a ele o quanto tinha me impressionado aquele encontro, como tinha me levado mais seriamente para a leitura de Lima Barreto. Não consegui, intimidado e fascinado pela falação — de que me ficou o sentido geral mas não, é claro, os detalhes.
*
Teria tentado um outro atalho para uma conversa possível se, naquele momento, tivesse ligado a João Antônio uma reportagem que meu pai me dera e por muito tempo mantive como um tesouro. As páginas xerocadas, presas por um clipe e guardadas num envelope pardo, eram uma espécie de prova incontestável da importância de seu avô materno, meu bisavô, para o Rio de Janeiro — cidade que ele, meu pai, me ensinou a amar desde sempre.
“A agonia das gafieiras” foi publicada na Realidade em março de 1969. João Antônio tinha 32 anos e já era uma estrela na literatura — em 1963, Malagueta lhe valeu um inédito Jabuti duplo, nas categorias Conto e Autor revelação. Seu olhar e estilo combinavam à perfeição com o jornalismo de talho literário publicado pela revista.
A um dado momento da reportagem, ele expõe a explicação histórica, pouco ortodoxa, para a origem dos tradicionais salões de dança cariocas — naquela época agonizantes, hoje extintos: “A maioria dos cronistas de costumes atribui a criação da palavra a Romeu Arêde, que cuidava, sob o pseudônimo de Picareta, do noticiário recreativo e carnavalesco do extinto vespertino Vanguarda e, depois, do Jornal do Brasil”, escreve. A etimologia explicaria a junção de gafe, uma mancada afrancesada, e cabroeira, “baile de cabras, gente rude”.
A João Antônio eu devia, portanto, a primeira confirmação, fora das profusas anedotas de família, de que o bisavô Romeu, ou melhor, o Picareta, tinha de fato existido. E, conforme todos juravam, tinha seu lugar na História. Mas essa é outra história.
*
Naquele encontro com João Antônio, a rua dos Artistas, onde estávamos, ainda não tinha entrado para minha geografia literária e sentimental. Eu já admirava Aldir Blanc, mas só iria conhecê-lo um pouco depois, numa entrevista para o lançamento de Vila Isabel, inventário da infância. Foi, portanto, falando do livrinho memorialístico que evoca aquelas calçadas, onde viviam seus avós, que se deu um daqueles encontros que redefinem atitudes e caminhos a serem tomados. Na conversa do botequim eu não lembrava ou não sabia que o disco Tiro de misericórdia, que João Bosco lançou em 1977, trazia duas canções da dupla inspiradas em João Antônio. Ofuscadas pelo megassucesso de “Bijuterias”, tema da novela O Astro, e “Falso brilhante”, “Jogador” e “Tabelas” foram compostas para O jogo da vida, adaptação de Malagueta, Perus e Bacanaço dirigida por Maurice Capovilla. No filme, do mesmo ano do disco, além das gravações na voz de João Bosco, há belíssimas variações nos arranjos de Radamés Gnattali, em seu último trabalho para o cinema.
Ainda que Malagueta seja São Paulo na veia e o mundo de Aldir esteja ancorado no Rio de Janeiro, os dois são vizinhos no vasto território do rebotalho da noite e da vida, dos deserdados de toda ordem. Para seus personagens, seus próximos, o ditado é implacável: azar no jogo, azar no amor. Diz a letra de “Tabelas”:
A partida está fechada,
A aposta deu em nada
E o que fazer desse cansaço?
Carregar nossa cruz feito o menino Perus,
Cair na sarjeta que nem Malagueta
Ou virar bagaço igual Bacanaço?
Achei a tal descrição de Copacabana. É a abertura da reportagem-crônica “Galeria Alaska”, em Malhação do Judas carioca, hoje esgotado:
Copa, Copacabana dorme.
Parada, vazia, clara, a Avenida Nossa Senhora de Copacabana parece mais larga, escura, suja. De longe em longe, um e outro carro, ainda aceso na madrugada, rola no asfalto e corta, firme, para os lados de Ipanema. Aproveita a hora, corre mais. Os pneus cantam nos sinais, nas esquinas.
Copacabana dorme de todo.
*
Em 2023 Malagueta, Perus e Bacanaço completa sessenta anos. João Antônio sabia muito bem que não é trivial, para qualquer autor, amealhar em pouco tempo uma fortuna crítica reunindo Antonio Candido, Alfredo Bosi, Jorge Amado, Paulo Rónai. Preferia, no entanto, atribuir a perenidade de seus contos menos ao cânone literário do que ao lugar que construiu para si: “O elemento que mais me leva a acreditar em Malagueta, Perus e Bacanaço como coisa viva”, escreveu ele em 1975, “se arruma exatamente no fato de que vi meus jogadores de sinuca, viradores, vadios, vagabundos, merdunchos do ponto de vista deles mesmos. E não do escritor”.
Nesse ensaio, “Corpo a corpo com a vida”, publicado como posfácio a Malhação do Judas carioca, conclui: “Malagueta, Perus e Bacanaço é, talvez, mais sinuca do que literatura”.
*
Sinuca e literatura tinham convivência explícita no apartamento em que Aldir Blanc vivia na Muda, umbigo da Tijuca Profunda. Por muito tempo, a ampla sala, repleta de estantes, foi dominada por uma mesa de bilhar profissional. Comprou-a por amor ao jogo e, dizia, para provocar o pai — seu Alceu, o Ceceu Rico das crônicas de Rua dos Artistas e arredores e Porta de tinturaria, que detestava ver o filho, ainda estudante de medicina, frequentando salões de bilhar. Enquanto trabalhava num romance policial jamais concluído, Aldir cobriu o pano verde com pilhas de livros de alturas variáveis, organizadas por autor — de contos ou romances policiais que, dizia, consultava para escrever. Como chegou a consultar, por um breve momento, tipos suspeitíssimos que lhe davam aulas sobre armas e procedimentos pouco ortodoxos de acabar com os inimigos.
*
João Antônio via a literatura como resultado de um rinha diária com as arestas da realidade, prescindindo de modelos narrativos ou da distinção de gêneros. “Aqui estou eu com a máquina, com minha catimba, com a minha afetada má-vontade”, desafiava. E elevava ao máximo o sarrafo do que pretendia ao escrever:
Literatura de dentro para fora. Isso é pouco. Realismo crítico. É pouco. Romance-reportagem-depoimento. Ainda pouco. Pode ser tudo isso trançado, misturado, dosado, conluiado, argamassado uma coisa da outra. E será bom. Perto da mosca. A mosca — é quase certo — está no corpo-a-corpo com a vida.
*
João Antônio morreu no inicio de outubro de 1996. Vivia só, numa cobertura na praça Serzedelo Corrêa, coração da Copacabana que tanto lhe serviu de cenário. Seu corpo foi encontrado pela polícia mais de quinze dias depois — amigos foram dando falta de seus contatos, os vizinhos acusaram um forte cheiro exalado do andar em que morava. De seu enterro, soube o pouco que me relatou aquele amigo que nos apresentara em Vila Isabel, um dos poucos presentes. Lembro que, ao ter a notícia, me bateu uma tristeza funda e de certa forma inexplicável — não éramos amigos ou mesmo conhecidos.
Anos depois, João Antônio me fazia companhia num quarto de hotel em São Paulo com o volume Contos reunidos. Era um daqueles momentos decisivos da vida, momento também marcado por outro de seus livros, este ganhado de presente, Dama do Encantado — lançado em 1996, foi o último que o escritor viu publicado.
Pensando bem, só agora me dou conta, João Antônio sempre esteve presente. Escrever sobre ele nessa “data redonda” de Malagueta é, mais do que o vício da efeméride, um exercício de gratidão. E a única providência prática que se pode tomar para eternizar um autor: provocar sua leitura — áspera e bem-humorada, terna e ranzinza no vai e vem que define o tal corpo a corpo com a vida.
Nota do editor: a mais recente edição de Malagueta, Perus e Bacanaço foi publicada pela editora 34.
Matéria publicada na edição impressa #66 em fevereiro de 2023.
Porque você leu Crítica Cultural
Elogio da sombra
Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil
JUNHO, 2025